http://revistaforum.com.br/
Resenha de “A esquerda que não teme dizer seu nome”, de Vladimir Safatle
09/10/2012 | Publicado por Idelber Avelar em Sem categoria
Vladimir Safatle publicou um livro essencial para a esquerda brasileira, tanto no que afirma como no que deixa de afirmar: A esquerda que não teme dizer seu nome (São Paulo: Três Estrelas, 2012) é um libelo curto, de 85 páginas, em defesa do legado da esquerda e centrado em duas ideias básicas, que Safatle define como inegociáveis: a soberania popular e o igualitarismo. O maior mérito do livro é insistir que a esquerda não se acomode aos limites do possível e não se renda à mediocridade do realismo dos pequenos resultados. Uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome deve, segundo Safatle, “falar com clareza que sua agenda consiste em superar a democracia parlamentar pela pulverização de mecanismos de poder de participação popular” (51). Esta é uma postura clássica da esquerda, de Marx a Lênin, de Gramsci a Althusser, e que é cada vez mais esquecida hoje, inclusive – e talvez especialmente – por aqueles que falam em nome de um ideário de esquerda. No Brasil, vivemos um período de cada vez mais descompasso entre, por um lado, as referências mobilizadas por certa esquerda, pertencentes a uma tradição revolucionária clássica e, por outro lado, a prática cotidiana dessa mesma esquerda, dedicada a justificar alianças eleitorais com a direita ou com o fisiologismo, legitimar projetos de remoções higienistas de pobres, celebrar a austeridade fiscal e defender projetos que nitidamente exacerbam o caráter monopolista do capitalismo brasileiro, como, por exemplo, a farra barrageira das empreiteiras na Amazônia. Só por falar claramente em superação da democracia parlamentar pela pulverização dos mecanismos de poder popular, o livro de Safatle já seria uma intervenção mais que bem-vinda no debate político brasileiro.
Mas os seus méritos não terminam aí e incluem a referência a um par conceitual cuja descontinuidade é ainda pouco pensada dentro da esquerda: Direito e Justiça. Para isso, Safatle se ancora em Jacques Derrida, para quem a Justiça jamais se reduz ao Direito, já que este tem uma existência positiva e é, portanto, desconstrutível, sendo a Justiça, ao contrário, um horizonte que nunca é redutível a um estado de coisas realmente existente, que jamais é sinônimo de um qualquer ordenamento jurídico ou um conjunto de leis. Se “nenhum ordenamento jurídico pode falar em nome do povo” (47), então impõe-se, para a esquerda que não tema dizer seu nome, outra relação com o conceito de legalidade. Eis aqui o momento de maior coragem do livro de Safatle: a defesa do direito popular à resistência, inclusive à resistência violenta, contra o poder. Na realidade, como mostra bem o autor, o direito ao exercício da soberania popular para além do Estado de Direito é parte constitutiva da tradição liberal, pelo menos desde John Locke. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789, segunda versão em 1793) estabelece que “todo indivíduo que usurpe a soberania seja assassinado imediatamente pelos homens livres” e que “a resistência à opressão é consequência dos outros direitos do homem”. As constituições francesa, alemã e de vários estados dos EUA contêm cláusulas semelhantes. O direito popular à rebelião violenta contra a opressão não é, portanto, uma exclusividade do pensamento de esquerda, nem muito menos uma ideia extremista, mas um princípio solidamente estabelecido na tradição liberal. É um grande mérito do livro insistir nesse direito numa época em que ele não é defendido sequer em comarcas que se autointitulam de esquerda e num país em que ainda se iguala, por um lado, a violência sistemática, arbitrária de um poder militar que usurpou o Estado e instalou uma ditadura de torturadores e, por outro, os atos de resistência, violentos ou não, daqueles que se sublevavam contra a tirania. A equação entre essas duas coisas é uma das práticas mais obscenas e características da desmemória brasileira, e a insistência de Safatle no direito popular à rebelião é um bom antídoto contra ela.
A soberania popular, incluindo o direito à rebelião violenta contra a opressão, divide espaço no livro com outro princípio, defendido por Safatle, a meu modo de ver, de forma bem mais problemática. Trata-se do princípio do igualitarismo, sem dúvida parte essencial de qualquer programa de esquerda que não tema dizer seu nome, mas que Safatle desmembra em duas metades bem diferentes: por um lado, a luta contra a desigualdade social e econômica, um ideário clássico da esquerda e, por outro, a ideia, bem mais discutível, de que a esquerda deve ser “indiferente às diferenças” no caso das “demandas de reconhecimento”. Na defesa da primeira ideia, Safatle manda um recado claro a certa esquerda brasileira que já se acomodou: “a esquerda deve saber encarnar a urgência daqueles que sentem mais claramente o sofrimento social advindo da precariedade do trabalho, da pauperização e das múltiplas formas de exclusão. Mas é difícil encarnar tal urgência quando se começa a viver em apartamentos de 6,5 milhões de reais” (16). Qualquer semelhança com certas figuras da esquerda partidária e sindical brasileira dos últimos anos não é mera coincidência.
Se nos ativermos ao que o termo igualitarismo sempre significou na tradição do pensamento de esquerda, pelo menos explicitamente, encontraremos essa primeira metade do raciocínio de Safatle, a luta por um mundo em que a apropriação da riqueza produzida não seja benefício de uns poucos. Safatle oferece números contundentes: o PIB dos EUA cresceu 36% entre 1973 e 1995, enquanto o salário-hora dos não executivos, no mesmo período, caiu 14%. Nos países em que as políticas neoliberais se aplicaram sem freios nas últimas décadas, como os EUA, o aumento da desigualdade foi abissal. Aqui, não há ambiguidade quanto ao papel da esquerda: inventar e construir um mundo em que sejam abolidas absurdas disparidades como a existente no Brasil, onde a diferença entre o maior e o menor salário de um banco chega a cem vezes. Até aqui, ninguém que se defina como esquerda – esquerda mesmo – poderia discordar de Safatle.
Na outra compreensão do termo “igualitarismo”, começam os problemas que, a meu ver, são graves no contexto brasileiro de hoje. Safatle dá um salto do igualitarismo como ideal de combate às desigualdades na distribuição de renda para “constatar o esgotamento da diferença como valor maior para a ação política” (27). O capítulo intitulado “Igualdade e a equação da indiferença” é um libelo contra o que Safatle vê como a “transformação da tolerância à diversidade cultural … no problema político fundamental”, o que teria, segundo ele, “provocado uma secundarização de questões marxistas tradicionais vinculadas à centralidade de processos de redistribuição e de conflito de classes na determinação da ação política” (28). Na verdade, Safatle só explicita o que vários pensadores de esquerda não têm tido como assumir nas últimas décadas: a recusa (ou incapacidade, formule-se como se queira) a pensar as diferenças étnicas, sexuais, de gênero e de orientação sexual como parte constitutiva de uma política de esquerda. Safatle chega ao ponto de criticar “aqueles que não veem relação alguma entre fortalecimento dos comunitarismos, retorno da ala mais reacionária do catolicismo e política multicultural das diferenças” (33), como se essa relação fosse óbvia ou estivesse demonstrada no livro. Segundo Safatle, esses três elementos seriam parte de uma mesma “procura pela reconstituição social de vínculos identitários”, na qual o perigo seria a “veleidade comunitarista ou a entificação da diferença” (34). Para o autor, as políticas ancoradas no reconhecimento das diferenças étnicas, nacionais, de gênero e sexuais “procuram atomizar a sociedade por meio de uma lógica estanque […] que funciona, basicamente, no plano cultural e ignora os planos político e econômico” (35). Eis aqui a repetição de outro lugar comum que a esquerda tem sido incapaz de repensar: a estranha ideia de que a luta em torno a direitos indígenas ou quilombolas, por exemplo, é “cultural” e a luta de esquerda clássica, centrada nas classes sociais, é “política”.
Circulam, nesse argumento, uma série de termos que, em seu sentido às vezes equívoco, dão uma dimensão do problema: “atomizar”, “veleidade comunitarista”, “entificação da diferença”, “cultural e não econômico” são alguns dos eixos do argumento do universalismo esquerdista. Por mais que o sentido dos termos seja confuso, como veremos, o argumento parece claro: no fundo, que essa história de colocar lutas afro-brasileiras, indígenas, feministas e anti-homofóbicas no mesmo plano das lutas tradicionais da esquerda, ancoradas na classe operária, só pode levar à “lógica estanque” da “atomização”. Aqui, é curioso notar que Safatle associe às questões identitárias com a ideia de “reconstituição”. Para populações como as indígenas brasileiras, nada poderia estar mais distante do que está em jogo do que a ideia de “reconstituição” de um vínculo identitário perdido. O próprio uso do termo “reconstituição” já é revelador de como a esquerda brasileira tem pensado as populações indígenas, sempre no registro do passado, como se as identidades fossem algo a se recuperar ou resgatar, e como se indígenas ou quilombolas não fossem protagonistas presentes nas lutas políticas brasileiras. A identificação, feita por Safatle, entre a “política cultural das diferenças” e o “fortalecimento dos comunitarismos” não se diferencia muito da retórica de comentaristas de direita como Demétrio Magnoli e Yvonne Maggie (sempre prontos a culpar os “particularismos” e os “racialistas” pela emergência dessa incômoda coisa chamada racismo, que não existia quando os “racialistas” negros estavam calados), por mais, claro, que Safatle seja um pensador muito mais sofisticado que qualquer um dos dois citados.
A prova dessa diferença na sofisticação é que Safatle antecipa essa objeção e insiste que “a crítica à sociedade multicultural aqui proposta nada tem a ver com o medo de que o cosmopolitismo e o relativismo cultural vão provocar uma erosão das bases de nossos valores ocidentais” (35). O medo descrito na oração subordinada é característico, como sabemos, da retórica da direita, especialmente, mas não só, na Europa. Mas aqui não custa introduzir uma dúvida: será? Será mesmo? A insistência, presente no livro de Safatle, na indispensabilidade do Estado não seria o mais ocidental dos valores? Será que o argumento de que as lutas “culturais” de indígenas, negros, mulheres e gays “atomiza” a luta verdadeiramente importante vem de matriz tão diferente assim do argumento de direita, de que esses “particularismos” são uma ameaça nefasta? Será que o receio da esquerda à la Safatle, de que a proliferação de diferenças solape o poder universalista do Estado realmente não tem nenhum parentesco com o receio da direita, de que a proliferação das diferenças solape “os valores ocidentais”? A pura e simples afirmação de que esse parentesco não existe não a torna verdadeira.
Segundo Safatle, “da esquerda espera-se um detalhamento minucioso dos processos governamentais que devem ser postos em prática para realizar suas propostas” (77). Mas impõe-se aqui a pergunta: como reconciliar isso com o postulado de que “o que devemos fazer é não recusar esses processos contingentes e inesperados que têm a força de romper o tempo” (75)? O que fazer quando a irrupção dos processos contingentes jogam por terra o “detalhamento minucioso” dos “processos governamentais”? Para usar um exemplo concreto e brasileiro: será que o governo de centro-esquerda, liderado por um partido supostamente de esquerda, está atento à enorme insatisfação que vai se gestando no interior dos movimentos populares, entre quilombolas, indígenas, gays, lésbicas, ribeirinhos, instâncias daquelas diferenças às quais, segundo Safatle, a esquerda deveria ser indiferente? Será que, quando e se essa insatisfação eclodir e “romper o tempo”, o “detalhamento minucioso dos processos governamentais” será capaz de contê-las ou representá-las? No caso que é mais provável, o negativo, que legitimidade restará a essa esquerda então?
Em A esquerda que não teme dizer seu nome, Safatle volta a repetir um conhecido mantra dessa corrente, a de que a filosofia da história de Hegel “não foi bem compreendida” (e que, aí já concluo eu, bastaria compreendê-la corretamente para que o problema se resolvesse). Pode ser que essa “má compreensão” seja um fato. Mas o que é fato cabal também é que a esquerda hegeliano-marxista brasileira jamais considerou com cuidado, ou refutou, argumentos como os do professor cubano radicado na Bahia, Carlos Moore que, em O marxismo e a questão racial, mostrou, com abundantes citações, como há um núcleo estruturalmente racista no interior do pensamento marxiano, visível nos elogios à escravidão como força modernizadora, nas muitas referências ao “atraso” de africanos, aborígenes, asiáticos e ameríndios, e nas justificativas à pilhagem e à carnificina fora da Europa como base para o desenvolvimento, para ficar em três exemplos óbvios.
Creio firmemente em ater-me ao texto que se discute e em não usar quaisquer menções às posições institucionais ou geográficas de seus autores como parte da argumentação. Mas aqui, não custa lembrar a filiação (intelectual, não é a pessoal que importa) de Safatle às correntes hegemônicas no pensamento de esquerda brasileiro do último século, a saber, as ciências humanas e sociais produzidas no estado de São Paulo, especialmente na USP. Safatle se instala na franja esquerda desse pensamento ao defender, de forma corajosa, os mecanismos do poder popular para além do Estado democrático de direito. Mas repete a endêmica incapacidade desse pensamento de refletir sobre as lutas das comunidades étnicas, raciais, de gênero e de orientação sexual a não ser como apêndices desimportantes à luta principal. A esquerda uspiana segue defendendo seu universalismo hegeliano-marxista sem considerar a hipótese de que ele seja menos universal do que parece.
Em outras palavras, e em bom português: a esquerda paulista precisa visitar o Xingu. A esquerda uspiana precisa considerar, a sério, a possibilidade de que as críticas a Hegel, Marx e Adorno não vêm somente de pessoas que “não entenderam” suas obras. A esquerda hegeliano-marxista tem que questionar esse estranho esquema de pensamento segundo o qual a luta de classes industrial é “política” e a luta dos quilombolas é “cultural”. Que a esquerda paulistana lute para desalojar a direita da prefeitura, mas que não se esqueça do que os seus aliados sul-matogrossenses fazem contra os Guarani Kaiowá (a estas alturas, quase todo mundo já descobriu, mas continua agindo como se não soubesse). Que a esquerda hegeliano-marxista repense o seu uso dos verbos “voltar”, “regressar”, “recuperar” e “restaurar” sempre que se trata da defesa das formas de vida indígenas. Ao contrário, o preço a pagar pode ser a crescente indistinção entre a esquerda que não teme dizer seu nome e a esquerda que não ousa dizer seu nome, curiosíssimo e revelador ato falho cometido por alguns perfis de esquerda na divulgação do ótimo livro de Safatle na internet.

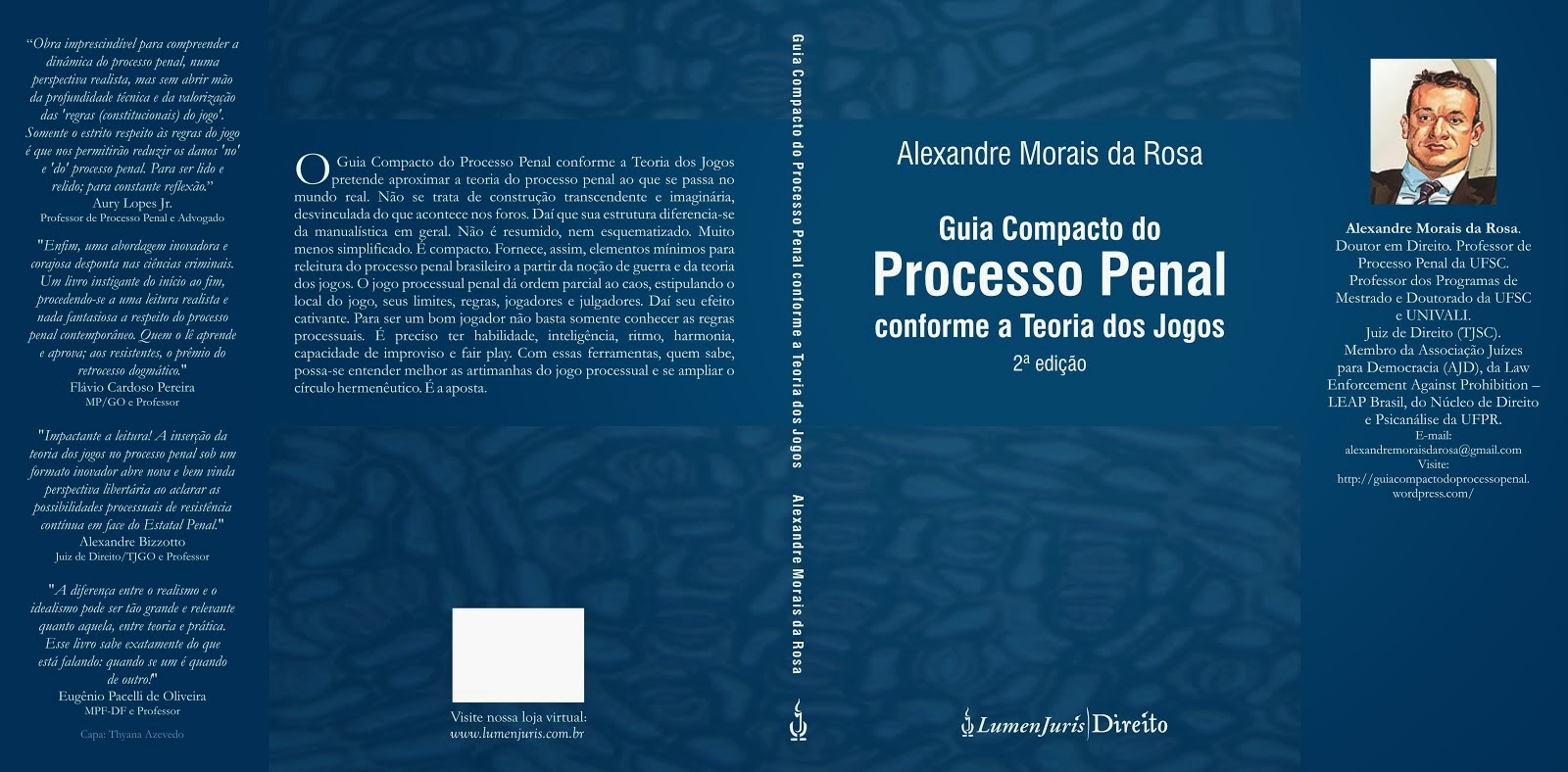

Nenhum comentário:
Postar um comentário