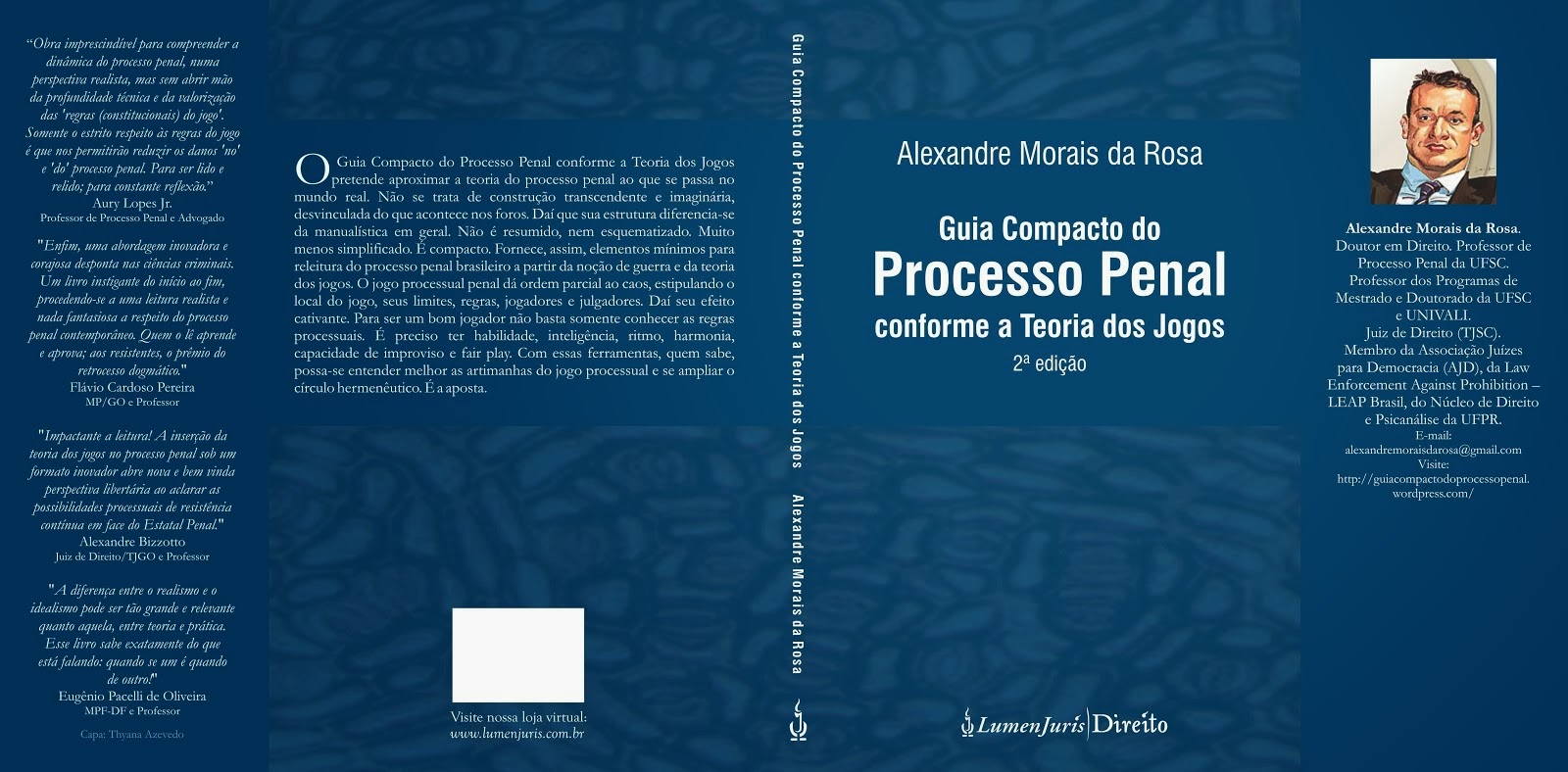|
Hay fenómenos sociales frente a los que los juristas guardan un increíble silencio. Tal parece que el derecho como orden rector de la convivencia no tuviera nada que decir ante los problemas de este mundo y se contentara con escarbar en los significados posibles o imposibles de tal o cual artículo del código civil.
Uno de esos fenómenos ante los que los juristas parecen haber claudicado es el de la guerra; el silencio ha sido la regla de actuación de muchos desde hace más de diez años, con ocasión de la primera guerra del Golfo, y luego en los numerosos conflictos armados que se han dado en los tiempos recientes (desde la intervención en la ex Yugoslavia hasta la reciente guerra de Irak). ¿Es que frente a la guerra el derecho no puede aportar nada?, ¿es que los juristas no somos capaces de procesar desde las coordenadas de nuestra disciplina científica eventos tan miserables? No faltarán los que digan que estudiar la guerra desde la óptica jurídica equivale a perder cualquier rastro de cientificidad, puesto que el análisis jurídico debe permanecer, como bien lo enseñó Kelsen, "puro" y limitarse al mundo de las normas jurídicas, sin hacer caso de otros fenómenos "extra-jurídicos".
Frente a este escenario de general claudicación, algunos han decidido utilizar las "razones del derecho" para denunciar la situación de locura bélica a la que nos ha empujado el gobierno de los Estados Unidos de América y que, más allá de cualquier consideración moral, es antes que nada una violación de normas jurídicas internacionales. Es el caso de Luigi Ferrajoli, cuyos escritos contra la guerra y en favor de un pacifismo militante han sido reunidos por Gerardo Pisarello en un volumen publicado por la prestigiosa Editorial Trotta.
El libro se divide en dos partes. En la primera se contienen las intervenciones de Ferrajoli con ocasión de las últimas cuatro grandes aventuras armadas de Estados Unidos de América: la primera guerra del Golfo, la intervención en los Balcanes (realizada por una fuerza militar que actuaba bajo la cobertura formal de la OTAN), la guerra en Afganistán y la segunda guerra del Golfo, culminada con la invasión a Irak. En la segunda parte se contienen varios ensayos en los que Ferrajoli propone una nueva institucionalidad internacional, que sea capaz de hacer frente a los retos de la globalización y que detenga de una vez por todas la locura y el sin sentido de la guerra, así como las expresiones de racismo y xenofobia de gran parte de las legislaciones sobre migración de los países de la Unión Europea.
Los ensayos de la primera parte del libro contienen varias preocupaciones que a Ferrajoli le interesa poner de manifiesto frente a la confusión que han generado los discursos oficialistas. La más obvia, señalada también por Pisarello en el prólogo, es la absoluta contradicción entre guerra y derecho. "La guerra -escribe Ferrajoli- es la negación del derecho y de los derechos, ante todo del derecho a la vida, así como el derecho, fuera del cual no es concebible ninguna tutela de los derechos, es la negación de la guerra" (p. 45). Sobre la inmoralidad de la guerra se ha escrito mucho, pero sobre la oposición radical entre guerra y derecho me parece que Ferrajoli ofrece la perspectiva más original, al menos hasta donde tengo información.
La guerra de agresión, explica Ferrajoli, estaría prohibida desde la promulgación de la Carta de las Naciones Unidas, que limita las intervenciones bélicas exteriores a las "guerras de defensa", las cuales pueden ser autorizadas por el Consejo de Seguridad cuando concurran determinadas circunstancias. Dicha carta, en su artículo 2.4, establece la prohibición de la "amenaza y uso de la fuerza" con el fin de atentar "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas"; esta prohibición es omnicomprensiva, de modo que a partir de ella podemos decir que cualquier utilización de la fuerza armada de un Estado para atacar a otro es ilícita. 1 El mismo artículo 2 de la carta impo- ne la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos, sin que se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Para que se surta la hipótesis de una guerra de defensa, prevista por el artículo 51 de la carta, se requiere de un ataque previo o inminente y la respuesta debe atender los principios de necesidad, inmediatez y proporcionalidad. 2 Es de puro sentido común: para que exista una guerra de defensa es necesario que se haya dado una agresión previa de la cual defenderse, o que se trate de una agresión inminente, basada en datos objetivos que acrediten suficientemente la realidad del peligro. Dicha agresión no puede consistir en los ataques terroristas perpetrados con aviones comerciales en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, ya que la información sobre sus autores remite a una banda terrorista internacional (Al-Qaeda), que opera en muchos países y cuyos líderes no son funcionarios públicos, gobernantes o militares de un Estado. Tampoco constituían un riesgo inminente las supuestas "armas de destrucción masiva" que según el gobierno de Estados Unidos de América almacenaba Sadam Hussein, pues tales armas no pudieron ser localizadas por los inspectores de la ONU, que son la fuente más fiable de información en esta materia.
No sobra recordar que la guerra está tipificada como delito en el Tratado de Roma que crea el Tribunal Penal Internacional, lo cual refuerza la idea de que la guerra está prohibida, y por tanto no puede ser bajo ninguna hipótesis una guerra lícita.
Otra preocupación que expresa Ferrajoli en la primera parte de su libro es la que tiene que ver con el "sentido común" sobre la guerra que se está formando en la opinión pública. Una parte importante de ciudadanos puede verse confundida al oír en los medios de comunicación justificaciones de la guerra (patrocinadas por los gobiernos y por las grandes empresas que obtienen jugosos contratos bélicos durante la guerra y de reconstrucción una vez que concluye), sin que las voces en contra se aseguren de ocupar también un espacio en la esfera pública de discusión. En este contexto, se podría estar asentando una especie de "justificacionismo" de acuerdo con el cual la guerra habría tomado carta de naturaleza como medio de solución de las controversias internacionales. Frente a esto, Ferrajoli denuncia como falsas las premisas que han justificado las intervenciones armadas de los últimos años y expone una batería de argumentos para demostrar su carácter anti-jurídico e inmoral.
Es falso que tales intervenciones se apoyen en el viejo concepto de "guerra justa" que durante siglos fue utilizado para valorar una intervención armada. Este concepto fue creado y bien o mal aplicado para guerras muy distintas a las que se libran en la actualidad. 3Las guerras actuales tienen efectos devastadores y aniquiladores sobre la población civil; las guerras antiguas limitaban sus efectos a los adversarios, pero nunca tuvieron la capacidad de aniquilar totalmente al enemigo, al que más bien había que doblar para que se rindiera. Las guerras antiguas se llevaban a cabo entre Estados o entre un Estado y un territorio, es decir, entre poderes formales y más o menos identificados. Actualmente, las guerras se celebran por un país o por una coalición de países en contra de "ejes del mal", de "grupos subversivos" o "redes terroristas" que nunca son plenamente identificados, ni en cuanto a su ubicación territorial ni en cuanto a sus integrantes (lo cual justificaría, según los defensores de la guerra, que se puedan tirar bombas por todo el territorio de Afganistán o que las detenciones de "terroristas" abarquen a simples "sospechosos", ubicados en razón de su apellido o por su presencia física, que son tratados como "no-personas" y despojados de todos sus derechos fundamentales). Más que de guerra justa, hoy en día, sostiene Ferrajoli, habría que entender que la guerra "es de por sí un mal absoluto" (p. 31).
Es falso, en segundo lugar, que las guerras puedan ser "humanitarias" o "éticas". 4 Ferrajoli subraya que "la idea de que el bien pueda alcanzarse con cualquier medio, incluso al precio de enormes sufrimientos y sacrificios (sobre todo, de los otros), representa el rasgo característico del fanatismo" (p. 42). Como apunta Gerardo Pisarello:
Si algo han dejado claro las intervenciones militares de la última década ha sido su incapacidad para cumplir con los fines 'éticos' y 'humanitarios' que en teoría pretendían asumir. Y todo ello por varias razones. En primer lugar, porque han violado de manera abierta tanto el principio hipocrático que obliga a minimizar el daño como el principio hobbesiano que prohíbe sancionar al inocente, causando innumerables víctimas entre la población civil y forzando desplazamientos y migraciones masivas. En segundo término, porque al destruir infraestructuras productivas, sistemas de agua potable, escuelas, hospitales y barrios enteros han condenado a otros tantos miles de personas a la privación futura de derechos civiles, sociales y ambientales básicos. En tercer lugar, porque en lugar de contribuir a la apertura y a la convergencia de espacios democráticos dentro de las sociedades atacadas, han ahondado las rivalidades étnicas y la indignación contra 'Occidente', además de desprestigiar el discurso de los derechos humanos, rebajándolo a simple ideología de cobertura de los imperativos económicos y militares de las grandes potencias. 5
Es falso, en tercer lugar, que con la guerra se logre el propósito anunciado por el gobierno de Estados Unidos de América de terminar con el terrorismo. Por el contrario, luego de años de intervenciones bélicas, el terrorismo parece haber crecido a escala global y hay regiones enteras del planeta que están a un paso de incendiarse por completo. El terrorismo, lejos de debilitarse, ha golpeado de lleno el corazón de los países occidentales, como lo demuestran las barbaries del 11-S en Nueva York y del 11-M en Madrid, pero también los atentados en Bali, Casablanca, Beslán, Yakarta, Estambul, Moscú, y un largo etcétera. Esto no significa que no se deba combatir al terrorismo; al contrario: se trata de hechos delictivos que deben ser perseguidos conforme lo establece la legislación nacional e internacional y que pueden ser castigados, dentro de los límites que marcan las leyes, con penas muy severas. Al respecto Ferrajoli apunta:
Con sus inútiles destrucciones la guerra sólo ha agravado los problemas que pretendía resolver... reforzó enormemente al terrorismo, al elevarlo a la categoría de Estado beligerante, convirtiendo un crimen horrendo en el primer acto de una guerra santa y transformando a Bin Laden, a los ojos de millones de musulmanes, en un jefe político, y a su banda de asesinos, en la vanguardia de un ejército de fanáticos... (la guerra) ha contribuido a desestabilizar todo el Oriente Medio, incluido el polvorín (nuclear) pakistaní, y a desencadenar una espiral irrefrenable de odios, fanatismos y otras terribles agresiones terroristas (p. 55).
Lo que más bien nos indica la situación actual es que lanzar bombas desde el aire sobre grandes extensiones de territorio o invadir un país entero no pueden lograr la finalidad de acabar con el terrorismo. Si las intervenciones tienen esa intención están fracasando palmariamente; no debemos sin embargo descartar, en este contexto, dos hipótesis: o los responsables de la guerra son estúpidos y no se dan cuenta de su clamoroso fracaso (lo cual, si bien no es descartable, no tiene demasiado sentido) o bien se está utilizando al terrorismo para justificar guerras que tienen otros objetivos, de orden geopolítico o incluso económico.
En la segunda parte del libro, Ferrajoli describe sus propuestas para la creación de un "constitucionalismo global", una "democracia cosmopolita" o una "esfera pública internacional". Una de las ideas principales del autor en esta parte tiene que ver con la construcción de un "garantismo de derecho internacional", que ya había abordado en varios de sus trabajos anteriores. La idea sería crear un sistema de garantías que permita hacer efectivas las normas del derecho internacional.
La primera entre todas debe ser la garantía de la paz, que se podría lograr sobre todo desarmando a los Estados y reservando en favor de la ONU un monopolio de la fuerza internacional. Ferrajoli destaca lo absurdo que resulta que se prohíba la utilización de armas de destrucción masiva (armas químicas y bacteriológicas, bombas de fragmentación, armas incendiarias, armas nucleares, etcétera), y sin embargo se siga permitiendo y no se sancione en todos los casos su producción y comercialización (p. 86). En esto tienen una gran responsabilidad los Estados democráticos del primer mundo, pues es dentro de su territorio donde se producen las armas cuya utilización está prohibida por el derecho internacional. El comercio de armas, tanto el "lícito" como el que se produce en la ilegalidad, constituye una gran fuente de riqueza para muchas personas, que tienen formas de "presionar" a los responsables políticos para que les deje seguir con sus negocios. En el caso de las armas de destrucción masiva es donde más se nota la corrupción de muchos gobiernos, por ejemplo el de Rusia y de varias ex-repúblicas soviéticas, pero el mismo discurso puede hacerse para las "armas ligeras", que se siguen vendiendo por cientos de miles cada año, en muchos casos a gobiernos que tienen bien comprobadas prácticas autoritarias contra su propia población o contra la de países vecinos; una cantidad importante de esas armas termina cayendo en manos de bandas terroristas y del crimen organizado. Según Ferrajoli:
Las armas están destinadas por su propia naturaleza a matar. Y su disponibilidad es la causa principal de la criminalidad común y de las guerras. No se entiende porqué no deba ser prohibido como ilícito cualquier tipo de tráfico o de posesión. Es claro que el modo mejor de impedir el tráfico y la posesión es prohibiendo su producción: no sólo por tanto el desarme nuclear, sino la prohibición de todas las armas, excluidas las necesarias para la dotación de las policías, a fin de mantener el monopolio jurídico del uso de la fuerza. Puede parecer una propuesta utópica: pero es tal sólo para quienes consideran intocables los intereses de los grandes lobbies de los fabricantes y de los comerciantes de armas y, por otro lado, las políticas belicistas de las potencias grandes y pequeñas.
A nivel local se han producido algunas experiencias positivas en materia de desarme, que bien podrían intentarse llevar a la esfera internacional. Así, por ejemplo, el gobierno brasileño aprobó a mediados de 2004 el Estatuto de Desarme, que detalla un muy interesante programa de entrega voluntaria de armas por parte de la población. El gobierno ha establecido que por cada arma que se entregue se otorgará un pago de entre 40 y 400 dólares, dependiendo del estado que guarde y del tipo de arma de que se trate. A juzgar por sus primeros resultados, el programa está siendo todo un éxito. 6 Solamente en los primeros nueve días de funcionamiento se habían entregado más de 17,000 armas de fuego. Según una encuesta, el proceso de desarme es aprobado por una amplia mayoría de brasileños (más del 67% de los encuestados dijo estar a favor del programa). El éxito ha sido tan grande que el gobierno de Lula se está planteando aumentar el fondo para compensar la entrega, que era inicialmente de casi 4 millones de dólares. Antes de hacerlo a nivel nacional, la experiencia se había desarrollado en el Estado de Paraná, donde en los primeros meses de 2004 se habían recolectado más de 13,000 armas. Resultado: en las mismas fechas el número de asesinatos había disminuido un 30%. ¿Sería muy difícil pensar en una aplicación extensiva de estas sencillas ideas? No dudo que también estas propuestas tengan inconvenientes (como lo podría ser el precio pagado por las armas, que si es muy alto podría servir para financiar la compra de nuevo armamento), pero creo que a corto plazo aportan más ventajas que desventajas.
Por otro lado, el desarme de los Estados y el freno de la carrera armamentista liberaría una enorme cantidad de recursos que hoy en día se invierte en industrias para matar. Esos recursos podrían dedicarse a cuestiones humanitarias, contribuyendo de esa forma a evitar que en el futuro se sigan nutriendo en la miseria, el analfabetismo y la marginación los movimientos fundamentalistas y fanáticos en los que se forman los terroristas.
Por otro lado, Ferrajoli también propone una reforma "en sentido democrático" de la ONU, a través de la reconsideración del papel del Consejo de Seguridad. 7 La reforma, basada en el principio de igualdad, "pasa obviamente por la supresión de la posición de privilegio que hoy detentan en el Consejo de Seguridad las cinco potencias vencedoras de la segunda guerra mundial y la instauración de un sistema igualitario de relaciones entre los pueblos" (p. 88).
No faltarán quienes sostengan que la postura de Ferrajoli es poco realista. 8 A esa objeción, Ferrajoli contesta que la oposición no puede darse entre quienes son "realistas" y quienes son "utopistas", sino que la verdadera oposición es "entre realismo de corto y largo plazo. En efecto, la hipótesis menos realista es que la realidad vaya a permanecer indefinidamente así como está. Que podamos continuar de manera indefinida sosteniendo nuestras ricas democracias y nuestro cómodo y despreocupado nivel de vida sobre el hambre y la miseria del resto del mundo. En términos realistas, todo esto no puede durar" (p. 112).
Por eso es importante, siendo realistas, atender hoy como nunca la llamada movilizadora de Ferrajoli, para intentar construir un futuro alternativo a las guerras, en el que el recurso a las intervenciones armadas sea sancionado por un adecuado sistema de garantías internacionales y en el que exista además una institucionalidad que cuente con los medios necesarios para hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas en cualquier rincón del planeta. Ese objetivo se podrá lograr con argumentos morales y éticos, pero también, como lo demuestra el libro de Ferrajoli, gracias al concurso de un buen número de razones jurídicas para el pacifismo, que ya están vigentes en el derecho internacional de nuestros días, aunque no se apliquen en todos los casos en los que sería necesario.
* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Notas:1 Véase Saura Estapá, Jaume, "Legalidad de la guerra moderna a propósito de la invasión de Irak", en varios autores, Guerra y paz en nombre de la política, Madrid, Calamar Ediciones, 2004, p. 120.
2 Ibidem, p. 122. En este mismo trabajo puede verse los argumentos con que se detalla la ilicitud de la intervención en Irak (pp. 126 y ss.).
3 Una explicación de las "novedades" que suponen las guerras de los últimos años puede verse en Zolo, Danilo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 113 y ss.
4 Sobre la cuestión de las "intervenciones humanitarias", véase el deslumbrante análisis de Garzón Valdés, Ernesto, "Intervenciones humanitarias armadas",Calamidades, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 33-92.
5 Pisarello, Gerardo, "Prólogo. El pacifismo militante de Luigi Ferrajoli", en Ferrajoli, Luigi, Razones jurídicas del pacifismo, Madrid, Trotta, 2004, p. 14.
6 La Vanguardia, Barcelona, 1o. de agosto de 2004.
7 Sobre el tema se ha detenido también, entre otros muchos, Velasco, Juan Carlos, "La democratización pendiente de la esfera internacional", en varios autores,Guerra y paz, cit., nota 1, pp. 147 y ss.
8 Es la postura que, en varios debates con Ferrajoli, ha sostenido Danilo Zolo. Por ejemplo, en su trabajo "Libertad, propiedad e igualdad en la teoría de los derechos fundamentales. A propósito de un ensayo de Luigi Ferrajoli", en varios autores, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello (eds.), Madrid, Trotta, 2001, pp. 98 y ss.
| | |