Do uso da violência contra o Estado ilegal
Por Vladimir Safatle
Nenhum país conseguiu consolidar a democracia sem acertar contas com os crimes de seu passado
A meu pai
"Quem controla o passado, controla o futuro"
George Orwell, "1984"
Os fascistas fizeram de Auschwitz o paradigma da catástrofe social. Contra ele, o século XX cunhou o imperativo “fazer com que Auschwitz nunca mais ocorra”. Mas talvez não seja supérfluo perguntar, mais uma vez: o que exatamente aconteceu em Auschwitz que sela este nome com o selo do que nunca mais pode retornar?
É verdade que, diante da monstruosidade do acontecimento, colocar novamente uma questão desta natureza pode parecer algo absolutamente desnecessário. Pois, afinal, sabemos bem o que aconteceu em Auschwitz, acontecimento que sela este nome com a marca do nunca visto. Todos conhecem a resposta padrão. Auschwitz é o nome do genocídio industrial, programado como se programa uma meta empresarial quantitativa. Ele é o nome do desejo de eliminar o inumerável de um povo com a racionalidade instrumental de um administrador de empresas.
Mas, se devemos recolocar mais uma vez esta questão é para insistir na existência de um aspecto menos lembrado da lógica em operação nos campos de concentração. Até porque, infelizmente, a história conhece a recorrência macabra de genocídios. Começo com este ponto apenas para dizer que é bem provável que a dimensão realmente nova de Auschwitz esteja em outro lugar. Talvez ela não esteja apenas no desejo de eliminação, mas na articulação entre esse desejo de eliminação e o desejo sistemático de apagamento do acontecimento.
Devemos ser sensíveis ao caráter absolutamente intolerável do desejo de desaparecimento. Lembremos, neste sentido, desta frase trazida pela memória de alguns sobreviventes dos campos de concentração, frase que não terminava de sair da boca dos carrascos: “Ninguém acreditará que fizemos o que estamos fazendo. Não haverá traços nem memória”. O crime será perfeito, sem rastros, sem corpos, sem memória. Só fumaça que se esvai no ar saída das câmaras de gás. Pois o crime perfeito é aquele que não deixa cadáveres e o pior cadáver é o sofrimento que exige justiça. Valeria trazer, a este respeito, uma frase precisa de Jacques Derrida: “O que a ordem da representação tentou exterminar não foi somente milhões de vidas humanas, mas também uma exigência de justiça, e também nomes: e, primeiramente, a possibilidade de dar, de inscrever, de chamar e de lembrar o nome"1.
Foi nesse sentido que Auschwitz teve o triste destino de expor como o núcleo duro de todo totalitarismo se transforma em ação ordinária. Pois o totalitarismo não é apenas o aparato político fundado na operação de uma violência estatal que visa a eliminação de todo e qualquer setor da população que questiona a legalidade do poder, violência que visa criminalizar sistematicamente todo discurso de questionamento. Na verdade, o totalitarismo é fundado nesta violência muito mais brutal do que a eliminação física: a violência da eliminação simbólica. Assim, ele é a violência da imposição do desaparecimento do nome. No cerne de todo totalitarismo, haverá sempre a operação sistemática de retirar o nome daquele que a mim se opõe, de transformá-lo em um inominável cuja voz, cuja demanda encarnada em sua voz não será mais objeto de referência alguma.
Este inominável pode, inclusive, receber, não um nome, mas uma espécie de “designação impronunciável”, que visa isolá-lo em um isolamento sem retorno. “Subversivo”, “terrorista”. A partir desta designação aceita, nada mais falaremos do designado, pois simplesmente não seria possível falar com ele, porque ele, no fundo, nada falaria, haveria muito “fanatismo” nestes simulacros de sons e argumentos que ele chama de “fala”, haveria muito “ressentimento” em suas intenções, haveria muito “niilismo” em suas ações. Ou seja, haveria muito “nada”.
Claro está que este inominável nada tem a ver com as estratégias (tão presentes na política do século XX) de recusar o nome atual, o regime atual de nomeação, isto a fim de abrir espaço a um nome por vir2. Antes, ele é a redução daquele colocado na exterioridade à condição de um inominável sem recuperação ou retorno3.
Que a violência simbólica do desaparecimento do nome, da anulação completa dos traços seja o sintoma mais brutal do totalitarismo, eis algo que explica porque, no momento em que a experiência da democracia ateniense começava a chegar ao fim, o espírito do povo produziu uma das mais belas reflexões a respeito dos limites do poder. Ela é o verdadeiro núcleo do que podemos encontrar nesta tragédia que não cessa de nos assombrar, a saber, "Antígona"4.
Muito já se foi dito a respeito desta tragédia, em especial seu pretenso conflito entre leis da família e leis da pólis. No entanto, vale a pena lembrar como no seu seio pulsa a seguinte ideia: o Estado deixa de ter qualquer legitimidade quando mata pela segunda vez aqueles que foram mortos fisicamente, o que fica claro na imposição do interdito legal de todo e qualquer cidadão enterrar Polinices, de todo e qualquer cidadão reconhecê-lo como sujeito apesar de seus crimes.
Pois não enterrá-lo só pode significar não acolher sua memória através dos rituais fúnebres, anular os traços de sua existência, retirar seu nome. Uma sociedade que transforma tal anulação em política de Estado, como dizia Sófocles, prepara sua própria ruína, elimina sua substância moral. Não tem mais o direito de existir enquanto Estado. E é isto que acontece a Tebas: ela sela seu fim no momento em que não reconhece mais os corpos dos “inimigos do Estado” como corpos a serem velados.
É neste sentido que algo de fundamental do projeto nazista e de todo e qualquer totalitarismo alcançou sua realização plena na América do Sul. A Argentina forneceu uma das imagens mais aterradoras desta catástrofe social: o sequestro de crianças filhas de desaparecidos políticos. Porque a morte física só não basta. Faz-se necessário apagar os traços, impedir que aqueles capazes de portar a memória das vítimas nasçam. E a pior forma de impedir isto é entregando os filhos das vítimas aos carrascos.
O desaparecimento deve ser total, ele deve ser objeto de uma solução definitiva. Não são apenas os corpos que desaparecem, mas os gritos de dor que têm a força de cortar o contínuo da história. “Não haverá portadores do seu sofrimento, ninguém dele se lembrará, nada aconteceu”, são as palavras que as ditaduras sul-americanas não cansaram de repetir àqueles que elas procuraram exterminar.
No entanto, na maioria dos casos, esse desejo de desaparecimento não teve força para perdurar. Na Argentina, por exemplo, amplos setores da sociedade civil foram capazes de forçar o governo de Nestor Kirchner a anular o aparato legal que impedia a punição de torturadores da ditadura militar. A Justiça não teve medo de novamente abrir os processos contra militares e de mostrar que era possível renomear os desaparecidos, reinscrever suas histórias no interior da história do país.
Da mesma forma, no Chile, graças à mobilização mundial produzida pela prisão de Augusto Pinochet em Londres, carrascos como Manuel Contrera foram condenados à prisão perpétua. O Exército foi obrigado a emitir nota oficial em que reconheceu não se solidarizar mais com seu passado. Em uma decisão de forte significado simbólico, mesmo o soldado que assassinou o cantor Victor Jara no Estádio Nacional também será processado. Nesse sentido, o único país que realizou de maneira bem sucedida as palavras dos carrascos nazistas foi o Brasil: o país que realizou a profecia mais monstruosa e espúria de todas. A profecia da violência sem trauma.
Toda violência se equivale?
Levando em conta tais questões, trata-se neste artigo de discutir a seguinte tese, tão presente nos últimos meses nos principais meios de comunicação deste país: o esquecimento dos “excessos” do passado é o preço doloroso pago para garantir a estabilidade democrática.
Não se trata simplesmente de insistir na falsidade patente, na ausência completa de amparo histórico desta tese. Antes, trata-se de mostrar como ela, longe de ser a enunciação desapaixonada e realista daqueles que sabem defender a democracia possível, é apenas o sintoma discreto de uma profunda tendência totalitária da qual nossa sociedade nunca conseguiu se livrar. Por isto, a aceitação tácita desta tese é, na verdade, a verdadeira causa do caráter deformado e bloqueado de nossa democracia. Assim como em Tebas, ela será o início da nossa ruína.
Antes de discuti-la, vale a pena, no entanto, dar às palavras seu verdadeiro lugar. Ao invés de falar do “esquecimento dos excessos do passado”, talvez seja o caso de falar em “amnésia sistemática em relação a crimes de um Estado ilegal”. Certamente, tal formulação não será aceita imediatamente por todos. Pois os defensores, brandos, amedrontados ou ferrenhos do Partido da Amnésia costumam utilizar dois argumentos, de acordo com a conveniência do momento.
Primeiro: “Não houve, no Brasil, tortura e assassinato como política sistemática de segurança de Estado; logo, não houve crime”. Alguns, como o coronel Carlos Alberto Brilhate Ustra, em processo impetrado contra ele pela família Teles, declaram aos autos que simplesmente nunca torturaram, que tudo isto é uma invenção de ressentidos esquerdistas. Os casos isolados de tortura e assassinato (se houver, já que ninguém até hoje foi obrigado pela Justiça a reconhecê-los perante os tribunais) teriam sido casos que ocorreram sem o consentimento do comando militar que dirigia o país. São casos a respeito dos quais o Estado brasileiro não poderia ser responsabilizado.
No entanto, se lembrarmos que há farta documentação internacional a respeito da participação do governo brasileiro na montagem da Operação Condor, aparato responsável pelo assassinato de opositores aos regimes militares sul-americanos, documentação que mereceria ao menos uma investigação séria, nada disto será ouvido.
Da mesma forma, de nada adianta lembrar que, pela primeira vez na história, ex-presidentes da República brasileira (como João Baptista Figueiredo) estão sendo julgados em processo referente a crimes contra a humanidade que tramita atualmente na Itália5, que torturadores internacionais declarados (como o general francês Paul Aussaresses) já disseram ter estado no Brasil à época para “treinamento militar”, que um ex-espião do serviço secreto uruguaio declarou ter envenenado um ex-presidente brasileiro (João Goulart) dando detalhes assustadores.
De nada adianta porque, como diziam os partidários de Pinochet à ocasião de sua prisão na Inglaterra, tudo isto é um complô internacional de esquerdistas. Os mesmos esquerdistas que possivelmente inventariam histórias horrendas sobre tortura, talvez a fim de simplesmente receber indenizações compensatórias.
Mas é interessante perceber como o primeiro argumento (“não houve, no Brasil, tortura e assassinato como política sistemática de segurança de Estado”) é enunciado ao mesmo tempo que um outro argumento: “Houve tortura e assassinato, mas estávamos em uma guerra contra ‘terroristas’ (como disse, por exemplo, o sr. Tércio Sampaio Ferraz, não em 1970, no auge da Guerra fria, mas em 20086), que queriam transformar o país em uma sucursal do comunismo internacional”. “O outro lado não era composto de santos”, costuma-se dizer.
Ao utilizar tal argumento, trata-se principalmente de tentar passar a ideia de que toda violência se equivale, que não há diferença entre violência e contra-violência ou, ainda, e aí em um claro revisionismo histórico delirante, que a violência militar foi um golpe preventivo contra um Estado comunista que estava sendo posto em marcha com a complacência do governo Goulart. Lembremos como alguns ainda falam atualmente em “contra-revolução” a fim de caracterizar o que teria sido o golpe de 1964. O que não escapa da tendência clássica de todo golpe de Estado procurar se legimitar ao se colocar como “contra-revolução”.
Vale a pena inicialmente lembrar que, em qualquer país do mundo, os dois argumentos (“Houve tortura” e “não houve tortura”) seriam vistos como exemplos clássicos e patéticos de contradição, o que mostraria claramente a inanidade intelectual de uma posição que precisa, a todo momento, bailar por entre argumentos contraditórios. No entanto, como se não bastasse, o segundo argumento é simplesmente uma aberração inaceitável àqueles para quem a ideia de democracia não é simplesmente uma palavra vazia. E, se levarmos em conta a situação atual em que se encontra, no Brasil, o debate a respeito do dever de memória, fica clara a necessidade de insistir na natureza aberrante de tal argumento.
1 - Jacques Derrida, "Força de Lei" , São Paulo, Martins Fontes, 2007, p. 140.
2 - Para esta discussão, ver Alain Badiou, "Ethique: Essai Sur la Conscience du mal", Paris, Nous, 2003.
3 - Se levarmos a sério a centralidade desta operação de desaparecimento do nome em todo totalitarismo, será necessário um certo complemento à crítica de Giorgio Agamben à desagregação normativa própria ao lugar de exceção do poder soberano. Agamben demonstra como a definição de Carl Schmitt sobre a soberania (“É soberano quem decide pelo Estado exceção”) expõe a maneira como o ordenamento jurídico é assombrado pela possibilidade legal de sua suspensão. Aproveitemos o que outros disseram e afirmemos: “É soberano aquele que define quem é terrorista”, ou seja, quem será excluído da possibilidade mesmo de ser sujeito de direitos. O uso extensivo e pouco rigoroso do termo em contextos os mais inacreditáveis (chama-se atualmente de terrorista até integrantes do MST, operadores de rádios piratas e grupos neossituacionistas) apenas demonstra o caráter eminentemente político de seu uso.
4 - Para uma leitura mais articulada da tragédia, remeto a Vladimir Safatle, “Sobre a Potência Política do Inumano: Retornar à Crítica ao Humanismo”, em Adauto Novaes (org.), "Mutações: A Condição Humana " (no prelo).
5 - Processo em que Figueiredo e mais dez civis e militares brasileiros de alta patente são acusados de co-responsabilidade no desaparecimento de oitos cidadãos de origem italiana em 1980, ou seja, depois da anistia de 1979.
6 - Tércio Sampaio Jr., “Anistia ampla, geral e irrestrita”, "Folha de S. Paulo", 16/08/2008.
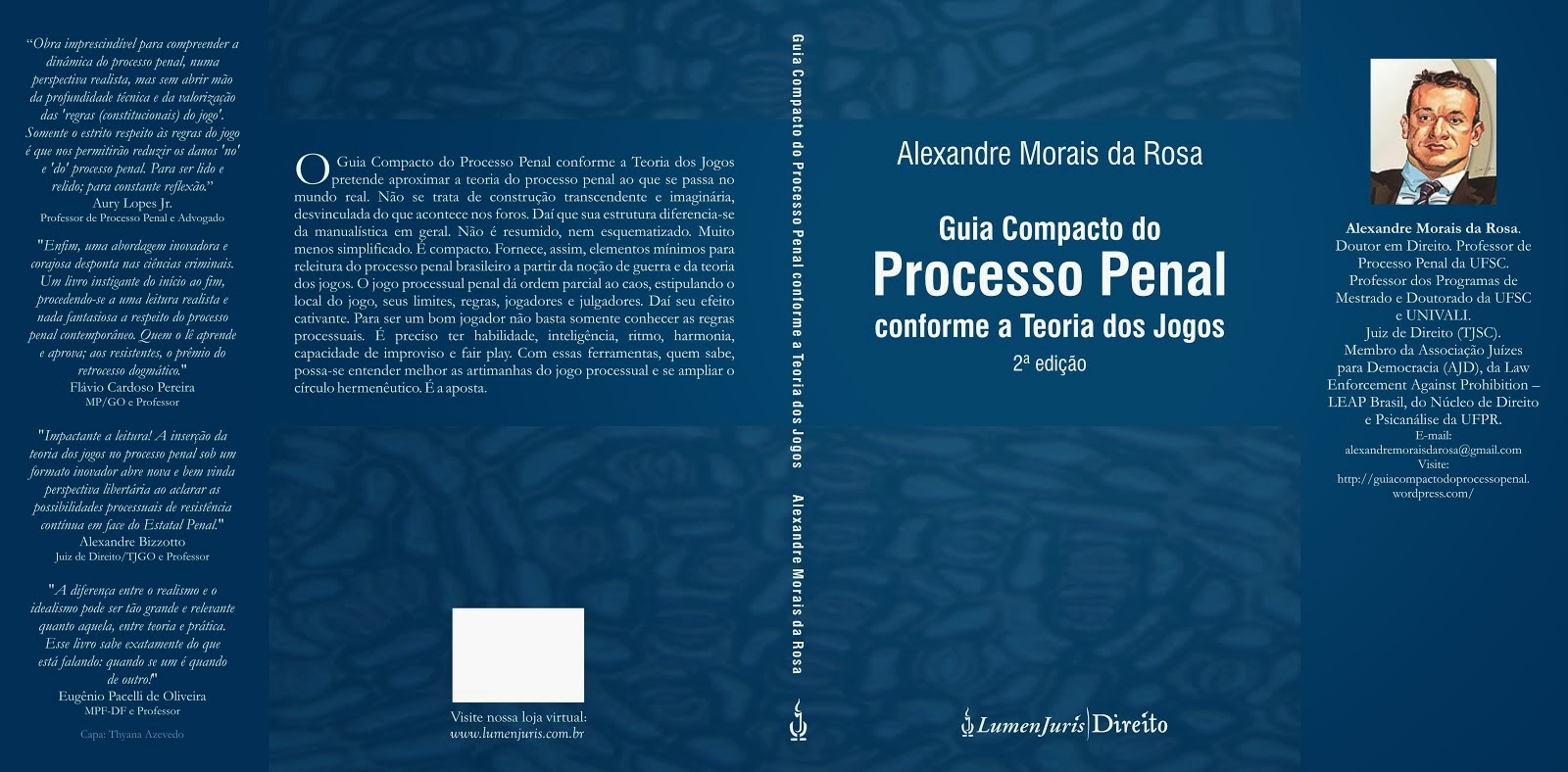

Muito interessante o texto. Aliás, este foi um tema que discutimos pela manhã no último semestre junto à disciplina de Hermenêutica Jurídica com o professor Cadermatori.
ResponderExcluirImportância da memória/posição concreta da sociedade e do judiciário frente aos abusos ocorridos X Lei de Anistia/falta de necessidade de tal posição pelo tempo decorrido e atual estado democrático em que estamos
Eu, particularmente, concordo com os argumentos trazidos pelo autor. Uma posição efetiva da sociedade e, especialmente do Judiciário, poderia evitar argumentos como os colocados: "não houve tortura e perseguição política" ou "houve, mas estávamos lutando contra terroristas", ou ainda, "do outro lado também houve excessos".
Como se isto justificasse a utilização do aparato estatal para torturar e exterminar seres humanos em prol da manutenção de uma estrutura política.
Discussão realmente importante...