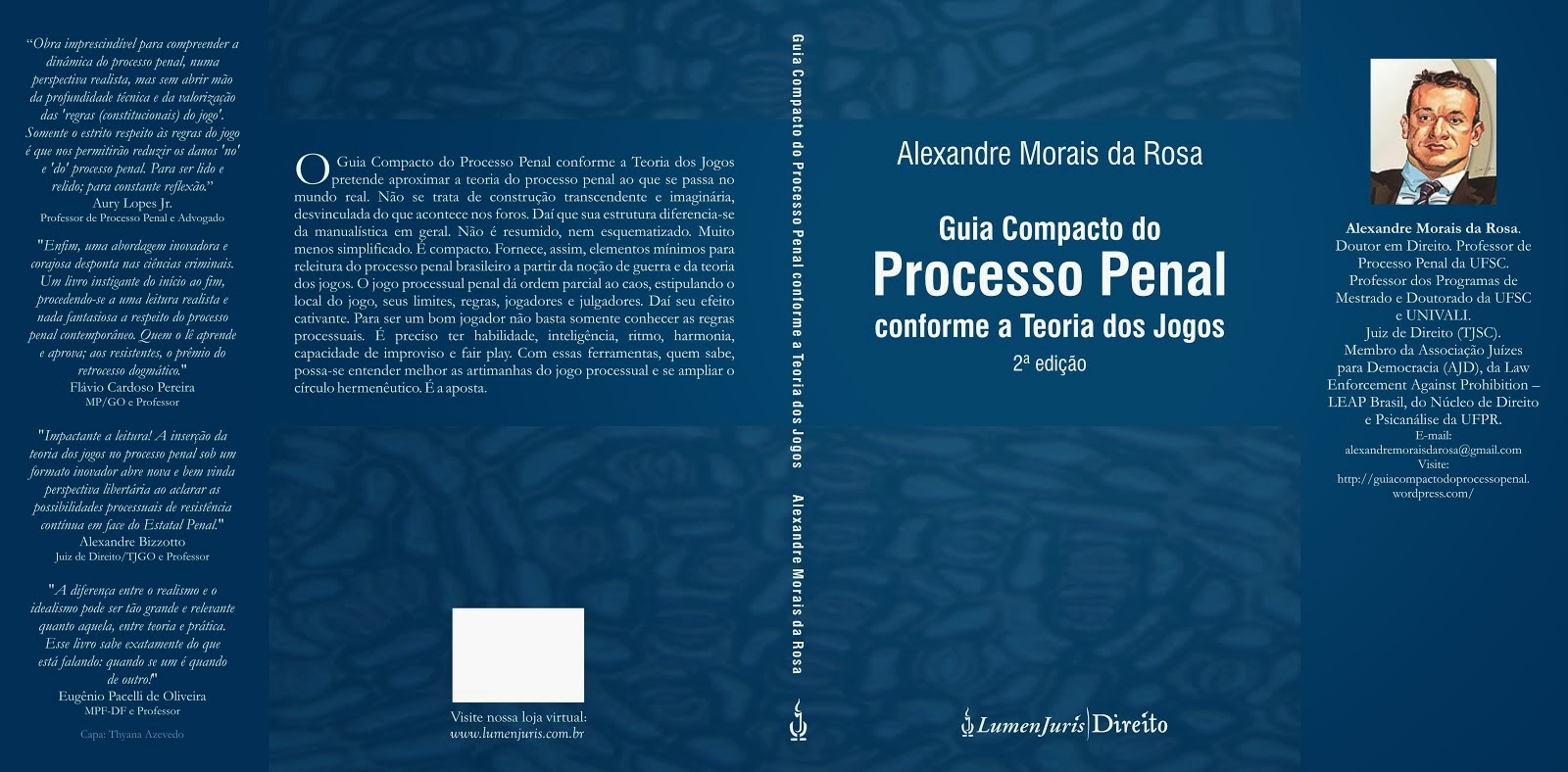UMA VERDADEIRA ABERRAÇÃO PROCESSUAL E ALGO QUASE
INACREDITÁVEL: O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A APLICAÇÃO DA
LEI MARIA DE PENHA NA ÁREA CÍVEL1
I
– INTRODUÇÃO
Pela primeira vez, “o Superior Tribunal de Justiça
admitiu a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006) em Ação Cível, sem existência de inquérito
policial ou processo penal contra o suposto agressor. A decisão
é da 4ª Turma. Para o relator do caso, Ministro Luis Felipe
Salomão, a agregação de caráter cível às medidas protetivas à
mulher previstas na Lei Maria da Penha amplia consideravelmente a
proteção das vítimas de violência doméstica, uma vez que essas
medidas assumem eficácia preventiva. “Parece claro que o
intento de prevenção da violência doméstica contra a mulher pode
ser perseguido com medidas judiciais de natureza não criminal, mesmo
porque a resposta penal estatal só é desencadeada depois que,
concretamente, o ilícito penal é cometido, muitas vezes com
consequências irreversíveis, como no caso de homicídio ou de
lesões corporais graves ou gravíssimas”, ponderou. Ainda segundo
o Ministro, “franquear a via das ações de natureza cível,
com aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pode
evitar um mal maior, sem necessidade de posterior intervenção penal
nas relações intrafamiliares”. A ação protetiva dos direitos
da mulher foi ajuizada por uma senhora contra um de seus seis filhos.
Segundo o processo, após doações de bens feitas em 2008 por ela e
o marido aos filhos, um deles passou a tratar os pais de forma
violenta, com xingamentos, ofensas e até ameaças de morte. O marido
faleceu. Com a ação, a mulher pediu a aplicação de medidas
protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Queria que o filho fosse
impedido de se aproximar dela e dos irmãos no limite mínimo de cem
metros de distância, e de manter contato com eles por qualquer meio
de comunicação até a audiência. Queria ainda a suspensão da
posse ou restrição de porte de armas. Em primeira instância, o
processo foi extinto sem julgamento de mérito. O juiz
considerou que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm
natureza processual penal e são vinculadas a um processo criminal.
Não há ação penal no caso. O Tribunal de Justiça de Goiás
reformou a sentença e aplicou as medidas protetivas, por entender
que elas têm caráter civil. O filho apontado como agressor recorreu
ao Superior Tribunal de Justiça contra essa decisão.
Segundo o Ministro Luís Felipe Salomão, a Lei Maria da Penha
permite a incidência do artigo 461, § 5º., do Código de Processo
Civil para concretização das medidas nela previstas. Ele entendeu
que, de forma recíproca e observados os requisitos específicos, é
possível a aplicação da Lei 11.340 no âmbito do processo civil.
Seguindo o voto do relator, a Turma decidiu, por unanimidade de
votos, que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, observados os
requisitos para concessão de cada uma, podem ser pedidas de forma
autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência
doméstica contra a mulher, independentemente da existência,
presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o
suposto agressor. Nessa hipótese, as medidas de urgência terão
natureza de cautelar cível satisfativa. (Com
informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
Plagiando
Otávio Mangabeira, a sua frase poderia perfeitamente ser aplicada a
este jul: “Pense em um absurdo, no Superior Tribunal de Justiça
tem precedente.”2
Trata-se de uma verdadeira chacota à inteligência dos penalistas e
constitucionalistas brasileiros (deixando logo claro que me considero
um simples estudioso do Direito Processual Penal, o que não me
desanimou enfrentar a questão, tal o seu fantástico disparate
– desculpem a redundância, mas, neste caso, além de correta, ela
é necessária).
Este trabalho tem por escopo comentar alguns dispositivos contidos na
Lei nº. 11.340/06, a chamada “Lei Maria da Penha” que, em
tese, procurou criar “mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher”3.
Segundo a lei, “configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e
dano moral ou patrimonial.”4
A violência pode ser praticada:
a) “no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas”;
b) “no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos
por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”5
ou
c) “em qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”6
Ademais, compreende:
a) “a violência física, entendida como qualquer conduta que
ofenda sua integridade ou saúde corporal”;
b) “a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação”;
c) “a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos
sexuais e reprodutivos”;
d) “a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades” e
e) “a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.”
É importante ressaltar que a lei não contém nenhum novo
tipo penal, apenas dá um tratamento penal e processual distinto para
as infrações penais já elencadas em nossa (vasta e exagerada)
legislação. De toda maneira, entendemos extremamente
perigosa a utilização, em um texto legal de natureza penal e
processual penal (e gravoso para o indivíduo), de termos tais como
“diminuição da auto-estima”, “esporadicamente
agregadas”, “indivíduos que são ou se consideram
aparentados”, “em qualquer relação íntima de afeto”,
etc., etc.
Observa-se, porém, que uma agressão de ex-namorado contra antiga
parceira não configura violência doméstica. Com esse entendimento,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria,
declarou competente o juízo de direito do Juizado Especial Criminal
de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, para julgar e processar
ação contra agressor da ex-namorada. No caso, o homem encontrou a
ex-namorada na companhia do atual parceiro e praticou a agressão.
Ele jogou um copo de cerveja no rosto dela, deu-lhe um tapa e a
ameaçou. O Ministério Público entendeu ser caso de violência
doméstica e, por isso, considerou que deveria ser julgado pela
Justiça comum. Acatando esse parecer, o juízo de Direito do Juizado
Especial Criminal de Conselheiro Lafaiete encaminhou os autos para a
1ª Vara Criminal da cidade. Porém, a Vara Criminal levantou o
conflito de competência por entender que não se tratava de
violência doméstica e, por essa razão, a questão deveria ser
julgada pelo Juizado Especial. Em sua decisão, o relator, ministro
Nilson Naves, destacou que a Lei Maria da Penha não abrange as
consequências de um namoro acabado. Por isso, a competência é do
Juizado Especial Criminal. Acompanharam o relator os ministros Felix
Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves Lima, Maria Thereza de Assis
Moura, Jorge Mussi e Og Fernandes. O ministro Napoleão Nunes Maia
Filho divergiu do relator e foi acompanhado pela desembargadora
convocada Jane Silva. Segundo ela, o namoro configura, para os
efeitos da Lei Maria da Penha, relação doméstica ou familiar, já
que trata de uma relação de afeto.” (Processos: CC 91980 e CC
94447).
Segundo o seu art. 6º., a violência doméstica e familiar contra a
mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos;
logo, é possível que a apuração do crime daí decorrente seja da
atribuição da Polícia Federal, na forma do art. 1º., caput e
inciso III, da Lei nº. 10.446/02; ainda em tese, também é
possível que a competência para o processo e julgamento seja da
Justiça Comum Federal, ex vi do art. 109, V-A, c/c o § 5º.,
da Constituição Federal, desde que se inicie, via Procurador-Geral
da República, e seja julgado procedente o Incidente de Deslocamento
de Competência junto ao Superior Tribunal de Justiça). Esta
conclusão decorre das normas referidas, bem como em razão do Brasil
ser subscritor da Convenção sobre a eliminação de todas as formas
de violência contra a mulher7
e da Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a
violência contra a mulher8.
Não pretendemos ferir suscetibilidades ou idiossincrasias, apenas
manifestar o nosso entendimento sobre uma norma jurídica que
entendemos ferir a Constituição Federal. Como diz Paulo Freire,
“só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense
errado, é quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições
necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de
nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da
pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético
e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da
arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo.”9
Estamos de acordo com a tutela penal diferençada para
hipossuficientes (inclusive pelo desvalor da ação10),
mas sem máculas à Constituição Federal e aos princípios dela
decorrentes e inafastáveis. Neste ponto, concordamos com Naele Ochoa
Piazzeta, quando afirma que “corretas, certas e justas
modificações nos diplomas legais devem ser buscadas no sentido de
se ver o verdadeiro princípio da igualdade entre os gêneros, marco
de uma sociedade que persevera na luta pela isonomia entre os seres
humanos, plenamente alcançado.”11
Como afirma Willis Santiago Guerra Filho, “princípios como o da
isonomia e proporcionalidade são engrenagens essenciais do mecanismo
político-constitucional de acomodação dos diversos interesses em
jogo, em dada sociedade, sendo, portanto, indispensáveis para
garantir a preservação de direitos fundamentais, donde podermos
incluí-los na categoria, equiparável, das ´garantias
fundamentais’.”12
II
– A RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
Inicialmente analisaremos o art. 16 da referida lei que tem a
seguinte redação: “Nas ações penais públicas condicionadas
à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da
denúncia e ouvido o Ministério Público.”
Desde logo, atentemos para a impropriedade técnica do termo
“renúncia”, pois se o direito de representação já foi
exercido (tanto que foi oferecida a denúncia), obviamente não há
falar-se em renúncia; certamente o legislador quis referir-se à
retratação da representação, o que é perfeitamente possível,
mesmo após o oferecimento daquela condição específica de
procedibilidade da ação penal.
Sabe-se, no entanto, que o art. 25 do Código de Processo Penal só
permite a retratação da representação até o oferecimento da
denúncia; no caso desta lei, porém, a solução do legislador foi
outra, permitindo-se a retratação mesmo após o oferecimento da
peça acusatória. O limite agora (e quando se tratar de crime
relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher) é a
decisão do Juiz recebendo a denúncia.
Portanto, diferentemente da regra estabelecida pelo art. 25 do Código
de Processo Penal, a retratação da representação pode ser
manifestada após o oferecimento da denúncia, desde que antes da
decisão acerca de sua admissibilidade. Neste ponto, mais duas
observações: em primeiro lugar a lei foi mais branda com os autores
de crimes praticados naquelas circunstâncias, o que demonstra de
certa forma uma incoerência do legislador. Ora, se se queria
reprimir com mais ênfase este tipo de violência, por que
“elastecer” o prazo para a retratação da representação?
Evidentemente que é mais benéfica para o autor do crime a
possibilidade de retratação em tempo maior que aquele previsto pelo
art. 25, CPP.
Tratando-se de norma processual penal material, e sendo mais
benéfica, deve retroagir para atingir processos relativos aos crimes
praticados anteriormente à vigência da lei (data da ação ou
omissão – arts. 2º. e 4º. do Código Penal).13
Uma segunda observação é a exigência legal que esta retratação
somente possa ser feita “perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade, (...) ouvido o
Ministério Público.” Aqui, a intenção do legislador foi
revestir a retratação de toda a formalidade própria de uma
audiência realizada no Juízo Criminal, presentes o Juiz de Direito
e o Ministério Público. Neste aspecto, sendo mais gravosa a norma
processual penal material, sua aplicação deve se restringir aos
fatos ocorridos posteriormente, ou seja, para os crimes praticados
após a vigência da lei.
De toda maneira, ressaltamos que se esta retratação deve ser
necessariamente formal (e formalizada), o mesmo não ocorre com a
representação que, como sabemos, dispensa maiores formalidades
(sendo este um entendimento já bastante tranquilo dos nossos
tribunais e mesmo da Suprema Corte). O prazo para o oferecimento da
representação (bem como o dies a quo) continua sendo o mesmo
(art. 38, CPP). Ademais, é perfeitamente válida a representação
feita perante a autoridade policial, pois assim permite o art. 39 do
CPP.
Como se sabe, a representação é uma condição processual relativa
a determinados delitos, sem a qual a respectiva ação penal, nada
obstante ser pública, não pode ser iniciada pelo órgão
ministerial; é uma manifestação de vontade externada pelo ofendido
(ou por quem legalmente o represente) no sentido de que se proceda à
persecutio criminis. De regra, esta representação “consiste
em declaração escrita ou oral, dirigida à autoridade policial, ou
ao órgão do Ministério Público, ou ao Juiz”, como afirmava
Borges da Rosa.14
Porém, a doutrina e a jurisprudência pátrias trataram de amenizar
este rigor outrora exigido, a fim de que pudessem ser dados ao
instituto da representação traços mais informais e,
conseqüentemente, mais justos e consentâneos com a realidade.
Assim
é que hodiernamente “a representação, quanto à formalidade,
é figura processual que se reveste da maior simplicidade. Inocorre,
em relação à mesma qualquer rigor formal” e esta “dispensa
do requisito das formalidades advém da circunstância de que a
representação é instituída no interesse da vítima e não do
acusado, daí a forma mais livre possível na sua elaboração.”15
Neste
sentido a jurisprudência é pacífica:
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HABEAS CORPUS Nº. 20.401 –
RJ (2002/0004648-6) (DJU 05.08.02, SEÇÃO 1, P. 414, J. 17.06.02).
RELATOR: MINISTRO FERNANDO GONÇALVES. EMENTA: PROCESSUAL
PENAL. HABEAS CORPUS. PERDA DO OBJETO. CRIME CONTRA OS COSTUMES.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REPRESENTAÇÃO. FORMA SACRAMENTAL.
INEXIGIBILIDADE. 1 - Resta prejudicado o habeas corpus, por falta de
objeto, quando o motivo do constrangimento não mais existe. 2 - Nos
crimes de ação pública, condicionada à representação, esta
independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada, como
na espécie, a inequívoca intenção da vítima e/ou seu
representante legal, nesta extensão, em processar o ofensor.
Decadência afastada. 3 - Ordem conhecida em parte e, nesta extensão,
denegada.”
Aliás, este é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal
(neste sentido conferir RT 731/522; JSTF 233/390; RT 680/429, etc).
No julgamento do Habeas Corpus nº. 88843, por unanimidade, os
Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, apesar de
concederem a ordem de ofício (para afastar qualquer impedimento
contra a progressão do regime prisional em favor de um condenado por
atentado violento ao pudor com violência presumida), negaram, no
entanto, o pedido formulado pela defesa por entender “que, de
acordo com diversos precedentes da Corte, o entendimento firmado no
STF é de que não se deve exigir a observância rígida das regras
quanto à representação, principalmente quando se trata de crimes
dessa natureza”, segundo o relator, Ministro Marco Aurélio.
Para a Defensoria Pública paulista, que impetrou a ação no Supremo
em favor do condenado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que negou pedido idêntico feito àquela corte, estaria equivocada,
uma vez que seria necessário haver uma representação formal contra
o réu, para que ele fosse processado. E que a representação que
houve, no caso, foi feita pela vítima, uma menor de idade. O
depoimento da vítima, menor de idade, manifestando a intenção de
perseguir o acusado em juízo, foi usado para suprir a representação,
disse o defensor público. Como a vítima é menor de idade, tal
depoimento não é valido, não supre a representação, afirmou
ainda a defensoria, para quem “aceitar essa tese é burlar o
devido processo legal”. Fonte: STF.
Pergunta-se: deve o representante do Ministério Público, antes de
oferecer a denúncia, pugnar ao Juiz pela realização daquela
audiência? Entendemos que não, pois a audiência prevista neste
artigo deve ser realizada apenas se a vítima (ou seu representante
legal ou sucessores ou mesmo o curador especial - art. 33 do Código
de Processo Penal) manifestar algum interesse em se retratar da
representação. Não vemos necessidade de, a priori, o órgão
do Ministério Público requerer a designação da audiência. Ora,
se a vítima representou (seja formal ou informalmente), satisfeita
está a condição específica de procedibilidade para a ação
penal. O requerimento para a realização desta audiência (ou a sua
designação ex officio pelo Juiz de Direito) fica “até
parecendo” que se deseja a retratação a todo custo.
Observa-se, outrossim, que a retratação deve ser um ato espontâneo
da vítima (ou de quem legitimado legalmente), não sendo necessário
que ela seja levada a se retratar por força da realização de uma
audiência judicial.
Exatamente neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“a vítima de violência doméstica
não pode ser constrangida a ratificar perante o juízo, na presença
de seu agressor, a representação para que tenha seguimento a ação
penal. Com esse entendimento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça concedeu mandado de segurança ao Ministério Público do
Mato Grosso do Sul para que a audiência prevista no artigo 16 da Lei
Maria da Penha só ocorra quando a vítima manifeste, antecipada,
espontânea e livremente, o interesse de se retratar. A decisão é
unânime. A Lei 11.340/06, conhecida por Maria da Penha, criou
mecanismos de proteção contra a violência doméstica e familiar
sofrida pelas mulheres. Entre as medidas, está a previsão de que a
ação penal por lesão corporal leve é pública – isto é, deve
ser tocada pelo MP –, mas condicionada à representação da
vítima. O STJ já pacificou o entendimento de que essa representação
não exige qualquer formalidade, bastando a manifestação perante
autoridade policial para configurá-la. Para o Tribunal de Justiça
sul-matogrossense, a designação dessa audiência seria ato judicial
de mero impulso processual, não configurando ilegalidade ou
arbitrariedade caso realizada espontaneamente pelo juiz. Mas o
desembargador convocado Adilson Macabu divergiu do tribunal local.
Para o relator, a audiência prevista no dispositivo não deve ser
realizada de ofício, como condição da abertura da ação penal,
sob pena de constrangimento ilegal à mulher vítima de violência
doméstica e familiar. Isso “configuraria ato de 'ratificação' da
representação, inadmissível na espécie”, asseverou. “Como se
observa da simples leitura do dispositivo legal, a audiência a que
refere o artigo somente se realizará caso a ofendida expresse
previamente sua vontade de se retratar da representação ofertada em
desfavor do agressor”, acrescentou o relator. “Assim, não há
falar em obrigatoriedade da realização de tal audiência, por
iniciativa do juízo, sob o argumento de tornar certa a manifestação
de vontade da vítima, inclusive no sentido de ‘não se retratar’
da representação já realizada”, completou. Em seu voto, o
desembargador indicou precedentes tanto da Quinta quanto da Sexta
Turma nesse mesmo sentido.” (Fonte:
Coordenadoria de Editoria e Imprensa do
Superior Tribunal de Justiça).
Também no Supremo Tribunal Federal decidiu-se que
“a audiência prevista no referido artigo não é
obrigatória para o recebimento da denúncia, como sustentava a
defesa. Ela é facultativa e deve ser provocada pela vítima, caso
deseje, antes de recebida a denúncia, o que não ocorreu no caso em
questão.” (Habeas Corpus 109176, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski).
III
– AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
Quanto às medidas protetivas de urgência, assim chamadas pela lei,
“poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério
Público ou a pedido da ofendida (art. 19), não havendo
necessidade, no último caso, de ser o pedido subscrito por
advogado16,
e “independentemente de audiência das partes e de manifestação
do Ministério Público.”
Algumas destas medidas são salutares, seja do ponto de
vista de proteção da mulher, seja sob o aspecto “descarcerizador”
que elas encerram. Em outras palavras: é muito melhor
que se aplique uma medida cautelar não privativa de liberdade do que
se decrete uma prisão preventiva ou temporária (adiante trataremos
do novo inciso acrescentado ao art. 313 do Código de Processo
Penal). Exemplo poderíamos citar o art. 294 do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei nº. 9.503/97) que prevê, como medida cautelar e
“havendo necessidade para garantia da ordem pública”, a
possibilidade de decretação “da suspensão da permissão ou da
habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de
sua obtenção”, cabendo recurso em sentido estrito, sem efeito
suspensivo, da decisão que decretar ou deixar de decretá-la
(parágrafo único).
Como afirma Rogério Schietti Machado Cruz, “se a pena privativa
de liberdade, como zênite e fim último do processo penal, é um
mito que desmorona paulatinamente, nada mais racional do que também
se restringir o uso de medidas homólogas (não deveriam ser) à
prisão-pena, antes da sentença condenatória definitiva. É dizer,
se a privação da liberdade como pena somente deve ser aplicada aos
casos mais graves, em que não se mostra possível e igualmente
funcional outra forma menos aflitiva e agressiva, a privação da
liberdade como medida cautelar também somente há de ser utilizada
quando nenhuma outra medida menos gravosa puder alcançar o mesmo
objetivo preventivo.”17
A previsão de tais medidas protetivas (ao menos em relação a
algumas delas) encontra respaldo na Resolução 45-110 da Assembléia
Geral das Nações Unidas – Regras Mínimas da ONU para a
Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade (Regras de
Tóquio, editadas nos anos 90). Estas regras “enunciam um
conjunto de princípios básicos para promover o emprego de medidas
não-privativas de liberdade, assim como garantias mínimas para as
pessoas submetidas a medidas substitutivas da prisão.”18
Por terem a natureza jurídica de medidas cautelares, devem
observar, para a sua decretação, a presença do fumus
commissi delicti e do periculum in mora.
Sem tais pressupostos, ilegítima será a imposição de tais
medidas. Devemos atentar, porém, para a lição de Calmon de
Passos, segundo a qual “o processo cautelar é processo de
procedimento contencioso, vale dizer, no qual o princípio da
bilateralidade deve ser atendido, sob pena de nulidade. A lei tolera
a concessão inaudita altera pars de medida
cautelar, nos casos estritos que menciona (art. 804), mas impõe,
inclusive para que subsista a medida liminarmente concedida,
efetive-se a citação do réu e se lhe enseje a oportunidade de se
defender (arts. 802, II e 811, II).”19
Como, em tese, é possível a decretação da prisão
preventiva em caso de descumprimento injustificado da medida
protetiva (adiante comentaremos o art. 313, IV do CPP), entendemos
ser perfeitamente cabível a utilização do habeas corpus para
combater uma decisão que a aplicou. Como se sabe, o habeas corpus
deve ser também conhecido e concedido sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Logo, se a medida protetiva foi abusiva (não necessária), cabível
a utilização do habeas corpus que visa a tutelar a liberdade
física, a liberdade de locomoção do homem: ius manendi,
ambulandi, eundi ultro citroque. Como já ensinava
Pontes de Miranda, em obra clássica sobre a matéria, é uma ação
preponderantemente mandamental dirigida “contra quem viola ou
ameaça violar a liberdade de ir, ficar e vir.”20
(Grifo nosso).
Para
Celso Ribeiro Bastos “o habeas
corpus é inegavelmente a mais
destacada entre as medidas destinadas a garantir a liberdade pessoal.
Protege esta no que ela tem de preliminar ao exercício de todos os
demais direitos e liberdades. Defende-a na sua manifestação física,
isto é, no direito de o indivíduo não poder sofrer constrição na
sua liberdade de se locomover em razão de violência ou coação
ilegal.”21
Aliás,
desde a Reforma Constitucional de 1926 que o habeas
corpus, no Brasil, é ação destinada à
tutela da liberdade de locomoção, ao direito de ir, vir e ficar.22
Nada
obstante tais considerações, foi impetrado e concedido um Mandado
de Segurança para afastar decisão que aplicou medida protetiva de
urgência: “Inexiste dúvida quanto ao acerto da aplicação das
medidas protetivas aplicadas pela autoridade impetrada em favor da
ofendida, restringindo direitos do impetrante, porque previstas na
denominada Lei 'Maria da Penha', o que afasta a alegação de
violação a direito líquido e certo ou mesmo ocorrência de abuso
de poder. Não se pode olvidar contudo, a especialíssima situação
do impetrante, que tem o dever de cuidar de sua idosa mãe,
atualmente com 85 anos de idade, até por imposição da Lei nº
10.741/2003 – Estatuto do Idoso – o que só será possível se o
fizer pessoalmente, isto é, comparecendo à residência dela, não
obstante situada no mesmo terreno da residência da ofendida, razão
porque se concedeu parcialmente o pedido liminar apenas para
possibilitar ao impetrante frequentar a casa da mãe e continuar a
prestar os cuidados variados de que ela necessita, mas sem qualquer
forma de contato com a ofendida, única forma possível de conciliar
a incidência dos diplomas legais aplicáveis à espécie. Concessão
parcial, confirmando-se a liminar.” (TJRJ – 3ª C. - MS
2009.078.00019 – rel. Valmir de Oliveira Silva – j. 09.06.2009).
A propósito, pela primeira vez, o Superior Tribunal de Justiça
admitiu a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006) em Ação Cível, sem existência de inquérito
policial ou processo penal contra o suposto agressor. A decisão é
da 4ª Turma. Para o relator do caso, Ministro Luis Felipe Salomão,
a agregação de caráter cível às medidas protetivas à mulher
previstas na Lei Maria da Penha amplia consideravelmente a proteção
das vítimas de violência doméstica, uma vez que essas medidas
assumem eficácia preventiva. “Parece claro que o intento de
prevenção da violência doméstica contra a mulher pode ser
perseguido com medidas judiciais de natureza não criminal, mesmo
porque a resposta penal estatal só é desencadeada depois que,
concretamente, o ilícito penal é cometido, muitas vezes com
consequências irreversíveis, como no caso de homicídio ou de
lesões corporais graves ou gravíssimas”, ponderou Salomão.
Ainda segundo o ministro, “franquear a via das ações de
natureza cível, com aplicação de medidas protetivas da Lei Maria
da Penha, pode evitar um mal maior, sem necessidade de posterior
intervenção penal nas relações intrafamiliares”. A ação
protetiva dos direitos da mulher foi ajuizada por uma senhora contra
um de seus seis filhos. Segundo o processo, após doações de bens
feitas em 2008 por ela e o marido aos filhos, um deles passou a
tratar os pais de forma violenta, com xingamentos, ofensas e até
ameaças de morte. O marido faleceu. Com a ação, a mulher pediu a
aplicação de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
Queria que o filho fosse impedido de se aproximar dela e dos irmãos
no limite mínimo de cem metros de distância, e de manter contato
com eles por qualquer meio de comunicação até a audiência. Queria
ainda a suspensão da posse ou restrição de porte de armas. Em
primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento de mérito.
O juiz considerou que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha têm
natureza processual penal e são vinculadas a um processo criminal.
Não há ação penal no caso. O Tribunal de Justiça de Goiás
reformou a sentença e aplicou as medidas protetivas, por entender
que elas têm caráter civil. O filho apontado como agressor recorreu
ao Superior Tribunal de Justiça contra essa decisão. Segundo o
Ministro Luis Felipe Salomão, a Lei Maria da Penha permite a
incidência do artigo 461, § 5º., do Código de Processo Civil para
concretização das medidas nela previstas. Ele entendeu que, de
forma recíproca e observados os requisitos específicos, é possível
a aplicação da Lei 11.340 no âmbito do processo civil. Seguindo o
voto do relator, a Turma decidiu, por unanimidade de votos, que as
medidas protetivas da Lei Maria da Penha, observados os requisitos
para concessão de cada uma, podem ser pedidas de forma autônoma
para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica
contra a mulher, independentemente da existência, presente ou
potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto
agressor. Nessa hipótese, as medidas de urgência terão natureza de
cautelar cível satisfativa. (Com
informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
V
– OS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
Ora, a própria lei prevê a criação e implementação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que “poderá
ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do
serviço de assistência judiciária”; enquanto não existirem
tais Juizados, “as varas criminais acumularão as competências
cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”
O Juiz Natural é aquele constitucional, legal e previamente
competente para julgar determinada causa criminal, imparcial e
independente, garantindo-se-lhe a inamovibilidade (arts. 95, II e 93,
VIII, CF/88), a irredutibilidade de vencimentos (art. 95, III, CF/88)
e a vitaliciedade (art. 95, I, CF/88).
Vejamos a lição de Rogério Lauria Tucci:
“(...) O acesso do membro da coletividade à Justiça Criminal
reclama, também como garantia inerente ao 'due processo of law'
especificamente no processo criminal, a preconstituição do órgão
jurisdicional competente, sintetizada, correntemente, na dicção do
juiz natural (...) É por isso, aliás, que incidente ao processo
penal a máxima 'tempus criminis regit iudicem',
deve prevalecer, para o conhecimento e julgamento das causas
criminais, a organização judiciária preexistente à prática da
infração penal; (...) Ao imputado confere (a garantia do juiz
natural) a certeza da inadmissibilidade de processamento da causa e
julgamento por juiz ou tribunal distinto daquele tido por competente
à época da prática da infração penal.”23
Para Edgar Silveira Bueno, o Princípio do Juiz Natural “teve
origem, segundo afirma Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho,
citando Ernst Beling: 'como limitação do poder absoluto e para
aprofundar a distinção entre a administração e a justiça, cuja
necessidade já se impunha desde o Iluminismo. Nesse período,
freqüentemente o rei, o príncipe, enfim, o chefe de Estado,
intrometia-se no Judiciário, delegava suas atribuições a outras
pessoas e impedia, assim, que o órgão com atribuição específica
para julgar se pronunciasse em determinado processo (...) Essa
foi, em síntese, a razão fundamental da instituição do princípio
do juiz natural '. (...) Há dois dispositivos constitucionais
que asseguram o respeito ao princípio do juiz natural em nosso texto
magno. São as regras do art. 5º, XXXVII e LIII, segundo as quais
não se admite no Brasil a existência de juízo ou Tribunal de
exceção e impõe-se que as pessoas só podem ser processadas e
julgadas pelas autoridades competentes. Esses dispositivos servem
para garantir ao indivíduo que nenhum juízo ou tribunal será
criado para apurar um delito que já foi praticado.”24
Ada Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo
Cintra afirmam que “as modernas tendências sobre o princípio
do juiz natural nele englobam a proibição de subtrair o juiz
constitucionalmente competente. Desse modo, a garantia desdobra-se em
três conceitos: a) só são órgãos jurisdicionais os instituídos
pela Constituição; b) ninguém pode ser julgado por órgão
constituído após a ocorrência do fato; c) entre os juízes
pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que
exclui qualquer alternativa à discricionariedade de quem quer que
seja. (...) Entende-se que as alterações da competência
introduzidas pela própria Constituição após a prática do ato de
que alguém é acusado não deslocam a competência criminal para o
caso concreto, devendo o julgamento ser feito pelo órgão que era
competente ao tempo do fato (em matéria penal e processual penal, há
extrema preocupação em evitar que o acusado seja surpreendido com
modificações posteriores ao momento em que o fato foi praticado).”25
Em um balanço apresentado no dia 30 de março de 2009, em Brasília,
pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a aplicação da Lei Maria
da Penha mostra que o número de processos em tramitação por
violência doméstica contra mulheres chegou a 150.532 entre julho e
novembro de 2008. Dos processos abertos, 75.829 já foram
sentenciados. Ao todo foram abertas 41.957 ações penais e 19.803
ações cíveis, além de 19.400 medidas protetivas - aquelas
concedidas para proteger vítimas de agressão - e 11.175 agressores
presos em flagrante. A chamada 3ª Jornada de Trabalho sobre a Lei
Maria da Penha avaliou a situação das Varas de Violência Doméstica
e Familiar nos Estados. Em relação à última jornada, realizada no
ano de 2008, o número de Estados que agora apresentam varas ou
juizados especiais para combater a agressão doméstica à mulher
subiu de 17 para 22, mais o Distrito Federal. Segundo o CNJ, os
Estados que ainda não têm o serviço são Roraima, Amapá,
Tocantins e Paraíba. O secretário de Reforma do Judiciário,
Rogério Favreto, afirmou que, no ano passado, o Ministério da
Justiça chegou a investir R$ 16,8 milhões na implantação de sete
varas especializadas e que os órgãos são "estratégicos"
para o enfrentamento do tema. "O juizado é um órgão
agregador e referencial no sentido de responder e enfrentar a
criminalidade, com estrutura multidisciplinar e interligação com os
serviços públicos que recebem as medidas protetivas determinadas
pelos juízes", disse Favreto. O Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que esteve no evento que divulgou os
números, admitiu que há dificuldades em realizar "transformações
culturais" a partir de iniciativas jurídicas. "A
Lei Maria da Penha tem essa pretensão", disse, ao destacar
que as pessoas têm dificuldade de denunciar e de obter algum tipo de
proteção em uma relação "extremamente complexa".
A conselheira Andrea Pachá, presidente da Comissão de Acesso à
Justiça e Juizados Especiais do CNJ, reforçou que os dados
apresentados ainda não estão consolidados. A expectativa do CNJ,
segundo ela, é que, com a criação de um fórum permanente para
debater o assunto, números que indiquem a quantidade e o tipo de
condenações, além do perfil do agressor, sejam divulgados. "São
só indicativos. Nossa prioridade em 2008 foi a instalação das
varas e a formação dos profissionais", afirmou. Fonte:
Agência Brasil (30/03/2009).
De toda maneira, observar que “não sendo o caso de violência
de gênero, caracterizada pela ação ou omissão que revele uma
concepção de dominação, de poder ou submissão do sujeito ativo
contra a mulher, afasta-se a incidência projetiva da lei Maria da
Penha e, de consequência, a competência do juizado de violência
doméstica e familiar contra a mulher, para determinar a remessa dos
autos ao juízo comum, após declarada a nulidade do processo desde o
recebimento da denúncia, inclusive. Processo nulo. Remessa ao juízo
comum.” (TJGO – 2ª C. AP 34734-2/213 – rel. Nelma Branco
Ferreira Perilo – j. 14.04.2009 – DOE 28.04.2009).
VI
– A APLICAÇÃO DA LEI Nº. 9.099/95
Para nós, se a infração penal praticada for um crime de menor
potencial ofensivo (o art. 41 não se refere às contravenções
penais) devem ser aplicadas todas as medidas despenalizadoras
previstas na Lei nº. 9.099/95 (composição civil dos danos,
transação penal e suspensão condicional do processo), além da
medida “descarcerizadora” do art. 69 (Termo Circunstanciado e não
lavratura do auto de prisão em flagrante, caso o autor do fato
comprometa-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal).
Seguindo o mesmo raciocínio, em relação às lesões corporais
leves e culposas, a ação penal continua a ser pública condicionada
à representação, aplicando-se o art. 88 da Lei nº. 9.099/95.26
Cremos que devemos interpretar tal dispositivo à luz da Constituição
Federal e não o contrário. Afinal de contas, como já escreveu
Cappelletti, “a conformidade da lei com a Constituição é o
lastro causal que a torna válida perante todas.”27
Devemos interpretar as leis ordinárias em conformidade com a Carta
Magna, e não o contrário! Segundo Frederico Marques, a Constituição
Federal “não só submete o legislador ordinário a um regime de
estrita legalidade, como ainda subordina todo o sistema normativo a
uma causalidade constitucional, que é condição de legitimidade de
todo o imperativo jurídico.”28
A prevalecer a tese contrária (pela constitucionalidade do artigo),
uma injúria praticada contra a mulher naquelas circunstâncias não
seria infração penal de menor potencial ofensivo (interpretando-se
o art. 41 de forma literal); já uma lesão corporal leve, cuja pena
é o dobro da injúria, praticada contra um idoso ou uma criança
(que também mereceram tratamento diferenciado do nosso legislador –
Lei nº. 10.741/03 e Lei nº. 8.069/90) é um crime de menor
potencial ofensivo. No primeiro caso, o autor da injúria será preso
e autuado em flagrante, responderá a inquérito policial, haverá
queixa-crime, etc., etc. Já o segundo agressor não será autuado em
flagrante, será lavrado um simples Termo Circunstanciado, terá a
oportunidade da composição civil dos danos, da transação penal e
da suspensão condicional do processo, etc., etc. (arts. 69, 74, 76 e
89 da Lei nº. 9.099/95). Outro exemplo: em uma lesão corporal leve
praticada contra uma mulher a ação penal independe de representação
(é pública incondicionada), mas uma lesão corporal leve cometida
contra um infante ou um homem de 90 anos depende de representação.
Outro exemplo: um pai agride e fere levemente seus dois filhos
gêmeos, um homem e uma mulher; receberá tratamento
jurídico-criminal diferenciado. Onde nós estamos!
IX – CONCLUSÃO
Diante destas considerações, entendemos, evidentemente que apenas o
art. 88 da Lei nº. 11.340/2006 (lesões leves e culposas), não deve
ser aplicado (com todas as minhas ressalvas, evidentemenete), nada
obstante, apesar de normas vigentes formalmente (porque aprovadas
pelo Poder Legislativo e promulgadas pelo Poder Executivo), são
substancialmente inválidas, tendo em vista a incompatibilidade
material com a Constituição Federal29.
Relembremos que “não se pode interpretar a Constituição
conforme a lei ordinária (gesetzeskonformen
Verfassunsinterpretation). O contrário é que se faz.”30
Uma coisa é lei vigente, outra é lei válida e outra coisa é
lei eficfaz. Vejamos a lição de Miguel Reale: “Validade formal
ou vigência é, em suma, uma propriedade que diz respeito à
competência dos órgãos e aos processos de produção e
reconhecimento do Direito no plano normativo.”31
Nem toda lei vigente é válida e só a lei válida e que esteja em
vigor deve ser observada pelos cidadãos e operadores de Direito.32
Como afirma Enrique Bacigalupo, “la validez de los textos y de
las interpretaciones de los mismos dependerá de su compatibilidad
con principios superiores. De esta manera, la interpretación de la
ley penal depende de la interpretación de la Constitución.”33
A propósito, Ferrajoli: “Para que una norma exista o esté en
vigor es suficiente que satisfaga las condiciones de validez formal,
condiciones que hacen referencia a las formas y los procedimientos de
acto normativo, así como a la competência del
órgano de que emana. Para que sea válida se necesita por el
contrario que satisfaga también las condiciones de validez
sustancial, que se refieren a su contenido, o sea, a su significado.”
Para o autor, “las
condiciones sustanciales de la validez, y de manera especial las de
la validez constitucional, consisten normalmente en el respeto de
valores
– como la igualdad, la libertad, las garantias de los derechos de
los ciudadanos.”34
(Grifos no original).
Em meados de dezembro do ano de 2007, o Presidente da República,
representado pelo Advogado Geral da União ajuizou, no Supremo
Tribunal Federal, a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)
19, com pedido de liminar, na qual pede a confirmação da validade
da Lei Maria da Penha. A ação traz um histórico de decisões
tomadas por diversos segmentos da Justiça brasileira que contestam a
validade da lei como o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além disso, cita
enunciados aprovados no III Encontro dos Juízes de Juizados
Especiais Criminais e de Turma Recursais contra a Lei Maria da Penha.
O TJMG, por exemplo, estendeu os efeitos da lei aos homens e crianças
que estejam em idêntica situação de violência familiar. Ao pedir
a constitucionalidade da ação, a União ressalta que a lei foi
editada para cumprir a Convenção Interamericana que busca coibir a
violência contra a mulher (Convenção Belém do Pará). Nessa
convenção, o Brasil se comprometeu a “incorporar na sua
legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra
natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a
violência contra a mulher”. Afirma, portanto, que “a Lei
Maria da Penha está em conformidade com a diretriz internacional
adotada por diversos países, a fim de coibir a violência doméstica
ou familiar contra mulheres”. Em relação a igualdade entre
homens e mulheres prevista na Constituição e alegada por alguns
juízes, o advogado-geral afirma que o Poder Constituinte Originário,
ciente da realidade social a ser mudada, impôs ao Estado o dever de
criar mecanismos inibidores da violência doméstica ou familiar
(parágrafo 8, artigo 226). Além disso, destaca estudos como o do
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que demonstra a
disparidade social entre homens e mulheres. No mercado de trabalho a
mulher ocupa trabalhos informais e precários em número muito maior
do que os homens. Os dados também trazem estatísticas de violência
contra as mulheres praticadas pelos companheiros. “Diante dessa
realidade, é patente a necessidade de adoção de medidas
afirmativas em defesa das mulheres, a fim de corrigir a distorção
social existente na sociedade brasileira, ainda patriarcal, uma vez
que o número de mulheres vítimas de violência doméstica ou
familiar, não obstante a falta de dados comparativos, é
notoriamente superior ao dos homens”, afirma o Presidente da
República. Com base nos argumentos, a ação pede a concessão de
liminar para suspender os efeitos de quaisquer decisões que, direta
ou indiretamente, neguem vigência à lei e a considere
inconstitucional. Por fim, no mérito, pede a declaração de
constitucionalidade, principalmente dos artigos 1º, 33 e 41, da Lei
Maria da Penha. O relator da ação é o Ministro Marco Aurélio,
que negou a liminar. Ao analisar o pedido de liminar, o Ministro
Marco Aurélio afirmou que o pedido requer “de forma precária e
efêmera, sejam suspensos atos que, direta ou indiretamente neguem
vigência à citada Lei”. Para ele, a decisão seria um passo
muito largo e que não estaria de acordo com os princípios
democráticos que nortearam o Constituinte de 1988. “A
paralisação dos processos e o afastamento de pronunciamentos
judiciais, sem ao menos aludir-se à exclusão daqueles cobertos pela
preclusão maior, mostram-se extravagantes, considerada a ordem
jurídico-constitucional”, afirmou, uma vez que os processos
que já teriam sido decididos não poderiam ser desconstituídos
através de uma decisão liminar. Em relação a eventuais aplicações
distorcidas da lei, que a tenham como inconstitucional, destacou que
podem ser corrigidas ante o sistema recursal vigente, ou seja, quem
se sentir prejudicado por uma decisão judicial que não aplique de
forma correta a lei, poderá recorrer desta decisão ou, ainda,
ajuizar ação cabível para garantir direitos conferidos pela
Constituição Federal. Disse também, que “as portas do
Judiciário hão de estar abertas, sempre e sempre, aos cidadãos,
pouco importando o gênero”.35
Janaína Paschoal adverte: “O perigo que vislumbramos na
nova lei é justamente o de, novamente, prevalecer o caminho mais
fácil, qual seja o de simplesmente prender-se o agressor,
tratando-se como uma ´safada` que gosta de apanhar que, depois de
denunciar, se opõe a essa prisão. (...) A idéia de que a
Mulher precisa se libertar, psicologicamente, de seu agressor é
totalitária, e tão preconceituosa como a que deve se submeter às
vontades do marido.”36
Não olvidemos, outrossim, que a exclusão do Juizado Especial
Criminal para o processo e julgamento de tais crimes só facilitará
o transcurso do prazo prescricional (e a extinção da punibilidade),
pois, optando por outros procedimentos (especiais ou sumário)
certamente a demora na aplicação da pena será bem maior do que,
por exemplo, se houvesse a possibilidade (bem ou mal) da transação
penal (com a proposta imediata de uma pena alternativa).
Segundo o jornal Folha de São Paulo, edição on line do dia 07 de
agosto de 2008, “o número de denúncias de agressões a
mulheres no país mais do que dobrou no comparativo do primeiro
semestre deste ano em relação a igual período de 2007. Números
apresentados nesta quinta-feira pela Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres com base no número de serviço 180 --a central de
atendimento à mulher-- apontam que de janeiro a junho de 2008 foram
feitos 121.891 contra 58.417 em igual período de 2007, num
incremento de 107,9%. A lei Maria da Penha, que pune com mais rigidez
os agressores de mulheres, completa dois anos hoje. Os dados mostram
ainda um crescimento quase três vezes e meio superior na quantidade
de pessoas que pretendem se informar sobre a lei. Enquanto no
primeiro semestre do ano passado 11.020 ligações foram atendidas
com o intuito de prestar esclarecimentos sobre a lei, no primeiro
semestre de 2008 os atendimentos foram de 49.025. Distrito Federal,
São Paulo, Pará e Goiás lideram o ranking das denúncias. Na outra
ponta estão Acre, Maranhão e Amazonas. O levantamento mostra que
61,5% das mulheres informaram sofrer agressões diariamente e outras
17,8% são alvo toda semana de destratos. A maior parte das agressões
(63,9%) são praticadas pelos próprios companheiros. Em 58,4% dos
casos relatados, os agressores estavam bêbados ou eram usuários de
drogas. Segundo a subsecretária Aparecida Gonçalves, da área de
Enfrentamento à Violência da Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres, a maior incidência de denúncias na região
Centro-Oeste do país se deve ao que ela considera um maior nível de
informação a respeito da legislação que estabelece maior rigor
nas punições aos agressores de mulheres. Isso relativiza o fato de
Estados do extremo do país apareçam nas últimas colocações. "A
cada ano temos uma maior divulgação da lei, e a medida que ela
passa a ter uma maior efetividade, isso reflete nas denúncias. Só
as respostas efetivas aos casos de agressões virão a fortalecer
esses números", afirma Gonçalves. Apesar de a maior parcela
das agressões ser cometida quando o parceiro está drogado ou
bêbado, ela afirma que a questão é cultural. "Se fosse só a
agressão em si, ele [agressor] bateria num amigo do bar, não na
mulher, ao chegar em casa", afirma. Durante cerimônia ocorrida
no Palácio do Planalto, foram mostrados também os resultados de uma
pesquisa a respeito da lei Maria da Penha. A pesquisa Ibope/Themis
(Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero) --esta última uma ONG
gaúcha-- revelou que 68% da população brasileira já ouviu falar
da lei. Outros 82% conhecem a sua eficácia. A consulta foi realizada
entre os dias 17 e 21 de julho, com 2.002 entrevistados em 142
municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos
percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostra que 32% não
conhece e nem ouviu falar da lei. Um quinto dos pesquisados (20%)
respondeu acreditar que a lei Maria da Penha coloca o agressor na
cadeia e 33% afirmaram que ela inibe a violência doméstica. Após
ser agredida, segundo os respondentes, 38% das mulheres procuram as
delegacias especializadas de atendimento à mulher e 19% outras
delegacias. Para 42% dos entrevistados, as mulheres não procuram
serviço de apoio.”
A título de conclusão, e para refletirmos, oportuna também a
transcrição da lição de Roberta Toledo Campos:
“O homem exalta a violência. Virou o grande monstro que ameaça
a família. O povo grita por socorro. E o Estado, num
ato salvacionista, edita a Lei Maria da Penha. Lógico! Como é
inadimplente na implementação dos direitos fundamentais, como
educação, saúde, moradia, cultura, emprego etc., e, assim, gerador
de muitas das mazelas humanas, faz uso de uma de suas atribuições a
mais viável economicamente: o processo legislativo e o sistema
penal. Ao criar leis, o Estado transmite ao povo carente de
direitos fundamentais a sensação de dever cumprido, já que as leis
entram em vigor imediatamente e induzem a ilusão de que agora temos
leis fortes, que não deixam mais brechas para a
impunidade. (...) Não nos escapa que é momento de refletir
sobre a crise da masculinidade e da feminilidade. Há dúvida de que
a natureza determina de modo tão sumário a diferença entre
masculino e feminino. Homem, mulher, masculino e feminino são
construções. Efetivamente, muitos de nós criticamos o modelo
masculino ou feminino sob o qual fomos criados. Já se sabe
atualmente que é possível ser homem sem ser macho e opressor. O
desmoronamento dos modelos tradicionais de gênero é mais uma
possibilidade do que uma perda. É a possibilidade de mudança. E é
esta crise que nos leva à auto-reflexão para a construção de um
novo ser humano. Ser humano este não determinado por sua biologia,
mas capaz de encontrar livremente a sua própria identidade, o seu
ser, tomando o cuidado para não cometer o erro de supor a
possibilidade de uma nova síntese, de uma nova identidade
estereotipada. (...) Não é possível diante da
principiologia democrática constitucionalizada estabelecer modelos
de identidade masculina ou feminina. Estereotipar a identidade em
masculino e feminino é, no mínimo, discriminatório. Falar em
encontrar uma nova identidade masculina ou feminina é um equívoco.
É possível apenas refletir sobre a construção da nova identidade
do sujeito constitucional no atual Estado Democrático de Direito.”37
Finalmente,
por maioria de votos, vencido o Ministro Cezar Peluso, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal julgou procedente, na sessão do dia 09 de
fevereiro de 2012, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
4424) ajuizada pela Procuradoria-Geral da República quanto aos
artigos 12, inciso I; 16; e 41 da Lei Maria da Penha. A corrente
majoritária da Corte acompanhou o voto do relator, Ministro Marco
Aurélio, no sentido da possibilidade de o Ministério Público dar
início à ação penal sem necessidade de representação da vítima.
Para a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, o artigo 16
da lei acaba por esvaziar a proteção constitucional assegurada às
mulheres. Também foi esclarecido que não compete aos Juizados
Especiais Criminais julgar os crimes cometidos no âmbito da Lei
Maria da Penha. A mulher, conforme o Ministro,é vulnerável quando
se trata de constrangimentos físicos, morais e psicológicos
sofridos em âmbito privado. “Não há dúvida sobre o histórico
de discriminação por ela enfrentado na esfera afetiva. As agressões
sofridas são significativamente maiores do que as que acontecem –
se é que acontecem – contra homens em situação similar”,
avaliou. Para o Ministro, a Lei Maria da Penha “retirou da
invisibilidade e do silêncio a vítima de hostilidades ocorridas na
privacidade do lar e representou um movimento legislativo claro no
sentido de assegurar às mulheres agredidas o acesso efetivo a
reparação, a proteção e a justiça”. Ele entendeu que a
norma mitiga realidade de discriminação social e cultural “que,
enquanto existente no país, legitima a adoção de legislação
compensatória a promover a igualdade material sem restringir de
maneira desarrazoada o direito das pessoas pertencentes ao gênero
masculino”, ressaltando que a Constituição Federal protege,
especialmente, a família e todos os seus integrantes. No entanto, o
relator apontou que o ordenamento jurídico brasileiro prevê
tratamento distinto e proteção especial a outros sujeitos de
direito em situação de hipossuficiência, como é o caso do idoso,
da criança e do adolescente. O Ministro Marco Aurélio considerou
constitucional o preceito do artigo 33, da Lei 11.340/2006, segundo o
qual enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as
competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher, “observadas as previsões do Título IV desta Lei,
subsidiada pela legislação processual pertinente”. Ele
ressaltou não haver ofensa ao artigo 96, inciso I, alínea “a” e
125, parágrafo 1º, da CF, mediante os quais se confere aos estados
a competência para disciplinar a organização judiciária local. “A
Lei Maria da Penha não implicou obrigação, mas a faculdade de
criação dos Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher”,
salientou, ao lembrar que não é inédita no ordenamento a
elaboração de sugestão, mediante lei federal, para a criação de
órgãos jurisdicionais especializados em âmbito estadual. Nesse
sentido, citou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de
Falência, entre outros. Assim, o relator entendeu que, por meio do
artigo 33, da Lei 11.340/06, não se criam varas judiciais, não se
definem limites de comarcas e não se estabelecem um número de
magistrados a serem alocados aos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar, “temas evidentemente concernentes às peculiaridades e
circunstâncias locais”. “No preceito, apenas se faculta a
criação desses juizados e se atribui ao juiz da vara criminal a
competência cumulativa das ações cíveis e criminais envolvendo
violência doméstica contra mulher ante a necessidade de conferir
tratamento uniforme especializado e célere em todo o território
nacional sobre a matéria”.
Primeira
a acompanhar o relator, a Ministra Rosa Weber afirmou que exigir da
mulher agredida uma representação para a abertura da ação atenta
contra a própria dignidade da pessoa humana. “Tal
condicionamento implicaria privar a vítima de proteção
satisfatória à sua saúde e segurança”, disse. Segundo ela,
é necessário fixar que aos crimes cometidos com violência
doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena
prevista, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais Criminais.
Dessa forma, ela entendeu que o crime de lesão corporal leve, quando
praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher,
processa-se mediante ação penal pública incondicionada. Ao
acompanhar o voto do relator quanto à possibilidade de a ação
penal com base na Lei Maria da Penha ter início mesmo sem
representação da vítima, o Ministro Luiz Fux afirmou que não é
razoável exigir-se da mulher que apresente queixa (sic) contra o
companheiro num momento de total fragilidade emocional em razão da
violência que sofreu. “Sob o ângulo da tutela da dignidade da
pessoa humana, que é um dos pilares da República Federativa do
Brasil, exigir a necessidade da representação, no meu modo de ver,
revela-se um obstáculo à efetivação desse direito fundamental
porquanto a proteção resta incompleta e deficiente, mercê de
revelar subjacentemente uma violência simbólica e uma afronta a
essa cláusula pétrea.” Ao acompanhar o posicionamento do
relator, o Ministro Dias Toffoli salientou que o voto do Ministro
Marco Aurélio está ligado à realidade. O Ministro afirmou que o
Estado é “partícipe” da promoção da dignidade da
pessoa humana, independentemente de sexo, raça e opções, conforme
prevê a Constituição Federal. Assim, fundamentando seu voto no
artigo 226, parágrafo 8º, no qual se preceitua que “o Estado
assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de
suas relações”, o Ministro Dias Toffoli acompanhou o relator.
A Ministra Cármen Lúcia destacou a mudança de mentalidade pela
qual passa a sociedade no que se refere aos direitos das mulheres.
Citando ditados anacrônicos – como “em briga de marido e
mulher, não se mete a colher” e “o que se passa na cama é
segredo de quem ama” –, ela afirmou que é dever do Estado
adentrar ao recinto das “quatro paredes” quando na relação
conjugal que se desenrola ali houver violência. Para ela, discussões
como estas são importantíssimas nesse processo. “A
interpretação que agora se oferece para conformar a norma à
Constituição me parece basear-se exatamente na proteção maior à
mulher e na possibilidade, portanto, de se dar cobro à efetividade
da obrigação do Estado de coibir qualquer violência doméstica. E
isso que hoje se fala, com certo eufemismo e com certo cuidado, de
que nós somos mais vulneráveis, não é bem assim. Na verdade, as
mulheres não são vulneráveis, mas sim mal tratadas, são mulheres
sofridas”, asseverou. Ao acompanhar o relator, o Ministro
Ricardo Lewandowski chamou atenção para aspectos em torno do
fenômeno conhecido como “vício da vontade” e salientou a
importância de se permitir a abertura da ação penal
independentemente de a vítima prestar queixa. “Penso que nós
estamos diante de um fenômeno psicológico e jurídico, que os
juristas denominam de vício da vontade, e que é conhecido e
estudado desde os antigos romanos. As mulheres, como está
demonstrado estatisticamente, não representam criminalmente contra o
companheiro ou marido, em razão da permanente coação moral e
física que sofrem e que inibe a sua livre manifestação da
vontade”, finalizou. Mesmo afirmando ter dificuldade em saber
se a melhor forma de proteger a mulher é a ação penal pública
condicionada à representação da agredida ou a ação
incondicionada, o Ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator.
Segundo ele, em muitos casos a ação penal incondicionada poderá
ser um elemento de tensão e desagregação familiar. “Mas como
estamos aqui fixando uma interpretação que, eventualmente,
declarando (a norma) constitucional, poderemos rever, diante
inclusive de fatos, vou acompanhar o relator”, disse. O
Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, afirmou que a Constituição
Federal trata de certos grupos sociais ao reconhecer que eles estão
em situação de vulnerabilidade. Para ele, quando o legislador, em
benefício desses grupos, edita uma lei que acaba se revelando
ineficiente, é dever do Supremo, levando em consideração dados
sociais, rever as políticas no sentido da proteção. “É o que
ocorre aqui”, concluiu. Para o Ministro Ayres Britto, em
contexto patriarcal e machista, a mulher agredida tende a
condescender com o agressor. “A proposta do relator no sentido
de afastar a obrigatoriedade da representação da agredida como
condição de propositura da ação penal pública me parece rimar
com a Constituição”, concluiu. O Ministro Celso de Mello,
também acompanhou o relator. “Estamos interpretando a lei
segundo a Constituição e, sob esse aspecto, o ministro-relator
deixou claramente estabelecido o significado da exclusão dos atos de
violência doméstica e familiar contra a mulher do âmbito normativo
da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), com todas as
consequências, não apenas no plano processual, mas também no plano
material”, disse. Para o Ministro Celso de Mello, a Lei Maria
da Penha é tão importante que, como foi salientado durante o
julgamento, é fundamental que se dê atenção ao artigo 226,
parágrafo 8º, da Constituição Federal, que prevê a prevenção
da violência doméstica e familiar. Único a divergir do relator, o
Ministro Cezar Peluso, advertiu para os riscos que a decisão de hoje
pode causar na sociedade brasileira porque não é apenas a doutrina
jurídica que se encontra dividida quanto ao alcance da Lei Maria da
Penha. Citando estudos de várias associações da sociedade civil e
também do IPEA, apontou as conclusões acerca de uma eventual
conveniência de se permitir que os crimes cometidos no âmbito da
lei sejam processados e julgados pelos Juizados Especiais, em razão
da maior celeridade de suas decisões. “Sabemos que a celeridade
é um dos ingredientes importantes no combate à violência, isto é,
quanto mais rápida for a decisão da causa, maior será sua
eficácia. Além disso, a oralidade ínsita aos Juizados Especiais é
outro fator importantíssimo porque essa violência se manifesta no
seio da entidade familiar. Fui juiz de Família por oito anos e sei
muito bem como essas pessoas interagem na presença do magistrado.
Vemos que há vários aspectos que deveriam ser considerados para a
solução de um problema de grande complexidade como este”,
salientou. Quanto ao entendimento majoritário que permitirá o
início da ação penal mesmo que a vítima não tenha a iniciativa
de denunciar o companheiro-agressor, o Ministro Peluso advertiu que,
se o caráter condicionado da ação foi inserido na lei, houve
motivos justificados para isso. “Não posso supor que o
legislador tenha sido leviano ao estabelecer o caráter condicionado
da ação penal. Ele deve ter levado em consideração, com certeza,
elementos trazidos por pessoas da área da sociologia e das relações
humanos, inclusive por meio de audiências públicas, que
apresentaram dados capazes de justificar essa concepção da ação
penal”, disse. Ao analisar os efeitos práticos da decisão, o
Ministro afirmou que é preciso respeitar o direito das mulheres que
optam por não apresentar queixas (sic) contra seus companheiros
quando sofrem algum tipo de agressão. “Isso significa o
exercício do núcleo substancial da dignidade da pessoa humana, que
é a responsabilidade do ser humano pelo seu destino. O cidadão é o
sujeito de sua história, é dele a capacidade de se decidir por um
caminho, e isso me parece que transpareceu nessa norma agora
contestada”, salientou. O Ministro citou como exemplo a
circunstância em que a ação penal tenha se iniciado e o casal,
depois de feitas as pazes, seja surpreendido por uma condenação
penal.
Na
mesma sessão, agora por unanimidade, os Ministros acompanharam o
voto do relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)
nº 19, Ministro Marco Aurélio, e concluíram pela procedência do
pedido a fim de declarar constitucionais os artigos 1º, 33 e 41, da
Lei Maria da Penha. Neste julgamento, o relator afirmou que “a
mulher é eminentemente vulnerável quando se trata de
constrangimentos físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito
privado”, salientando que a norma mitiga a realidade de
discriminação social e cultural. Com a decisão, a Suprema Corte
declarou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) 19, ajuizada pela Presidência da República com objetivo de
propiciar uma interpretação judicial uniforme dos dispositivos
contidos nesta lei. A Presidência da República apontava a
existência de conflitos na interpretação da lei, pois há diversos
pronunciamentos judiciais declarando a constitucionalidade das normas
objeto da ADC e outras que as reputam inconstitucionais. Primeira a
votar após o Ministro Marco Aurélio, relator da ação, a Ministra
Rosa Weber disse que a Lei Maria da Penha “inaugurou uma nova
fase de ações afirmativas em favor da mulher na sociedade
brasileira”. Segundo ela, essa lei “tem feição
simbólica, que não admite amesquinhamento”. No mesmo sentido,
o Ministro Luiz Fux disse que a lei está em consonância com a
proteção que cabe ao Estado dar a cada membro da família, nos
termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Em
seu voto, a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha observou que
julgamentos como o de hoje “significam para mulher que a luta
pela igualação e dignificação está longe de acabar”. Ela
exemplificou a discriminação contra a mulher em diversas situações,
inclusive contra ela própria, no início de sua carreira. Já hoje,
segundo ela, a discriminação é mais disfarçada, em muitos casos.
“Não é que não discriminem; não manifestam essa
discriminação”, observou. Por isso, segundo ela, a luta pelos
direitos humanos continua. “Enquanto houver uma mulher sofrendo
violência neste planeta, eu me sentirei violentada”, afirmou.
Ao acompanhar o voto do relator, o Ministro Ricardo Lewandowski
lembrou que quando o artigo 41 da Lei Maria da Penha retirou os
crimes de violência doméstica do rol dos crimes menos ofensivos,
retirando-os dos Juizados Especiais, colocou em prática uma política
criminal com tratamento mais severo, consentâneo com sua gravidade.
Por seu turno, o Ministro Ayres Britto disse, em seu voto, que a lei
está em consonância plena com a Constituição Federal, que se
enquadra no que denominou “constitucionalismo fraterno” e
prevê proteção especial da mulher. “A Lei Maria da Penha é
mecanismo de concreção da tutela especial conferida pela
Constituição à mulher. E deve ser interpretada generosamente para
robustecer os comandos constitucionais”, afirmou. “Ela
rima com a Constituição”. O Ministro Gilmar Mendes observou
que o próprio princípio da igualdade contém uma proibição de
discriminar e impõe ao legislador a proteção da pessoa mais frágil
no quadro social. Segundo ele, “não há inconstitucionalidade
em legislação que dá proteção ao menor, ao adolescente, ao idoso
e à mulher. Há comandos claros nesse sentido”. O Ministro
Celso de Mello, de sua parte, lembrou que a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos teve uma importante participação no surgimento
da Lei Maria da Penha. Na época em que Maria da Penha Maia
Fernandes, que deu nome à lei, havia sofrido violência por parte de
seu então marido, a comissão disse que o crime deveria ser visto
sob a ótica de crime de gênero por parte do Estado brasileiro. Na
época, ainda segundo o Ministro, a comissão entendeu que a
violência sofrida por Maria da Penha era reflexo da ineficácia do
Judiciário e recomendou uma investigação séria e a
responsabilização penal do autor. Também recomendou que houvesse
reparação da vítima e a adoção, pelo Estado brasileiro, de
medidas de caráter nacional para coibir a violência contra a
mulher. “Até 2006 (data de promulgação da lei), o Brasil não
tinha uma legislação para coibir a violência contra a mulher”,
observou. Isso porque, anteriormente, os crimes de violência
doméstica eram julgados pelos Juizados Especiais, criados pela Lei
9.099 para julgar crimes de menor poder ofensivo.
Na
esteira destas decisões, a Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, cassou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul que mantivera a extinção de ação penal contra
acusado de agredir a mulher em ambiente doméstico. A Ministra julgou
procedente a Reclamação 14620, apresentada pelo Ministério Público
estadual e determinou, também, o prosseguimento da ação penal.
Para a relatora, o TJ-MS divergiu do entendimento adotado pela
Suprema Corte nos autos da ADI 4424, que garantiu a natureza pública
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal
praticado contra a mulher no ambiente doméstico, não importando sua
extensão. A corte estadual manteve decisão de magistrado de
primeiro grau que, em decorrência da retratação da vítima,
extinguiu ação penal. Para justificar a manutenção da eficácia
do dispositivo que já havia sido decretado inconstitucional pelo
STF, o TJ-MS proferiu acórdão sustentando que, como a retratação
ocorrera antes do julgamento da ADI 4424, não se poderia falar em
sua aplicação retroativa “se a ofendida, antes do recebimento
da denúncia, expressamente manifestou perante a autoridade judicial
seu desejo em não prosseguir com a ação”. A Ministra Rosa
Weber afastou o fundamento do TJ-MS de que a decisão do Supremo não
poderia retroagir para atingir a retratação ou os crimes praticados
anteriormente. “O Supremo é intérprete da lei, e não
legislador. Pretendesse o Supremo limitar temporalmente a eficácia
da decisão, ter-se-ia servido da norma prevista no artigo 27 da Lei
9.868/1999 que permite tal espécie de modulação. Não foi, porém,
estabelecido qualquer limitador temporal ao decidido nas referidas
ações constitucionais”, destacou a Ministra. A relatora
apontou, também, que no julgamento da ADI 4424, a Suprema Corte
entendeu que deixar a mulher – autora da representação –
decidir sobre o iní cio da ação penal significaria desconsiderar a
assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, o
que contribuiria para reduzir sua proteção e prorrogar o quadro de
violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. No caso dos
autos, em janeiro de 2011, uma mulher compareceu à Delegacia de
Atendimento à Mulher de Dourados (MS) e comunicou ter sido agredida
por seu companheiro, que a jogou contra os móveis e contra a parede
da casa, causando-lhe ferimento na cabeça. Posteriormente, em juízo,
a vítima retratou-se da representação e, em decisão proferida em
29 de fevereiro de 2012, vinte dias depois de o STF dar interpretação
conforme a Constituição ao artigo 16 da Lei Maria da Penha, que
admitia a interrupção do processo após retratação da vítima,
foi decretado extinto o processo. Fonte: STF.
Ainda
no Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, o Ministro
Ricardo Lewandowski determinou ao magistrado responsável pelo
Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e
Especial Criminal da Comarca de Natividade (RJ) que prossiga na
instrução da ação penal instaurada contra um homem acusado de
agredir a companheira. A decisão, de caráter liminar, ocorreu no
âmbito de Reclamação (RCL 15890) apresentada pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro. Ao conceder a liminar na
Reclamação, o ministro Lewandowski afirmou que a decisão do TJ-RJ
afrontou a autoridade das decisões do STF na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4424 e na Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) 19, quando a Corte assentou a natureza
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal
praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher.
O Ministro transcreveu parte do acórdão, enfatizando o entendimento
majoritário na Corte no sentido de que não seria razoável deixar a
atuação estatal a critério da vítima porque a proteção à
mulher se esvaziaria se ela pudesse, depois de procurar a política e
denunciar a agressão, voltar atrás e retirar a queixa. “O
órgão ora atacado [TJ-RJ], por sua vez, seguiu a linha de
orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada no sentido de que o crime de leão corporal leve, ainda
que aplicada a Lei 11.340/2006, exige representação da ofendida.
Ignorou-se, portanto, que esse entendimento fora alterado pelo
Supremo Tribunal Federal nas referidas ações de controle
concentrado de constitucionalidade, cujas decisões são dotadas de
efeitos vinculantes e erga omnes”, concluiu o relator.
Ademais,
a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4424 produziu efeitos antes mesmo da
publicação do acórdão. Com base nesse entendimento, o Ministro do
STF Luís Roberto Barroso deferiu liminar em Reclamação (RCL 16031)
para manter o curso de ação penal contra um morador de Osasco (SP),
acusado de agredir a ex-companheira em ambiente doméstico. Ao
analisar a liminar na RCL 4424, o Ministro Luís Roberto Barroso
considerou presente a plausibilidade jurídica da tese defendida pelo
MP-SP “de que proferida decisão em ADI, seu efeito vinculante
produz-se antes da publicação, o que conduz à conclusão, em exame
preambular, de que a decisão atacada afronta a autoridade decisória
da Corte”, disse o ministro-relator. Segundo Barroso, “o
perigo na demora decorre da possibilidade de o decurso do tempo
prejudicar a persecução criminal, atingindo-a com a prescrição”.
Diante disso, o ministro deferiu a liminar para suspender o efeito da
decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Osasco que declarou extinta a punibilidade do autor pela renúncia da
representação. Assim, o ministro determinou que o juízo reclamado
seja comunicado da decisão, de modo a viabilizar o andamento do
processo, considerando a natureza pública incondicionada de eventual
ação penal, nos termos do julgado na ADI 4424 pelo Supremo Tribunal
Federal.
Decididamente, estamos à mercê de analfabetos funcionais ou de
ignorantes em Direito!38
1 Rômulo de Andrade Moreira é Procurador-Geral de Justiça Adjunto para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Estado da Bahia. Foi Assessor Especial da Procuradoria Geral de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Ex- Procurador da Fazenda Estadual. Professor de Direito Processual Penal da Universidade Salvador - UNIFACS, na graduação e na pós-graduação (Especialização em Direito Processual Penal e Penal e Direito Público). Pós-graduado, lato sensu, pela Universidade de Salamanca/Espanha (Direito Processual Penal). Especialista em Processo pela Universidade Salvador - UNIFACS (Curso então coordenado pelo Jurista J. J. Calmon de Passos). Membro da Association Internationale de Droit Penal, da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e Membro fundador do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (atualmente exercendo a função de Secretário). Associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Integrante, por quatro vezes, de bancas examinadoras de concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado da Bahia. Professor convidado dos cursos de pós-graduação dos Cursos JusPodivm (BA), Praetorium (MG) e IELF (SP). Autor das obras “Curso Temático de Direito Processual Penal” e “Comentários à Lei Maria da Penha” (em coautoria com Issac Guimarães), ambas editadas pela Editora Juruá, 2010 (Curitiba); “A Prisão Processual, a Fiança, a Liberdade Provisória e as demais Medidas Cautelares” (2011), “Juizados Especiais Criminais – O Procedimento Sumaríssimo” (2013) e “A Nova Lei de Organização Criminosa”, publicadas pela Editora LexMagister, (Porto Alegre), além de coordenador do livro “Leituras Complementares de Direito Processual Penal” (Editora JusPodivm, 2008). Participante em várias obras coletivas. Palestrante em diversos eventos realizados no Brasil.
2
O Engenheiro e Professor
de Astronomia, Octavio Mangabeira, nascido em Salvador, foi
Governador da Bahia
(primeiro Governador eleito após os anos da Era
Vargas) e membro da Academia
Brasileira de Letras. Teve uma longa carreira política que lhe
rendeu dois exílios. Em 1912
foi eleito Deputado
Federal e, em 1926,
no Governo Washington
Luís, Ministro do Exterior. Após o fim do Estado Novo,
elegeu-se Deputado Constituinte em1945. Elegeu-se Senador da
República em 1958,
falecendo durante o mandato. No seu secretariado, quando Governador
da Bahia, aglutinou as maiores inteligências da Bahia, como o
grande educador Anísio
Teixeira (Secretário de Educação). Aliás, foi nesta época
que se projetou a construção do maior e mais revolucionário
projeto educacional da História do Brasil: a Escola
Parque, concebida por Anísio Teixeira, para uma educação em
tempo integral, décadas depois resgatadas em projetos como CIAC
e CIEPs.
3
Sobre o assunto, além de vários artigos já publicados na
internet, indicamos: “Comentários à Lei de Violência Doméstica
e Familiar contra Mulher”, obra coletiva publicada pela Editora
Lumen Juris (2008) e organizada por Adriana Ramos de Mello;
“Violência Doméstica”, de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo
Batista Pinto, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007;
“Violência Doméstica”, de Stela Valéria Soares de Farias
Cavalcanti, Salvador: Editora JusPodivm, 2007 e “Estudos sobre as
novas leis de violência doméstica contra a mulher e de tóxicos”,
obra coletiva coordenada por André Guilherme Tavares de Freitas,
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007.
4
“O declínio
primitivo e que deu azo ao presente conflito afirmou não se tratar
de violência de gênero, uma vez que as envolvidas são do sexo
feminino. Na esteira do vem decidindo o STJ, o sujeito passivo da
violência doméstica, objeto da Lei 11.340/06 é a mulher, sendo
certo que o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher,
desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica,
familiar ou de afetividade, o que restou cabalmente demonstrado
neste autos, de onde exsurge a hipótese contemplada no inciso II,
do art. 5º, da Lei da regência. Ademais a condição peculiar da
mulher (vítima) prevista no art. 4º, da Lei Especial, está
perfeitamente delineada com o fim social a que se destina a
legislação em comento. A Lei Maria da Penha é um exemplo de
implementação para a tutela do gênero feminino, justificando-se
pela situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em que se
encontram as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar”
(TJRJ – 8ª C. CC 2009.055.00401 – rel. Gilmar Augusto Teixeira
– j.30.09.2009).
5
“Lesão
corporal cometido por sogra à nora. I – Conflito suscitado no
juízo criminal comum em face de Juizado de Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, para julgamento de
delito praticado na vigência da Lei 11.340/06. II – O artigo 129,
§ 9º do Código Penal é aplicável às hipóteses de violência
doméstica, nas quais a lesão corporal é praticada contra pessoas
que integram estrutura familiar, in casu sogra e nora, ligadas,
portanto, por laços de afinidade, não importando se entre pessoas
do mesmo sexo, amoldando-se os fatos, em consequência, ao disposto
5º e 14 da Lei 11.340/06. Conflito Procedente”
(TJRJ – 2ª C. CC 2009.055.00320 – rel. Kátia Jangutta –
j.03.09.2009).
6
O namoro é uma relação íntima de afeto sujeita à aplicação da
Lei 11.340/06. Quando a agressão é praticada em decorrência dessa
relação, o Ministério Público pode requerer medidas para
proteger a vítima e seus familiares. O entendimento é da 6ª.
Turma do Superior Tribunal de Justiça e foi firmado no julgamento
do pedido de Habeas Corpus de um agressor que tentava suspender a
proibição de chegar a menos de 50 metros da ex-namorada e do filho
dela. A restrição foi imposta pela Justiça do Rio Grande do Sul
em ação proposta pelo Ministério Público com base na Lei Maria
da Penha. A defesa do agressor alegou a inconstitucionalidade da lei
por privilegiar a mulher em detrimento do homem, a ilegitimidade do
Ministério Público e disse que não havia relação doméstica
entre o casal, pois namoraram por pouco tempo, sem a intenção de
constituir família. De acordo com o inquérito policial, a vítima
trabalhava com o agressor e os dois namoraram por quatro anos. Após
o término do relacionamento, o agressor passou a espalhar panfletos
difamatórios contra a ex-namorada, pichou o muro de sua residência
e é suspeito de ter provocado um incêndio na garagem da casa dela.
Seguindo o voto da relatora no STJ, desembargadora convocada Jane
Silva, a 6ª Turma negou o pedido. Para a relatora, um namoro de
quatro anos configura, para os efeitos da Lei Maria da Penha,
relação doméstica ou de família, não simplesmente pela duração,
mas porque o namoro é um relacionamento íntimo. A própria lei
afasta a necessidade de coabitação para caracterizar a relação
íntima de afeto. Assim, o Ministério Público tem legitimidade
para propor medidas de proteção. A decisão ressalta ainda que
declarar a constitucionalidade ou não da lei é atribuição do
Supremo Tribunal Federal. A relatora ainda esclareceu que a 3ª
Seção do STJ, no julgamento dos conflitos de competência 91.980 e
94.447, não decidiu se a relação de namoro é ou não alcançada
pela Lei Maria da Penha. O entendimento da Corte Superior naqueles
casos específicos foi de que a violência praticada contra a mulher
não decorria da relação de namoro. De acordo com Jane Silva,
quando há a comprovação de que a violência praticada contra a
mulher, vítima de violência doméstica por sua vulnerabilidade e
hipossuficiência, decorre do namoro e que esta relação,
independentemente de coabitação, pode ser considerada íntima,
aplica-se a Lei Maria da Penha. (HC
92.875).
8
Firmada em 1994 na cidade brasileira de Belém do Pará, adotada
pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 6
de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995.
10
Como se sabe, a antijuridicidade de um comportamento é composta
pelo chamado desvalor da ação e pelo desvalor do resultado; o
primeiro, segundo Cezar Roberto Bitencourt, é a “forma
ou modalidade de concretizar a ofensa”,
enquanto que o segundo é “a
lesão ou exposição a perigo do bem ou interesse juridicamente
protegido.” Este
mesmo autor, citando agora Jescheck, ensina que modernamente a
“antijuridicidade
do fato não se esgota na desaprovação do resultado, mas que ‘a
forma de produção’ desse resultado, juridicamente desaprovado,
também deve ser incluído no juízo de desvalor.”
(Teoria Geral do Delito, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
p. 121/124). Segundo Luiz Flávio Gomes, deve-se a Welzel “o
enfoque do delito como desvalor da ação (negação de um valor
pela ação) mais desvalor do resultado. (...)
O delito não é
fruto exclusivamente do desvalor do resultado, senão sobretudo (na
visão de Welzel) do desvalor da ação, que, no seu sistema, goza
de primazia. O desvalor da ação, de qualquer modo, passa a
constituir requisito obrigatório de todo delito.”
(Estudos de Direito Penal e Processo Penal, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1999, pp. 220/221). Assim, é inegável que o
estudo da antijuridicidade leva à conclusão de que esta se perfaz
não apenas com a valoração do resultado como também (e tanto
quanto) com o juízo de valor a respeito da ação (ou omissão).
Munõz Conde, na sua Teoria Geral do Delito, explica bem esta
dicotomia e a imprescindibilidade da conjunção entre estes dois
elementos: “Nem
toda lesão ou colocação em perigo de um bem jurídico (desvalor
do resultado) é antijurídica, mas apenas aquela que deriva de uma
ação desaprovada pelo ordenamento jurídico (desvalor da ação).”
Em vista dessa percepção, diz o mesmo autor que o Direito Penal
“não sanciona toda
lesão ou colocação em perigo de um bem jurídico, mas só aquelas
que são conseqüências de ações especialmente intoleráveis.”
E continua o mestre espanhol: “Ambos
os conceitos, desvalor da ação e desvalor do resultado, são
igualmente importantes na configuração da antijuridicidade, de vez
que estão perfeitamente entrelaçados e são inimagináveis
separados (...),
contribuindo ambos, no
mesmo nível, para constituir a antijuridicidade de um
comportamento.”.
(...) “O que sucede
é que, por razões de política criminal, o legislador na hora de
configurar os tipos delitivos pode destacar ou fazer recair acento
em um ou em outro tipo de desvalor.”
((Teoria Geral do Delito, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris
Editor, 1988, tradução de Juarez Tavares e Luiz Régis Prado, p.
88/89).
11
O Princípio da Igualdade no Direito Penal Brasileiro – Uma
Abordagem de Gênero, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora,
2001, p. 174.
13
Sobre a sucessão das leis processuais no tempo, conferir o nosso
“Juizados Especiais Criminais”, Salvador: JusPodivm, 2007, págs.
101 a 107.
16
O art. 27, porém, exige que “em
todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação
de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de
advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei”,
bem como ser “garantido
a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o
acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência
Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e
judicial, mediante atendimento específico e humanizado.”
(art. 28).
18
Leonardo Sica, “Direito Penal de Emergência e Alternativas à
Prisão”, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 123.
19
Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. X, Tomo I, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 139.
22
É bem verdade que a 2ª. Turma do Supremo Tribunal Federal, em
sessão realizada no dia 30 de outubro de 2007, no julgamento do
Habeas Corpus
nº. 90.617-6/PE, tendo como Relator o Ministro Gilmar Mendes,
concedeu a ordem para determinar o retorno ao cargo de um
Desembargador, réu em uma ação penal originária. No voto do
relator ficou consignado o seguinte: (...) Conforme
asseverei na oportunidade da apreciação e julgamento da questão
de ordem apreciada por esta Colenda Segunda Turma em sessão de
19.6.2007: “Para a análise do alegado excesso de prazo,
inicialmente, surgiria a questão preliminar quanto ao cabimento do
presente writ.
Assim, um argumento usual em inúmeros julgados deste Supremo
Tribunal Federal é o de que este pedido de habeas
corpus não
poderia ter seguimento porque o acórdão impugnado não afetaria
diretamente a liberdade de locomoção do paciente. A prevalecer
esse entendimento, reiterado em diversos casos pela jurisprudência
desta Corte, revelar-se-ia incabível o manejo do HC na situação
dos autos. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC no
84.816-PI, Rel. Min. Carlos Velloso (2ª Turma, unânime; DJ
6.5.2005); HC nº
84.420- PI, Rel. Min. Carlos Velloso (2ª Turma,unânime; DJ
27.8.2004); HC
(AgR) no 84.326-PE, Rel. Min. Ellen Gracie (2ª Turma,unânime; DJ
1o.10.2004); HC
nº 83.263-DF,Rel. Min. Nelson Jobim (2ª Turma, unânime;DJ
16.4.2004); HC no
77.784-MT, Rel. Min.Ilmar Galvão (1ª Turma, unânime; DJ
18.12.1998)” –
(Voto proferido pelo Min.Gilmar Mendes no HC-QO nº
90.617/PE,julgada em 19.6.2007, 2ª Turma, maioria, DJ
6.9.2007).Naquela
assentada (19.6.2007), asseverei ainda, verbis:“Em
que pese a extensão e a amplitude que essa interpretação tem
assumido em nossa jurisprudência, não me impressiona o argumento
de que habeas
corpus é o meio
adequado para proteger tão-somente o direito de ir e vir do cidadão
em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder”- (Voto
proferido pelo Min. Gilmar Mendes no HC-QO nº 90.617/PE, julgada em
19.6.2007, 2ª Turma, maioria, DJ
6.9.2007).A esse
respeito, devo frisar que, no caso concreto, a decisão do STJ
determinou o afastamento do paciente do cargo de Desembargador do
TJ/PE e tal situação perdura por mais de 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses, sem que a instrução criminal tenha sido devidamente
concluída. Isto é, os impetrantes insurgem-se não exatamente
contra o simples fato do afastamento do paciente do cargo que
ocupava na magistratura, mas sim em face de uma situação de lesão
ou ameaça a direito que persiste por prazo excessivo e que,
exatamente por essa razão, não pode ser excluído da proteção
judicial efetiva (CF, art. 5o,XXXV).Ainda, reiterando manifestação
anterior, creio como pertinente a transcrição dos seguintes
argumentos no voto
que proferi em
19.6.2007:“Nestes termos, considerada essa configuração fática
excepcional, entendo ser o caso de se estabelecer um distinguishing
com relação à
referida jurisprudência tradicional deste Tribunal quanto à
matéria do cabimento do hábeas
corpus. Entendo
que o writ é
cabível porque, na espécie, discute-se efetivamente aquilo que a
dogmática constitucional e penal alemã – a exemplo da ilustre
obra Freiheitliches
Strafrecht (‘Direito
Penal Libertário’), de Winfried Hassemer, – tem denominado
Justizgrundrechte.
Essa expressão tem sido utilizada para se referir a um elenco de
normas constantes da Constituição que tem por escopo proteger o
indivíduo no contexto do processo judicial.Não tenho dúvidas que
o termo seja imperfeito, uma vez que, amiúde, esses direitos
transcendem a esfera propriamente judicial. Assim, à falta de outra
denominação genérica, também nós optamos por adotar designação
assemelhada – direitos fundamentais de caráter judicial e
garantias constitucionais do processo –,embora conscientes de que
se cuida de denominações que pecam por imprecisão. De toda forma,
independentemente dessa questão terminológica, um elemento
decisivo é o de que, no caso concreto ora em apreço, invoca-se
garantia processual de natureza judicial e administrativa, que tem
repercussão direta quanto ao devido processo legal penal e à
dignidade pessoal e profissional do paciente.Desse modo, o tema da
razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), por expressa
disposição constitucional, envolve não somente a invocação de
pretensão à ‘direito subjetivo’ de célere tramitação dos
processos judiciais e administrativos,mas também, o reconhecimento
judicial de ‘meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.
Em outras palavras, a interpretação desse dispositivo também está
relacionada à efetivação de legítimas garantias constitucionais
como mecanismos de defesa e proteção em face de atrocidades e
desrespeitos aos postulados do Estado democrático de Direito (CF,
art. 1o).Nesse particular, entendo que,preliminarmente, o habeas
corpus é
garantia cabível e apta para levar ao conhecimento deste Tribunal a
apreciação do tema do excesso de prazo para a instrução
criminal.É dizer, embora a decisão impugnada não repercuta
diretamente no direito de ir e vir do paciente (liberdade de
locomoção stricto
sensu),
observa-se situação de constrangimento ilegal decorrente de mora
na prestação jurisdicional no âmbito processual penal” –
(Voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no HC-QO nº 90.617/PE,2ª
Turma, maioria, DJ
6.9.2007). No
caso concreto, tal constrangimento corresponde à persistência do
afastamento cautelar desde o recebimento da denúncia pelo STJ.A
viabilidade deste writ
se dá, portanto,
em razão de que o afastamento cautelar do paciente tem perdurado
por lapso temporal excessivo.Este habeas
corpus foi
impetrado em 7 de fevereiro de 2007. O julgamento da questão de
ordem ocorreu em 19.6.2007, cujo acórdão foi publicado em
6.9.2007. Hoje, completam-se 8 meses e 23 dias desde a
impetração.Friso que, no feito penal em andamento perante a Corte
a quo,
a suposta vítima (MARIA SORAIA ELIAS PEREIRA), vem tumultuando a
regular instrução do feito (AP nº 259/PE), seja por ter obstado a
realização de perícia no período de , seja por meio da
apresentação de sucessivos pedidos de substituição de
testemunhas, os quais apesar de indeferidos pelo
STJ, têm contribuído
para que, até o presente momento (informações disponíveis na
página oficial do STJ - www.stj.gov.br), a instrução ainda não
tenha se encerrado. Em conformidade com a orientação
jurisprudencial acima mencionada, constato a configuração de
excessiva mora da instrução criminal e verifico patente situação
de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Ademais,
entendo que, em princípio, a excessiva mora processual verificável
de plano, nestes autos, configura-se como aquilo que, em matéria de
ilegítima persistência dos efeitos da custódia cautelar, ambas as
Turmas deste STF têm denominado como “excesso de prazo gritante”.
Nesse sentido, arrolo alguns processos nos quais foi adotado o
parâmetro de moras processuais superiores a 2 (dois) anos para o
deferimento da ordem, a saber: HC no 87.913/PI, Rel. Min. Cármen
Lúcia, Primeira Turma, unânime, DJ
5.9.2006; HC no
84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ
2.8.2005; HC no
83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, unânime, DJ
19.3.2004; HC no
81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,unânime, DJ
5.4.2002. Nestes
termos, diante de excepcional situação de excesso de prazo para a
conclusão da instrução criminal verificável neste caso concreto,
defiro a ordem tão-somente para suspender os efeitos da decisão da
Corte Especial do STJ que impôs o afastamento do cargo nos termos
do art. 29 da LC no 35/1979, e determino, por conseqüência, o
retorno do ora paciente à função de magistrado perante o Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE).”
23
Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro, São
Paulo: Saraiva, 1993, p.121/123.
26
Em sentido contrário, na sessão realizada no
dia 1º. de junho de 2007, a 1ª. Turma Criminal do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal concluiu que o crime de lesão corporal
leve, praticado contra
a mulher independe de representação da vítima. A
conclusão, por maioria de votos, foi uma resposta a recurso do
Ministério Público. De acordo com a Turma, a nova lei propõe uma
reflexão sobre o problema da violência doméstica e abre a
oportunidade para que os operadores do direito assumam uma postura
corajosa diante da questão. O voto condutor do acórdão destaca as
agressões como “atitudes
covardes de homens que resolvem abandonar seu perfil natural de
guardiões do lar para se transformarem em algozes e carrascos
cruéis de sua própria companheira”.
Um dos três votos proferidos no julgamento seguiu outro
posicionamento (Processo
nº. 20060910173057).
Este mesmo Tribunal, porém, um mês depois desta primeira decisão,
seguiu outro entendimento: “TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL - 1ª. TURMA CRIMINAL – EMENTA:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AÇÃO PENAL PÚBLICA
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. Com base na interpretação
sistemática, a Egrégia Primeira Turma Criminal concluiu que o
legislador, ao disciplinar no art. 41 da Lei nº 11.340/2006 que nos
crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a
mulher não se aplica a Lei nº 9.099/1995, pretendeu apenas vedar
os institutos despenalizadores nela previstos, subsistindo a
incidência do art. 88, que condiciona à representação da vítima
a ação penal nos crimes de lesão corporal leve e de lesão
corporal culposa. O entendimento pela exclusão completa da lei em
casos tais, conforme destacado, resultaria em verdadeiro
contra-senso, uma vez que o Código Penal exige a representação em
hipóteses de crimes mais graves, como estupro e atentado violento
ao pudor, e a própria Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
impõe, em seu art. 12, que a autoridade policial, no momento do
registro da ocorrência, tome a representação da vítima a termo,
cuja retratação, a teor do art.16, somente é possível perante o
juiz, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério
Público, a fim de que seja constatada a inexistência de coação
por parte do agressor.”
(20060910172536 RSE,
Rel. Des. MARIO MACHADO. Data do Julgamento 12/07/2007).
27
Apud
José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal,
Campinas: Bookseller, 1998, Vol. I, p. 79.
29
O recurso nº 2007.023422-4, apresentado pelo Ministério Público
Estadual contra decisão do juiz de Itaporã (MS), o qual reconheceu
a inconstitucionalidade da Lei nº. 11.340/06, denominada "Lei
Maria da Penha", foi julgado pela 2ª. Turma Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que manteve a decisão
de primeira instância. O Magistrado de primeiro grau alegou que a
referida lei "criou
discriminação, pois coíbe a violência contra a mulher e não a
que porventura exista contra homens".
Em sede recursal, na última sessão de julgamentos da 2ª Turma
Criminal, ocorrida no dia 19//2007, o relator do processo,
Desembargador Romero Osme Dias Lopes, já havia manifestado seu
voto, mantendo a decisão do juiz singular e sustentando que a "Lei
Maria da Penha" desrespeita os objetivos da República
Federativa do Brasil, pois fere os princípios da proporcionalidade
e da igualdade. Na seqüência, o Desembargador Carlos Eduardo
Contar pediu vista dos autos para melhor embasar seu voto e, assim,
a sessão foi adiada. Na pauta de julgamentos desta quarta-feira
(26/9/2007), Des. Contar apresentou seu voto, acompanhando o
relator; mantendo a decisão de primeiro grau; negando, portanto,
provimento ao recurso do Ministério Público; e, também,
reconhecendo, neste caso específico, a inconstitucionalidade da Lei
nº 11.340/06, "Lei Maria da Penha". O Des. Contar, em seu
voto, reafirma os direitos fundamentais garantidos, igualmente, aos
homens e às mulheres, e que qualquer medida protetiva de cunho
infraconstitucional configura-se em afronta à isonomia entre os
gêneros prevista na Constituição. "(...) Quando
a Carta Magna, dentre o rol de direitos fundamentais, consagrou
igualdade entre homem e mulher, estabeleceu uma isonomia plena entre
os gêneros masculino e feminino, de modo que a legislação
infraconstitucional não pode - sob qualquer pretexto - promover
discriminação entre os sexos, em se tratando de direitos
fundamentais, eis que estes já lhes são igualmente assegurados",
afirmou o Desembargador. Assim, ao concluir seu voto, Des. Contar
sustenta que a "Lei Maria da Penha" "viola
o direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres",
razão pela qual reconhece, para este caso concreto, a
inconstitucionalidade da referida norma jurídica. O desembargador
Claudionor Miguel Abss Duarte também votou como o relator, de modo
que a decisão da 2ª Turma Criminal do TJMS foi unânime. Fonte:
Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul.
32
Como ensina Gilberto Thums, “não
basta que existam leis com vigência, é necessário que sejam
válidas e somente possuem validade as leis que se harmonizam com os
princípios fundamentais da Constituição. (...)
Portanto, todas as
normas infraconstitucionais que não correspondem, quanto ao seu
conteúdo, aos princípios constitucionais, embora formalmente
vigentes (validade formal), seriam materialmente inconstitucionais,
podendo o juiz
negar sua aplicação.”
(Sistemas Processuais Penais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.
172, com grifo nosso).
34
Derecho y Razón – Teoria del Garantismo Penal, Madri: Editorial
Trotta S.A., 3ª. ed., 1998, p. 874.
37
CAMPOS, Roberta Toledo. Aspectos
constitucionais e penais significativos da Lei Maria da Penha.
Disponível na internet
www.ibccrim.org.br 04.09.2007.
38
Na mesma oportunidade duas outras pérolas surgiram: Enunciado500:
“A configuração
do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
E se o menor não aceitar a proposta? E o Enunciado 502:
“Presentes a
materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime
previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs
e DVDs piratas.”
Esta sim, uma
redundância incorreta!