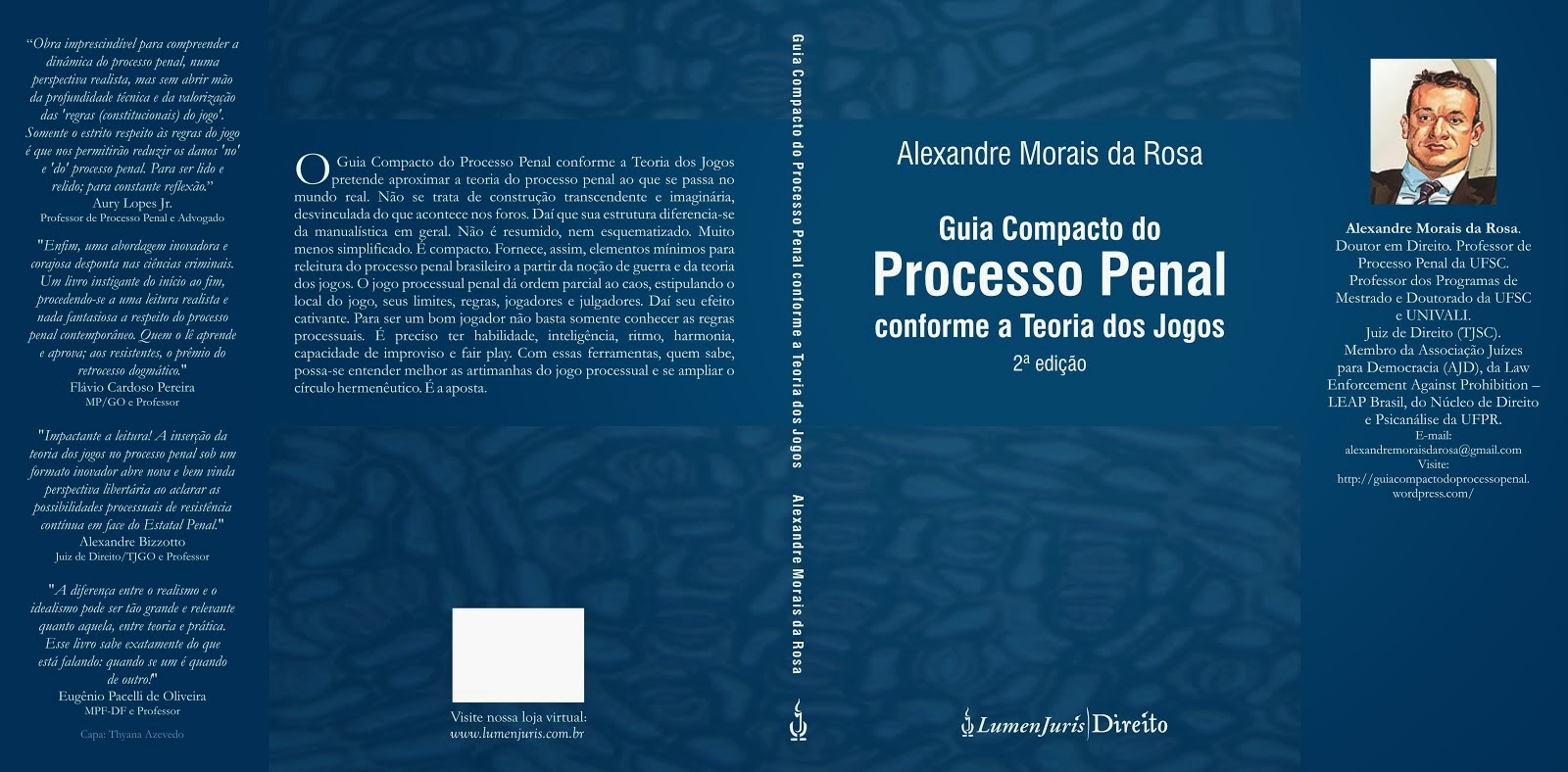COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios do Direito Processual Penal brasileiro. In: Separata ITEC, ano 1, nº 4 – jan/fev/mar 2000, p. 3.
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho**
Sumário: 1. Introdução; 2. Princípios relativos aos Sistemas Processuais: inquisitivo e dispositivo; 3. Princípios relativos à Jurisdição: 3.1. Princípio da Imparcialidade, 3.2. Princípio do Juiz Natural, 3.3. Princípio da Indeclinabilidade, 3.4. Princípio da Inércia da Jurisdição; 4. Princípios relativos à Ação: 4.1. Princípio da Oficialidade, 4.2. Princípio da Obrigatoriedade (Legalidade); 5. Princípios relativos ao Processo: 5.1. Princípio do Contraditório, 5.2. Princípio da Verdade Material, 5.3. Princípio do Livre Convencimento.
1. Introdução
Como é elementar, o estudo dos princípios gerais do Direito Processual Penal é o que fornecerá a base para uma compreensão sistemática da matéria; e aí transcende a sua importância.
A par de se poder pensar em princípio (do latim, principium) como sendo início, origem, causa, gênese, aqui é conveniente pensá-lo(s) como motivo conceitual sobre o(s) qual(ais) funda-se a teoria geral do processo penal, podendo estar positivado (na lei) ou não.
Por evidente, falar de motivo conceitual, na aparência, é não dizer nada, dada a ausência de um referencial semântico perceptível aos sentidos. Mas quem disse que se necessita, sempre, pelos significantes, dar conta dos significados? Ora, nessa impossibilidade é que se aninha a nossa humanidade, não raro despedaçada pela arrogância, sempre imaginária, de ser o homem o senhor absoluto do circundante; e sua razão o summum do seu ser. Ledo engano!; embora não seja, definitivamente, o caso de desistir-se de seguir lutando para tentar dar conta, o que, se não servisse para nada, serviria para justificar o motivo de seguir vivendo, o que não é pouco, diga-se en passant.
De qualquer sorte, não se deve desconhecer que dizer motivo conceitual, aqui, é dizer mito[1], ou seja, no mínimo abrir um campo de discussão que não pode ser olvidado mas que, agora, não há como desvendar, na estreiteza desta singela investigação. Não obstante, sempre se teve presente que há algo que as palavras não expressam; não conseguem dizer, isto é, há sempre um antes do primeiro momento; um lugar que é, mas do qual nada se sabe, a não ser depois, quando a linguagem começa a fazer sentido. Nesta parca dimensão, o mito pode ser tomado como a palavra que é dita, para dar sentido, no lugar daquilo que, em sendo, não pode ser dito. Daí o big-bang[2] à física moderna; Deus à teologia; o pai primevo a Freud e à psicanálise; a Grundnorm a Kelsen e um mundo de juristas, só para ter-se alguns exemplos.
O importante, sem embargo, é que, seja na ciência, seja na teoria, no principium está um mito; sempre! Só isso, por sinal, já seria suficiente para retirar, dos impertinentes legalistas[3], a muleta com a qual querem, em geral, sustentar, a qualquer preço, a segurança jurídica, só possível no imaginário, por elementar o lugar do logro, do engano, como disse Lacan; e aí está o direito[4]. Para espaços mal-resolvidos nas pessoas – e veja-se que o individual está aqui e, portanto, todos -, o melhor continua sendo a terapia, que se há de preferir às investidas marotas[5] que, usando por desculpa o jurídico, investem contra uma, algumas, dezenas, milhares, milhões de pessoas.
Por outro lado - e para nós isso é fundamental-, depois do mito há que se pensar, necessariamente, no rito. Já se passa para outra dimensão, de vital importância, mormente quando em jogo estão questão referentes ao Direito Processual e, em especial, aquele Processual Penal.
O papel dos princípios, portanto, transcende a mera análise que se acostumou fazer nas Faculdades, pressupondo-se um conhecimento que se não tem, de regra; e a categoria acaba solta, desgarrada, com uma característica assaz interessante: os operadores do direito sabem da sua importância mas, não raro, não têm preciso o seu sentido, o que dificulta sobremaneira o manejo. O problema maior, neste passo, é seu efeito alienante, altamente perigoso quando em jogo estão valores fundamentais como a vida, só para ter-se um exemplo. Por conta disso é que se mostra feliz a assertiva lançada por Jorge de Figueiredo Dias: “são estes <> que dão sentido à multidão das normas, orientação ao legislador e permitem à dogmática não apenas <>, mas verdadeiramente compreender os problemas do direito processual e caminhar com segurança ao encontro da sua solução”[6].
Assim, para conhecer-se aqueles tidos como fundamentais, faz-se necessário começar analisando os princípios referentes à organização dos sistemas processuais e, em seguida, aqueles tidos como bases estruturais da trilogia do Direito Processual Penal: ação, jurisdição e processo.
2. Princípios relativos aos Sistemas Processuais: inquisitivo e dispositivo
O estudo dos princípios inquisitivo e dispositivo nos remete de plano à noção de sistema processual.
Por elementar, os diversos ramos do Direito podem ser organizados a partir de uma idéia básica de sistema: conjunto de temas colocados em relação por um princípio unificador, que formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma determinada finalidade.
Assim, para a devida compreensão do Direito Processual Penal é fundamental o estudo dos sistemas processuais, quais sejam, inquisitório e acusatório, regidos, respectivamente, pelos referidos princípios inquisitivo e dispositivo.
Destarte, a diferenciação destes dois sistemas processuais faz-se através de tais princípios unificadores, determinados pelo critério de gestão da prova. Ora, se o processo tem por finalidade, entre outras, a reconstituição de um fato pretérito, o crime, mormente através da instrução probatória, a gestão da prova, na forma pela qual ela é realizada, identifica o princípio unificador.
Com efeito, pode-se dizer que o sistema inquisitório, regido pelo princípio inquisitivo, tem como principal característica a extrema concentração de poder nas mãos do órgão julgador, o qual detém a gestão da prova. Aqui, o acusado é mero objeto de investigação e tido como o detentor da verdade de um crime, da qual deverá dar contas ao inquisidor.
Neste sentido, “A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na gestão da prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no modelo em análise, recolhe-a secretamente, sendo que ‘a vantagem (aparente) de uma tal estrutura residiria em que o juiz poderia mais fácil e amplamente informar-se sobre a verdade dos factos - de todos os factos penalmente relevantes, mesmo que não contidos na acusação -, dado o seu domínio único e omnipotente do processo em qualquer das suas fases.’[7] Como refere Foucault, com razão, ‘ele constituía, sozinho, e com pleno poder, uma verdade com a qual investia o acusado’[8].”[9].
No sistema acusatório, o processo continua sendo um instrumento de descoberta de uma verdade histórica. Entretanto, considerando que a gestão da prova está nas mãos das partes, o juiz dirá, com base exclusivamente nessas provas, o direito a ser aplicado no caso concreto (o que os ingleses chamam de judge made law). Aliás, “O processo penal inglês, assim, dentro do common law, nasce como um autêntico processo de partes, diverso daquele antes existente. Na essência, o contraditório é pleno; e o juiz estatal está em posição passiva, sempre longe da colheita da prova. O processo, destarte, surge como uma disputa entre as partes que, em local público (inclusive praças), argumentavam perante o júri, o qual, enquanto sociedade, dizia a verdade, vere dictum. É elementar que um processo calcado em tal base estruturasse uma cultura processual mais arredia a manipulações, mormente porque o réu, antes de ser um acusado, é um cidadão e, portanto, senhor de direitos inafastáveis e respeitados. Por isto, 'incentivado pela ideologia liberal que se desprende já da Magna Charta Libertatum de João-sem-Terra (1215) e acentuado sobretudo pelo Bill of Rights (1689) e pelo Act of Settlement (1701), ele ganha o seu maior e vivaz florescimento, a ponto de ainda hoje se manter aí essencialmente imodificado'[10]. A par da gestão da prova não estar nas mãos dos juízes, mas ser confiada às partes - aqui existentes na sua concepção mais radical -, outras características dão ao sistema acusatório uma visão distinta daquele inquisitorial. Deste modo, com Barreiros[11], possível referir que o órgão julgador é uma Assembléia ou jurados populares (Júri); que há igualdade das partes e o juiz (estatal) é árbitro, sem iniciação de investigação; que a acusação nos delitos públicos é desencadeada por ação popular, ao passo que nos delitos privados a atribuição é do ofendido, mas nunca é pública; que o processo é, por excelência e obviamente, oral, público e contraditório; que a prova é avaliada dentro da livre convicção; que a sentença passa em julgado e, por fim, que a liberdade do acusado é a regra, antes da condenação, até para poder dar conta da prova a ser produzida”[12].
Finalmente, diante da breve análise dos sistemas processuais e dos princípios que os estruturam, pode-se concluir que o sistema processual penal brasileiro é, na essência, inquisitório, porque regido pelo princípio inquisitivo, já que a gestão da prova está, primordialmente, nas mãos do juiz, o que é imprescindível para a compreensão do Direito Processual Penal vigente no Brasil. No entanto, como é primário, não há mais sistema processual puro, razão pela qual tem-se, todos, como sistemas mistos. Não obstante, não é preciso grande esforço para entender que não há - e nem pode haver - um princípio misto, o que, por evidente, desfigura o dito sistema. Assim, para entendê-lo, faz-se mister observar o fato de que, ser misto significa ser, na essência, inquisitório ou acusatório, recebendo a referida adjetivação por conta dos elementos (todos secundários), que de um sistema são emprestados ao outro. É o caso, por exemplo, do processo comportar a existência de partes, o que para muitos, entre nós, faz o sistema tornar-se acusatório. No entanto, o argumento não é feliz, o que se percebe por uma breve avaliação histórica: quiçá o maior monumento inquisitório fora da Igreja tenha sido as Ordonnance Criminelle (1670), de Luis XIV, em França; mas mantinha um processo que comportava partes.
3. Princípios relativos à Jurisdição
Primeiramente, faz-se mister estudar os princípios que dizem com a jurisdição, tomada no sentido chiovendiano, a qual é premissa lógica ao exercício da ação.
É importante frisar, para não deixar dúvida, que diz ela, na essência, com o poder estatal, no caso, de dizer o direito: dicere ius; iuris dictio. Diz-se o direito acertando-se os casos penais de forma definitiva, isto é, na medida daquilo que lhe é levado pelo autor: thema decidendum. Faz-se uma opção, de regra condenando-se ou absolvendo-se, tudo de modo a que a decisão ganhe estabilidade, dada a qualidade de imutabilidade que a alcança quando ocorre a preclusão das vias impugnativas, em face do transcurso do prazo recursal, o que é típico da coisa julgada (res iudicata) e nota característica da função jurisdicional processual.
Não é demais lembrar, também, em tempos de neoliberalismo e Estado mínimo (aos quais é preciso resistir com todas as forças e uma racionalidade que não se deixe enganar pelo câmbio epistemológico fundado por Hayek e calcado no eficientismo das ações), que a jurisdição, a par de ser um poder - e como tal deve ser estudado com proficiência -, é uma garantia constitucional do cidadão, da qual não se pode abrir mão. As críticas, neste raio, por evidente que são bem-vindas, porque se há de pensar, sempre, em um aprimoramento do poder e dos órgãos que o exercem. Haverão de ser, portanto, construtivas. Não é, porém, o que se tem visto; e com freqüência. Incautos e insipientes lançam-se na aventura eficientista e minimalista, de cariz eminentemente economicista, donde fazem um ataque desarrazoado à jurisdição, em geral buscando suprimi-la, em largos espaços, quando não os mais importantes para, quem sabe, reservar-lhe as questões menores. A hipótese é absurda. Em definitivo, não há democracia, neste país, sem a regra do art. 5º, XXXV, da CF: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
3.1. Princípio da Imparcialidade
Tal matéria analisamos em "O papel do novo juiz no processo penal", trabalho originariamente preparado e em parte apresentado no Seminário Nacional sobre Uso Alternativo do Direito, evento comemorativo do sesquicentenário do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rio de Janeiro, 7 a 9 de junho de 1993, o qual aqui se adota, em vista da sua singularidade:
"Problema de essência que se enfrenta no âmbito do direito é o que se refere à neutralidade e imparcialidade do juiz. Para que se possa analisar convenientemente esta questão, faz-se necessário buscar elementos basilares de crítica no arsenal teórico da epistemologia.
Durante determinado período da história do pensamento, acreditou-se que era possível ao homem, enquanto sujeito cognoscente, anular-se completamente nas relações de conhecimento. Com isto, procurava-se obter um tipo de saber que não estivesse eivado de qualquer imperfeição humana. Daí o método perfeito para a consecução deste desiderato, proposto pelo empirismo. Para este, 'o método consiste em um conjunto de procedimentos que por si mesmos garantem a cientificidade das teorias elaboradas sobre o real. Como o sujeito se limitaria a captar o objeto, essa captação seria tanto mais eficaz e neutra quanto mais preciso e rigoroso fosse o método utilizado'[13]. Assim, a elaboração científica se limitaria ao cumprimento rigoroso de certas técnicas preestabelecidas, que conteriam o poder quase miraculoso de conferir cientificidade aos conhecimentos elaborados através delas.
A busca desta neutralidade do sujeito tinha alguns motivos determinantes: 1º, a crença em uma razão que tivesse validade universal, servindo de paradigma para todos (crença esta que, de certa forma, seguiu todo o pensamento da história moderna no Ocidente, desde o discurso da Igreja - por influências platônicas -, passando pelo pensamento de Descartes, Bacon, Kant, até chegar em Augusto Comte); 2º, a necessidade de legitimar o discurso do Estado moderno nascente, que vinha falar em nome de toda a nação, uma vez que os sujeitos da história passaram a ser 'iguais' e não era mais possível sustentar os privilégios do clero e da nobreza: o Estado agora é de todos e, finalmente; 3º, a urgência em ocultar que os interesses do Estado, ao contrário do que se acreditava, eram de classes; e não do povo como um todo.[14]
Tais necessidades e crenças não apenas fazem estrada na instância da história moderna, como acompanham todo o discurso científico e filosófico da época e, de conseqüência, o jurídico.
Assim, por mais que muitos soubessem que geralmente se tratava de uma farsa - não obstante a importância histórica do seu discurso e até alguns avanços materiais -, passaram os juristas e jusfilósofos a pensar em termos de igualdade jurídica: todos são iguais perante a lei. E o Estado, enquanto pertencente a todos (mas ao mesmo tempo sem pertencer a ninguém), deveria assegurar tal igualdade. Isto se reflete no discurso dos civilistas, penalistas e, até mesmo, no incipiente desenvolvimento do direito processual que começava a ganhar foros de autonomia em relação ao direito material.
Exemplo que reflete tal pensamento é a visão que se começa a ter sobre a ação e o processo. A ação não é mais um direito material violado que se põe em movimento, de cunho marcadamente individualista; e o processo não é mais sinônimo de meros ritos. Passa-se a falar em um "interesse público" na resolução dos conflitos. O Estado preocupa-se com a manutenção da igualdade e o papel do juiz passa a ser mais efetivo na relação processual, reforçando, com isto, aparentemente, a idéia de Bulgaro do Iudicium accipitur actus as minus trium personarum: actoris intendentis, rei intentionem evitantis, iudicis in medio cognoscentis, ou, na fórmula sintética antes referida, Iudicium est actus trium personarum: iudicis, actoris et rei, mas agora com outra conotação em decorrência das mudanças do discurso no desenvolver histórico.
Corolário desta concepção, que chega até os dias atuais, é o de que o juiz constitui-se um órgão super et interpartes ou, em outra acepção, super omnia, como supracitado.
Sabe-se que, com esta visão, o que se pretende é a preservação da idéia do juiz como um órgão neutro e imparcial, que por não ter interesse direto no caso, tutelaria a igualdade das partes no processo. Com isto, estar-se-ia buscando a manutenção do seu escopo último: a pacificação dos conflitos de interesses e a justiça.[15]
Cabe indagar, entretanto, até que ponto essa neutralidade e imparcialidade são reais? Qual o interesse em manter vivas, como estão, essas categorias?
Há quem afirme que o judiciário só existe porque é imparcial e sujeito à lei e que a justiça consiste em um método de decisões imparciais. Cumpre salientar, entretanto, que, não obstante a possibilidade de se vislumbrar certa importância neste tipo de afirmação, principalmente no plano de uma dogmática processual em que a atividade do Estado é substitutiva, faz-se necessária uma tomada de posicionamento crítico em relação a ela.[16]
A época de aceitar os discursos universalistas, com o devido respeito de quem possa pensar o contrário, passou. O Estado se desenvolveu. Os sujeitos renovaram suas necessidades e interesses e agora, ao contrário do que já se sustentou, sabem que são capazes de construir sua história, social e pessoal. Em outras palavras: os sujeitos vão tomando consciência de que podem construir seu mundo, traçar certos projetos e mudar o rumo da história para o vetor que optarem, de acordo com as escolhas axiológicas que tomarem por referência.
Não por outro motivo as epistemologias contemporâneas, principalmente as críticas, vêem o sujeito do conhecimento como um agente participativo, construtor da realidade, que não tem mais motivos para esconder sua ideologia e escolhas diante do mundo.[17] Torna-se, então, insustentável a tese da neutralidade do sujeito e vige, para todos os efeitos, a idéia de dialética da participação.[18]
Assim, constata-se que todo conhecimento é histórico e dialético. Histórico porque é sempre fruto de determinado momento de uma certa sociedade. Dialético porque, além de ser reflexo das condições materiais de seu tempo, atua sobre esta materialidade, alterando-a. Em outras palavras: todo saber é condicionado e condicionante.[19]
O saber enquanto elemento condicionado foi muito explorado pelas doutrinas marxianas, que viam os discursos científicos como meros reflexos da materialidade social. Tal posicionamento não é de todo falso. Mas o que se tem que ter em mente é que os discursos, de modo geral, também atuam sobre a realidade, como já reconheceram Gramsci[20], Poulantzas[21], entre outros. O que se retira disto, inicialmente, transportando tal pensamento para o direito, é que o juiz não é mero 'sujeito passivo' nas relações de conhecimento. Como todos os outros seres humanos, também é construtor da realidade em que vivemos, e não mero aplicador de normas, exercendo atividade simplesmente recognitiva. Além do mais, como parece sintomático, ele, ao aplicar a lei, atua sobre a realidade, pelo menos, de duas maneiras: 1º, buscando reconstruir a verdade dos fatos no processo e, 2º, interpretando as regras jurídicas que serão aplicadas a esse fato ou, em outras palavras, acertando o caso que lhe é posto a resolver.
Não bastasse estas afirmações para afastar o primado da neutralidade do juiz, urge reconhecer que o direito, de modo inegável, é ideológico.[22] Tutela nas suas regras interesses que podem facilmente ser identificados dentro de cada sociedade e que, muitas vezes, tomam caráter de ocultação dos conflitos existentes no seu interior, ou seja, toma uma dimensão alienante. Categorias lingüísticas genéricas como 'bem comum', 'interesse coletivo', 'democracia' e 'igualdade', por exemplo, mostram bem esta situação. Quantos de nós não acredita que há uma efetiva igualdade de todos perante da lei; ou então que o Estado está sempre buscando o 'bem comum'? Ora, isto é inescurecível discurso ideológico.
De acordo com exaustiva produção teórica de Norberto Bobbio[23], a democracia exige, sob um enfoque estritamente formal, uma prévia delimitação das regras do jogo - e aqui não se pode negar a contribuição do positivismo jurídico para uma noção de democracia que teve seu momento e importância histórica -, ciente todos, salvo os ingênuos, da necessidade da 'lei' à própria sobrevivência (melhor seria Lei, com maiúscula), como demonstra a psicanálise.
Mas isto, a delimitação das regras, não basta! É preciso que se saiba, para além dela, contra quem se está jogando e qual o conteúdo ético e axiológico do próprio jogo. Como referido no início, alcançar tal patamar só é possível quando os agentes em cena, no palco social, assumem sua face ideológica. Não é possível jogar uma partida honesta ou justa contra quem se esconde sob máscaras tais como as de 'objetividade' ou 'neutralidade'. Até mesmo porque se sabe que tais referenciais têm como função principal a ocultação dos conflitos socioeconômico-políticos.[24]
Em outras palavras: democracia - a começar a processual - exige que os sujeitos se assumam ideologicamente. Por esta razão é que não se exige que o legislador, e de conseqüência o juiz, seja tomado completamente por neutro[25], mas que procure, à vista dos resultados práticos do direito, assumir um compromisso efetivo com as reais aspirações das bases sociais.[26] Exige-se não mais a neutralidade, mas a clara assunção de uma postura ideológica, isto é, que sejam retiradas as máscaras hipócritas dos discursos neutrais, o que começa pelo domínio da dogmática, apreendida e construída na base da transdisciplinaridade."[27].
Por fim, o princípio da imparcialidade funciona como uma meta a ser atingida pelo juiz no exercício da jurisdição, razão por que se busca criar mecanismos capazes de garanti-la.
Desta forma, é forçoso reconhecer que a imparcialidade é uma garantia tanto para aquele que exerce a jurisdição, como para aquele que demanda perante ela; mas não deixa de ser meta optata. Única coisa que se não pode aceitar, na espécie, é uma visão ingênua, permissiva dos espíritos à moda Pilatos, que a tomam como algo dado por natureza (como evidente mecanismo de defesa) quando, em verdade, o que se passa é exatamente o contrário.[28]
3.2. Princípio do Juiz Natural
O princípio do juiz natural é expressão do princípio da isonomia e também um pressuposto de imparcialidade.
Vale salientar que este princípio está vinculado ao pensamento iluminista e, conseqüentemente, à Revolução Francesa. Como se sabe, com ela foram suprimidas as justiças senhoriais e todos passaram a ser submetidos aos mesmos tribunais.
Desta forma, vem à lume o princípio do juiz natural (ou juiz legal, como querem os alemães) com o escopo de extinguir os privilégios das justiças senhoriais (foro privilegiado), assim como afastar a criação de tribunais de exceção, ditos ad hoc ou post factum.
Destarte, todos passam a ser julgados pelo “seu” juiz, o qual encontra-se com sua competência previamente estabelecida pela lei, ou seja, em uma lei vigente antes da prática do crime.
Por outro lado, é preciso questionar a respeito da sua extensão, desde que sempre foi descurado no Brasil e, mais ainda, depois da Constituição Federal de 1988, na qual se procurou - e se fez!- estabelecer regra (art. 5º, LIII) que escapasse de qualquer manipulação política/jurídica sobre a competência, a qual sempre foi abordada/questionada pela doutrina e vetada pela jurisprudência européia quando discute-se a matéria a partir de suas bases legais, mormente na Itália (Costituzione della Repubblica), fonte principal do nosso modo de pensar.[29]
Assim, nosso legislador constituinte de 1988, como se sabe, não tratou expressamente do juiz natural, como haviam feito os europeus continentais após a Revolução Francesa, de um modo geral, exatamente para que não se alegasse não estar inserido nele a questão referente à competência. Ao contrário, por exemplo, do art. 25, da Constituição Italiana atual, em vigor desde 01.01.48 (“Nessuno può essere disolto dal giudice naturale precostituito per legge”), preferiu nosso legislador constituinte, seguindo o alerta da nossa melhor doutrina, em face dos acontecimentos ocorridos no país e profundamente conhecidos (veja-se a atuação do Ato Institucional nº 2, de 27.10.65, e a discussão no STF a respeito da matéria, com seus respectivos resultados práticos), tratá-la de modo a não deixar margem às dúvidas, como garantia constitucional do cidadão, no art. 5º, LIII: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. (-gn-).
Parte considerável de nossa doutrina, no entanto, quiçá por não se dar conta da situação, mormente após a definição constitucional, continua insistindo que a matéria referente à competência não tem aplicação no princípio em discussão. Em verdade, o que se está a negar, aqui, é a própria CF, empeçando-se a sua efetivação.
A questão, então, há de ser discutida a partir do que vem a ser juízo competente. Ao que parece, não há no mundo quem melhor trate desta matéria que o professor Jorge de Figueiredo Dias, sempre fundado nos pressupostos constitucionais de seu país, de todo aplicados ao nosso entendimento. Esclarece ele “que o princípio do juiz natural visa, entre outras finalidades estabelecer a organização fixa dos tribunais”[30], mas ela “não é ainda condição bastante para dar à administração da justiça - hoc sensu, à jurisdição - a ordenação indispensável que permite determinar, relativamente a um caso concreto qual o tribunal a que, segundo a sua espécie, deve ser entregue e qual, dentre os tribunais da mesma espécie, deve concretamente ser chamado a decidi-lo”[31]. Assim, seguindo o pensamento do professor de Coimbra, faz-se necessário regulamentar o âmbito de atuação de cada tribunal, de modo a que cada caso concreto seja da competência de apenas um tribunal: o juiz natural.[32]
Aliás, pensamento diverso poderia abrir um precedente capaz de possibilitar a escolha de um juiz "mais interessante" para o julgamento de determinados casos, depois desses terem acontecido, segundo critérios pessoais (mais liberal ou mais conservador, por exemplo), o que pode indicar na direção da suspeita da sua imparcialidade (em juízo a priori, naturalmente), algo sempre abominado pela reta Justiça e que, como se sabe, serviu de base estrutural ao pensamento da Revolução Francesa, a qual, vitoriosa, editou, como a primeira de suas leis processuais, em 11.08.1789, regramento tendente a vetar qualquer manipulação neste sentido (termina a justiça senhorial), consolidando-se o princípio do juiz natural na Constituição de 1791 e na legislação subsequente.
É preciso ressaltar, ainda, que o princípio da identidade física do juiz não se confunde com o princípio do Juiz Natural. Como se sabe, por este, ninguém poderá ser processado ou sentenciado por juiz incompetente, ou seja, o juiz natural é o juiz competente, aquele que tem sua competência legalmente preestabelecida para julgar determinado caso concreto. Já por aquele (o princípio da identidade física) assegura-se aos jurisdicionados a vinculação da pessoa do juiz ao processo. Assim, por exemplo, pelo disposto no Código de Processo Civil, o juiz competente responsável pela conclusão da audiência de instrução e julgamento vincular-se-á ao processo e deverá, então, julgar a lide. Resta claro, destarte, que os princípios supracitados não se confundem e que o art. 132, do CPC, refere-se tão-só ao princípio da identidade física do juiz. No nosso processo penal, todavia, jamais teve ele aplicação, pela própria natureza do sistema adotado, embora seja tema de grandes discussões.
3.3. Princípio da Indeclinabilidade
Como é básico, quando se retirou do particular a possibilidade de realização da autojustiça, o Estado assumiu o monopólio na resolução dos casos. Desde então, passaram eles a ser resolvidos a partir do exercício da jurisdição.
Não por outro motivo, tal atividade estatal passou a ser indeclinável. Desta forma, desde que provocado, o Estado, através do Poder Judiciário, não pode furtar-se à resolução de uma lide ou, no que diz com o Processo Penal, ao acertamento de um caso penal.
Assim, tendo em vista o que já se expôs acerca do princípio do juiz natural, tem-se que o juiz competente para julgar determinada causa, ou seja, para exercer a jurisdição em relação a determinado caso concreto, não poderá declinar de tal exercício. Ora, por sua face operacionalizada (competência), tem-se a jurisdição como exclusiva de quem a detém e excludente dos demais; daí por que não se admite, ademais, a prorrogação e a delegação da competência (outros dois princípios decorrentes da indeclinabilidade), sob pena de usurpação de função pública. Aparentemente, porém, poder-se-ia pensar, com Carnelutti, que há, no âmbito do processo penal, uma espécie de válvula de escape no que diz com o princípio ora analisado.
Como frisou Carnellutti, “A chamada absolvição por insuficiência de provas, de fato, não é senão uma recusa de escolha; e, por isso, denuncia, como já disse mais de uma vez, o insucesso da administração da justiça. Entre o sim e o não, o juiz, quando absolve por insuficiência de provas, confessa a sua incapacidade de superar a dúvida e deixa o imputado na condição em que se encontrava antes da discussão: imputado por toda a vida. Recordo, a esse propósito, quando presidia a Comissão para a formação de um projeto de reforma do código de processo penal, de ter observado que essa é uma solução cômoda para o juiz, porque o libera do peso da sua tarefa, mas nociva para a justiça, a qual deve dirigir-se com um sim ou com um não.”[33].
A posição, todavia, não é correta, se observada no nosso processo penal. Com efeito, na absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), a opção é dada pela própria lei, em face de não ter o juiz - e a acusação - produzido provas capazes de fundar um juízo condenatório. E tanto é vero o acertamento que a sentença absolutória, na hipótese, passa em julgado materialmente.
Destarte, a regra é que a atividade jurisdicional de acertamento dos casos penais é indeclinável.
Então, pode-se concluir que “A opção, aqui, é política, como o é na coisa julgada e tantas outras; mas absolutamente necessária para, da melhor maneira possível, nas questões limítrofes, tentar fixar alguns parâmetros e, a partir deles, exigir respeito, não fosse, antes, um comprometimento ético. Nada disto, contudo, adianta, se os homens não tiverem a grandeza de fazer valer a palavra do pactuado, daquilo expressamente fixado no contrato”[34].
3.4. Princípio da Inércia da Jurisdição PAREI AQUI
Este princípio, que é uma das características importadas do sistema acusatório, determina que a jurisdição é inerte e não pode ser exercida (no sentido do desencadeamento do processo) de ofício pelo juiz. Isto implica em dizer que para que se mova, precisa ser provocada: nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex officio.
Como se sabe, o princípio do devido processo legal exige que o órgão julgador seja submetido ao princípio da inércia, buscando garantir, ao máximo, a sua imparcialidade e eqüidistância das partes.
Com efeito, quando se autoriza ao juiz a instauração ex-officio do processo, como era típico no sistema inquisitório puro, permite-se a formação daquilo que Cordero chamou de "quadro mental paranóico"[35], ou seja, abre-se ao juiz a “possibilidade de decidir antes e, depois, sair em busca do material probatório suficiente para confirmar a 'sua' versão, isto é, o sistema legitima a possibilidade da crença no imaginário, ao qual toma como verdadeiro.”[36].
Diante disto, parece sintomático que o princípio da inércia, ora estudado, é um dos pressupostos para que se tenha um processo penal democrático.
Ademais, de tal princípio decorre a impossibilidade do juiz julgar além, fora ou aquém do que foi imputado ao acusado na peça inicial: ultra, extra et citra petitum. Assim, quando o juiz proferir sua decisão, não poderá modificar a imputação fática realizada na peça acusatória (thema decidendum), devendo haver sempre uma correlação exata entre a imputação e a sentença. Por elementar, tem ele a livre dicção do direito (iura novit curia), justo porque se não subordina quanto ao direito, mas tão-só à imputação (atribuição do fato penalmente relevante ao acusado, com todas as suas circunstâncias), que circunscreve o espaço e a extensão da decisão. Assim, ao juiz leva-se o fato - ou os fatos -, respondendo ele o direito aplicável: narra mihi factum, dabo tibi ius. Não é por outro motivo que as qualificações jurídicas exigidas pela lei antes da sentença, todas, são provisórias. Isto permite que o juiz corrija a inicial (que tem imputação precisa e errônea qualificação jurídica), aplicando a regra do art. 383, do CPP, a qual trata da chamada emendatio libelli, ainda que como resultado da emenda sobrevenha uma condenação. Por outro lado, o mesmo não sucede se o erro estiver na imputação: não se trata mais de mera corrigenda, mas de verdadeira mudança no thema decidendum. Nesta hipótese, antes da decisão (tenha ela a natureza que tiver), deve o juiz lançar mão das providências indicadas no art. 384, do CPP: trata-se da chamada mutatio libelli. Vale lembrar, por elementar, que o acusado defende-se dos fatos e não da qualificação jurídica, razão por que é preciso muita atenção quando do tratamento da matéria.
Por derradeiro, não seria impertinente lembrar, para tentar-se evitar os arroubos persecutórios de alguns, que “a imparcialidade e objectividade que, conjuntamente com a independência, são condições indispensáveis de uma autêntica decisão judicial só estarão asseguradas quando a entidade julgadora não tenha também funções de investigação preliminar e acusação das infracções, mas antes possa apenas investigar e julgar dentro dos limites que lhe são postos por uma acusação fundamentada e deduzida por um órgão diferenciado (em regra o MP ou um juiz de instrução).”[37] Mesmo assim, o futuro democrático do nosso processo penal aponta na direção de um sistema de essência acusatória e, nele, é altamente discutível não só acometer aos juizes a investigação preliminar e a acusação, mas o próprio impulso processual quando em jogo estiver a produção da prova.[38] Trata-se, por elementar, de uma opção política, mas o preço que se paga é muito alto, seja o próprio juiz, a sociedade e o jurisdicionado. Ademais, a história mostrou - e continua mostrando - não ser em nada melhor para o processo penal uma tal liberdade, justo porque mantém intacta a possibilidade - natural - de se decidir antes e, tão-só depois, sair-se à cata da prova suficiente para justificar a decisão previamente tomada. Enfim, faz-se mister deixar às partes o onus probandi, como ameaça fazer o CPP, em seu art. 156, primeira parte, para desmentir-se já na segunda parte, quando sustenta a tradição inquisitória: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”.
Algo completamente distinto, por seu turno, é o impulso processual, por parte do julgador, tendente a evitar procrastinações indevidas. Por evidente, a par da questão referente à preclusão, há de se ver que cabe ao juiz do processo o cumprimento fiel do rito, sem qualquer vilipêndio aos princípios e regras que garantem a democracia processual. Para tanto, há instrumental suficiente na nossa estrutura, mas é preciso dela ter um domínio pelo menos razoável pois, do contrário, ter-se-á, somado a outros fatores, um resultado conjunturalmente procrastinador, quase sem solução.
4. Princípios relativos à Ação
Como se viu, num país que pretende ser democrático, a jurisdição somente poderá ser exercida a partir de quando é provocada. Tal provocação dá-se através da ação, a qual é tida, basicamente, como um direito (para o Ministério Público, além disto, um dever) de se buscar e, se for o caso (preenchendo as condições exigidas pela lei), obter a tutela jurisdicional, de modo a que se possa vir a ter uma decisão de mérito, tudo no melhor estilo da nossa tradição liebmaniana. Trata-se, por evidente, de um direito (para o MP um dever) público, porque sempre dirigido ao Estado-Jurisdição.
Assim, pode-se ver nítida a diferença entre o agir daquele que exerce a jurisdição e o agir daquele que a provoca, o qual se estrutura a partir de alguns princípios básicos.
4.1. Princípio da Oficialidade
Tal princípio diz com o sujeito que dá início à investigação criminal e procede à acusação, ou seja, cabe aqui definir a quem compete impulsionar o exercício da atividade jurisdicional, assim como, antes dele e se necessário for, a investigação de determinada prática delituosa.
Assim, segundo Figueiredo Dias, “Trata-se aqui a questão de saber a quem compete a iniciativa (o impulso) de investigar a prática de uma infração e a decisão de a submeter ou não a julgamento. (...) no sentido de estabelecer se uma tal iniciativa [de provocar a jurisdição] deve pertencer a um entidade pública ou estadual - que interprete o interesse da comunidade, constituída em Estado, na perseguição oficiosa das infracções -, ou antes a quaisquer entidades particulares, designadamente ao ofendido pela infração”[39].
Com efeito, é possível afirmar que o conteúdo do princípio da oficialidade, quanto à ação, é determinado pela natureza do interesse que impulsiona o exercício jurisdicional. Entende-se, assim, de regra, que se tal interesse é público e pertence à coletividade, a ação deve ser promovida por órgãos oficiais: trata-se dos chamados crimes públicos e semi-públicos, dos quais decorreriam a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, respectivamente; do contrário, se o interesse pertence exclusivamente ao particular, cabe a ele a iniciativa de provocar o órgão jurisdicional: o crime seria particular ou privado e dele decorreria a chamada ação penal de iniciativa privada. Nesta medida, é possível identificar a raiz da oficialidade no Direito Processual Romano, no qual a ação, a acusação, era eminentemente popular, mas quem agia o fazia em nome da coletividade.
De acordo com Jorge de Figueiredo Dias, “no antigo direito romano vigorava o princípio da acção popular, segundo o qual qualquer pessoa (quivis ex populo) poderia deduzir a acusação penal: o que, parecendo traduzir uma privatização extrema do processo penal, seria antes, no entanto, sinal de uma aguda consciência da co-responsabilidade de qualquer membro da comunidade na administração da justiça penal. (...) No antigo direito germânico vigorava, diferentemente, o princípio da acusação privada, que deixava a promoção processual penal na vontade do ofendido, ou da família ou grupo (sippe) a que pertencia ”[40].
Entretanto, não se pode negar que o princípio da oficialidade foi consagrado, nos moldes modernos, pelo sistema inquisitório.
Como se viu, neste sistema, o processo é instaurado de ofício pelo juiz, uma vez que não há partes e o acusador é dispensável. Destarte, percebe-se que o impulso do qual se origina a persecução penal é promovido por um órgão estatal; mas não há ação propriamente dita, nos termos que a concebemos hoje.
Aliás, é forçoso reconhecer que, de certa forma, tal princípio legitimou o sistema inquisitório, na medida que se entendia que o juiz-inquisidor era o único ente estatal capaz de, em nome da coletividade, dar início à persecução penal. Assim, pensava-se que, caso fosse deixado ao particular o impulso de investigação e do processo, seria colocado em risco o interesse coletivo.
Contudo, deve-se observar que, mesmo com a superação do sistema inquisitório puro e com a diferenciação dos órgãos acusador e julgador, tem-se que o princípio da oficialidade, juntamente com o princípio da legalidade, permite um maior controle da atuação daquele que inicia a persecução penal.
Sem embargo, cabe ressaltar que o legislador brasileiro previu expressamente que a investigação será feita por órgãos oficiais (Polícia Judiciária), nos termos do art. 144, § 1º, IV, da CF, e art. 4º, do CPP, quando tratar-se de inquérito policial, a forma usual de seu desenvolvimento, não obstante o sistema suportar outras.[41] De regra, também a acusação, lançada pelo exercício do direito da ação, será feita por órgãos oficiais (Ministério Público), conforme art. 24, do CPP, salvo nos casos de ação de iniciativa privada.
Cabe, então, uma distinção: em geral, a ação penal é pública (incondicionada ou condicionada), no sentido de estar o seu exercício (iniciativa) a cargo do órgão oficial de acusação (Ministério Público), mas a lei pode excepcionar a situação, assim o fazendo pela expressa previsão do exercício da ação penal estar a cargo do particular, quando estar-se-ia diante da chamada ação penal de iniciativa privada (art. 30, do CPP). É uma classificação, por elementar, que não leva em consideração a estrutura ontológica da ação (sempre pública), mas o seu autor. Por sinal, isto resta claro com maior rigor quando percebe-se que a estrutura oferecida pelo legislador, inclusive constitucional, previu a possibilidade de uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29, do CPP[42], e art. 5º, LIX , da CF[43].
Por fim, a distinção entre elas é dada pelo Código Penal: sendo regra a ação penal pública incondicionada, sabe-se que se está diante de caso de ação penal pública condicionada quando, no CP, em parágrafos dos artigos da Parte Especial ou mesmo em artigos que se dirigem a regular os capítulos, restar expresso que só se procede mediante representação, como, por exemplo, no art. 147, Parágrafo único e no art. 182. Trata-se do análogo nacional à querela, do direito italiano (art. 336 e ss., do CPPI), o que exige um pouco de atenção quando de análises comparativas. Por outro lado e da mesma maneira, quando for caso de ação penal de iniciativa privada, dirá o CP que “somente se procede mediante queixa”. Por elementar, ao referir-se ao verbo proceder, quis o legislador apontar à ação, mesmo porque, na espécie, a peça formal que estampa o seu exercício recebe o nomem iuris de queixa e, portanto, coloca-se, na estrutura, como correspondente à denúncia, quando o caso for de ação penal pública. São exemplos, no CP, de hipóteses de ação penal de iniciativa privada o art. 345, Parágrafo único e art. 145 “caput”. Assim, por exclusão, sempre que não houver previsão desta ou daquela, o caso será de ação penal pública incondicionada.
4.2. Princípio da Obrigatoriedade (Legalidade)
Este princípio diz com a obrigatoriedade do exercício da ação penal pública, para evitar-se qualquer manipulação por parte do órgão acusador e, por outra parte, eventuais pressões que possa sofrer. Assim, entende-se que, presentes as condições da ação, deve exercitá-la, ainda que não exista previsão expressa na lei (como fez o legislador constituinte italiano, ao inserir o art. 112, na CR, que expressa: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”), embora seja certo ser uma decorrência do princípio constitucional da isonomia. Sem embargo, é praxe ser tratado por princípio da legalidade, em face de fundar um dever do órgão oficial de acusação.
Como ressalta Tourinho Filho, “pertencendo a ação penal ao Estado (salvo exceções), segue-se que aquele a quem se atribui o seu exercício, o Ministério Público, não pode dela dispor. Acertada a lição de Donnedieu de Vabres: (...) Os órgãos do Ministério público não agem senão em nome da sociedade que eles representam. Eles têm o exercício, mas não a disposição da ação penal; esta não lhes pertence (cf. Traité, cit., p. 606). (...) Cabendo ao Ministério Público o exercício da ação penal pública (princípio da oficialidade), o princípio da legalidade impõe-lhe outro dever, qual o de promover a ação penal sem inspirar-se em motivos políticos ou de utilidade social. (...)”[44].
É preciso salientar, ainda, que um dos fundamentos do princípio da obrigatoriedade, “está vinculado à independência do Ministério Público. Antes de funcionar como grilhão para a instituição, escuda-a de ingerências externas impertinentes, descabidas, dos mais variados segmentos da sociedade. Assim, mesmo sem previsão legal o temos como plenamente vigente e cremos nele, nos conformes, pela necessidade e pelos mais variados argumentos, alguns coerentes e aceitáveis, outros sem qualquer cabida, como anotou Frederico Marques.
O princípio, de linha mais vinculadora, opõe-se ao da oportunidade ou discricionariedade e ambos projetam-se no mundo informando os sistemas processuais. De regra, os países do Common Law e os influenciados diretamente por ele tendem para a oportunidade, ao passo que os países de traços germano-romanísticos, via de regra adotam o princípio da obrigatoriedade. Isto não implica, é claro, em regras estanques. Os países mesclam a utilização dos princípios conforme suas necessidades. A análise, neste sentido, serve bem para questionar-se até que ponto o argumento das influências externas seria válido. Por esse caminho, sabe-se que não se tem podido desacreditar - muito pelo contrário - na seriedade do MP nos países onde prevalece a discricionariedade no exercício do direito de ação. De uma forma ou de outra, os sistemas caminham. Vale a seriedade do MP, independentemente de obrigação legal ou não. Isso é o que menos importa. A discussão, desta forma, deve ficar para o controle de exercitar o direito de ação ou não. Assim, um controle sério, exclusivamente hierárquico, é o suficiente para resguardar o órgão - como homens e, como tal, passíveis de erro - e a instituição, fiel defensora da Constituição do Estado, e portanto, do todo, sem espaço para interferências estranhas, máxime do Executivo. Basta, de pronto, seriedade.
O CPP de 41 delimita o controle em um sistema misto. Sem vontade alguma de decretar a existência da obrigatoriedade, o art. 28, do Código de Processo, fecha na figura do juiz o controle do exercício do direito de ação e, somente em caso de discordância deste, remete a questão ao Procurador-Geral. As inconveniências do sistema são patentes: a última palavra, se for o caso, está sob a responsabilidade do Procurador-Geral, que ocupa cargo de confiança do Governador; exclui-se o órgão máximo da instituição, ou seja, o Conselho Superior e, sem discussão, como pior de tudo, permite, sem controle algum, manipulações conjuntas do Magistrado e do órgão do Ministério Público. Embora, na atual fase das instituições, isso não seja lugar comum, é de possível acontecimento e, portanto, uma falha imperdoável.”[45]
Além disto, é preciso ressaltar que a obrigatoriedade do Ministério Público promover a acusação, nos casos de ação pública, não está colocada de forma absoluta, uma vez que só se obtém a tutela jurisdicional, quando do exercício da ação, se presentes as chamadas questões prévias, incluídas aí as condições da ação e os pressupostos processuais analisáveis no juízo de admissibilidade.
Ademais, é preciso considerar que tal princípio da obrigatoriedade, ainda que fosse possível pensar estar atrelado ao princípio da legalidade, deve ser relativizado, já que um processo penal democrático tem, antes de mais nada, o objetivo de atender ao interesse público.
Neste sentido, Jorge de Figueiredo Dias assevera que “bem se compreende que, relativamente a certos casos concretos, a promoção e a prossecução obrigatórias do processo penal causem à comunidade jurídica maior dano que vantagem - máxime, atento o pequeno significado da questão para o interesse público, ou conexionado este com dificuldades de prova, inflação do número de processos, pequena probalidade de executar a condenação, etc. (v.g. relativamente a factos cometidos no estrangeiro ou por pessoa que se não encontre no país) - e que, em tais casos, se deixe ao MP uma certa margem de discricionariedade no procedimento. Ponto é que se não esqueça que poder discricionário não é sinônimo de arbítrio, mas concessão de uma faculdade que deve ser utilizada em direcção ao fim que a própria lei teve em vista concedê-la - no caso a preservação, em último termo, dos verdadeiros interesses da comunidade jurídica e dos valores prevalentes nela... ”[46].
Relativização, assim, a fim de se atender o interesse público, não implica em se admitir a sua manipulação. Por óbvio, pode-se nela chegar por mera constatação: sendo as condições da ação requisitos exigidos pela lei (art. 43 c.c. art. 18, ambos do CPP), abre-se, às escâncaras, um largo espaço à exegese, à adequação objeto/regra, à relação semântica. O intérprete, então, passa a ter papel fundamental, porque é imenso o espaço a ser preenchido pela subjetividade. Neste passo, como parece sintomático, o direito depende dos homens; e não das leis. E é justamente deles que se espera o sentimento de Justiça, da qual, por sinal, são Promotores.
A estrutura da ação, no nosso processo penal, conhece também o princípio da oportunidade ou da conveniência. É ele que rege o seu exercício nos casos de ação penal de iniciativa privada, razão por que se deixa ao ofendido (ou, se for o caso, o seu representante legal), a decisão de exercitá-la ou não. Age, portanto, se quiser, na medida da sua conveniência.
5. Princípios relativos ao Processo
“Il mezzo attraverso cui si attua la giurisdizione è il processo.// Il processo (processus da procedere) è il complesso degli atti giuridici diretti all’esercizio della giurisdizione.”[47] Daí poder-se dizer que no processo busca-se a reconstituição histórica do crime, a fim de se formar o convencimento do julgador.[48]
Em que pese a infinita discussão a respeito da sua natureza jurídica e a adoção, pela CF/88, da posição de Elio Fazzalari (art. 5º, LV), ou seja, de que há processo quando houver procedimento com contraditório[49], continua firme na dogmática, por enquanto, a noção bülowiana de que é ele uma relação jurídica processual.
Com tais premissas, há de se notar que são básicos três dos princípios relativos ao processo, pelos quais poder-se-ia partir à análise de outros: (i) princípio do contraditório; (ii) princípio da verdade material e (iii) princípio do livre convencimento.
5.1. Princípio do Contraditório
O princípio do contraditório é típico de um processo de partes, no qual o julgador mantém-se eqüidistante delas no exercício da atividade jurisdicional (conforme determina o princípio da imparcialidade), embora, representando[50] o Estado na relação processual, é o detentor do Poder e, por conta disto, funciona como órgão mediador, através do qual passam os pleitos.
Traduz-se, então, na necessidade de se dar às partes a possibilidade de exporem suas razões e requerem a produção das provas que julgarem importantes para a solução do caso penal. Assim, “é, pois, em resumo, ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidade de contrariá-los.”[51] Exprime-se, assim, na parêmia auditur et altera pars. Por sinal, a audiência das partes de modo paritário é vital à própria existência do processo, mormente porque expressão, quiçá máxima, do princípio da igualdade (isonomia). Afinal, como anotado em Bellavista-Tranchina, "dove non c'è contestazione, non c'è rapporto giuridico processuale; dove non c'è contradittorio, non c'è processo."[52]
Diante disto, é forçoso reconhecer que, por tal princípio, reflete-se um dever ser que reclama (exige) a dialética de um processo de partes, ou seja, o diálogo entre a acusação e a defesa, perante um juiz imparcial.
Ademais, é preciso ressaltar que, “o princípio do contraditório opõe-se, decerto, a uma estrutura puramente inquisitória do processo penal, em que o juiz pudesse proferir a decisão sem previamente ter confrontado o argüido com as provas que contra ele houvesse recolhido - e não faltaram exemplos históricos de processos penais assim estruturados - ou sem lhe ter dado, em geral, qualquer possibilidade de contestação da acusação contra ele formulada. Excepção feita, porém a casos de estrutura mais asperamente inquisitória, o princípio encabeçado sobretudo na pessoa do arguido, mereceu sempre geral aceitação - nos direitos antigos (tanto no grego como no romano) como nos medievais (após a recepção do direito romano, logo em seguida obscurecida, como se sabe, pelo processo inquisitório) e, de forma inquestionável, nos processos penais <> consequentes à Revolução Francesa.”[53].
Assim, no processo penal brasileiro, da mesma maneira que nos supracitados processos de essência inquisitorial, é assegurado o princípio do contraditório. Não obstante, na prática, não há efetividade formal (a lei trata de manter a desigualdade, entre outros e por exemplo, nos arts. 222, 370, § 1º, 501, todos do CPP) e muito menos material[54], dependendo-se, sobremaneira, em primeiro lugar, do conhecimento do órgão julgador e, depois, do rigor que impõe a si mesmo quanto ao respeito pela garantia constitucional, até porque os princípios relativos às invalidades abre um campo tão amplo de ação a ponto de, se bem operados, quase tornar possível a sua inviabilidade. À guisa de exemplo, veja-se o pas de nullitè sans grief (não há nulidade sem prejuízo), inserto no art. 563, do CPP, onde prejuízo, em sendo um conceito indeterminado (como tantos outros dos quais está prenhe a nossa legislação processual penal), vai encontrar seu referencial semântico naquilo que entender o julgador; e aí não é difícil perceber, manuseando as compilações de julgados, que não raro expressam decisões teratológicas.
Veja-se, todavia, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, prevê expressamente que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” - gn -.
Em sendo ele, o contraditório, uma garantia constitucional, para se ter um processo penal democrático não se pode pensar em restringi-lo, salvo quando esbarrar em outro princípio também previsto na Constituição, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que são protegidos os direitos à intimidade e à privacidade. Tal confronto há de ser resolvido pela aplicação do princípio da proporcionalidade (como querem os alemães) ou princípio da razoabilidade, na visão dos americanos.
Por derradeiro, há de ressaltar que o contraditório, em sendo um princípio lógico, está inserido em âmbito mais amplo[55], ou seja, aquele do princípio do devido processo legal, hoje constitucionalmente estabelecido (art. 5º, LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”), razão pela qual é recomendável que o seu estudo inicie pela matéria constitucional, ainda tão carente na nossa dogmática.
5.2. Princípio da Verdade Material
O princípio da verdade material remete-nos ao estudo do processo enquanto reconstrução de um fato pretérito.
Como já tivemos a oportunidade de analisar tal matéria, basta, por brevidade, adotá-la, agora, de forma integral, mesmo porque a avaliação é recente.[56]
“O fato, neste diapasão, é acontecimento histórico, dado à luz por adequação ou inadequação ao jurídico. Como tal, traduz-se em uma verdade também histórica e, assim, recognoscível. O meio, sabe-se bem, de fazer – ou se tentar fazer - com que aporte no processo é a prova. Eis por que se diz que a prova é o meio que constitui a convicção do juiz sobre o caso concreto ou, também e no mesmo sentido, conjunto de elementos que formam a convicção do juiz, em que pese, saberem todos, não ser só ela a verdadeira formadora do juízo.
De qualquer sorte, Carnelutti mostrou, já em 1925, que é estéril a discussão a respeito de viger a verdade material ou a verdade formal, olhando à diferença que se insistia - e alguns ainda insistem - em fazer entre elas, no processo penal e civil. Se Eugenio Florian (Prove penali. Milano : Vallardi, 1924, p. 6 e ss) apontou naquela direção, Carnelutti, ao responder (Prove civile e prove penali. in Rivista di diritto processuale civile, Padova : La litotipo, 1925, volume II, parte I, p. 3 e ss, especialmente, pp. 17-18), mostrou que a comparação era equivocada, a um, porque o escopo de ambos era a verdade e; a dois, porque “se l’impiego di dati mezzi, i quali talvolta servono a farla conoscere, talvolta no, viene prescritto, il risultato che salta fuori si chiama verità formale o legale volendosi significare che il loro risultato deve essere dal giudice posto a base della decisione, come se fosse verità, anche se non sia.(...) Il che significa che neanche al processo penale si deve assegnare, come risultato anzichè come scopo, la verità materiale.” (p. 18). Com tal formulação, sequer a resposta de Florian (Le due prove (civile e penali). in Rivista di diritto processuale civile, Padova : Cedam (già Litotipo), 1926, Volume III, Parte I, p. 221 e ss), ainda que bem lançada, foi convincente, porque necessariamente circunscrita a pontos secundários. Basta ver que, no essencial, asseverou que “Lo scopo generico delle varie prove, che nei due processi si possono svolgere, è sempre quello di scoprire la verità; ma - ahimé - la verità, già tanto ardua a conseguirsi, si atteggia in modo diverso nelle prove penali e nelle prove civili.” (p. 223). Daí por diante, não havia como confrontar escopos e resultados, embora fosse - e continue sendo - visível a diferença que se manifesta quanto à busca, dada a origem sistêmica inequivocamente distinta entre ambos os ramos do direito processual: o penal continua sendo essencialmente inquisitório e o civil segue com sua essência acusatória-dispositiva; sistemas diferentes (veja-se, por evidente, o conceito de sistema, antes de tudo), princípios reitores diferentes: naquele inquisitivo; neste, dispositivo. Não existe, todavia, princípio misto, razão por que não se sustenta - a não ser retoricamente - um sistema misto, embora, hoje, todos o sejam, isto é, mantêm o seu núcleo (e assim devem ser vistos), mas elencam elementos secundários importados do outro sistema. Por este viés e metaforicamente falando, há uma distância de ano-luz entre eles, a qual só não vê quem não quer; ou tem interesse em manter a situação como está, o que não é de bom alvitre, dada a suma importância da matéria, para o que basta pensar nas reformas legislativas.
A afirmação de Carnelutti, algo como: busca-se a verdade material e obtém-se como resultado a verdade formal - e que lhe marcou a carreira e a vida intelectual até 1965, quando publica o Verdade, dúvida e certeza -, acaba sendo o grande ponto de partida, pela negação da última (verdade formal), porque a primeira “jamais pode ser alcançada pelo homem”. A verdade, se assim o é, há de ser, ou melhor, é uma só; e aquela dita formal, por evidente, em sendo uma mero reflexo no espelho, “não é a verdade”. O processo, porém, continua tendo conteúdo, mas é de outra coisa que se trata.
Aqui, como salta à vista, há uma grande responsabilidade ética: Carnelutti funda as bases para que se sustente que os julgamentos são lançados sobre aquilo que, a priori, sabe-se não ser verdadeiro. Dá-nos, então, por primário, a possibilidade - quiçá pela primeira vez! - de questionar a malfadada segurança jurídica, desde sempre tão-só retórica e que transformou heróis em vilões e vice-versa.
Não bastava, todavia, disparar contra - e desmontar - o sustentáculo maior da aparente tranqüilidade dos senhores que não queriam - e não querem! - assumir as suas responsabilidades, no contraponto dos poderes e deveres que detêm, algo só passível de entendimento a partir de Freud e da psicanálise, mas desde logo compreensível, para sorte da democracia. Era necessário, não obstante, ir além e explicar por que e, depois, oferecer algo para colocar-se no seu lugar. Carnelutti, neste pequeno-grande texto, não deixa por menos, embora o faça de modo inaceitável.
Com efeito, a verdade está no todo, mas ele não pode, pelo homem, ser apreensível, ao depois, a não ser por uma, ou algumas, das partes que o compõem. Seria, enquanto vislumbrável como figura geométrica, como um polígono, do qual só se pode receber à percepção algumas faces. Aquelas da sombra, que não aparecem, fazem parte - ou são integrantes - do todo, mas não são percebidas porque não refletem no espelho da percepção. Ademais, esta figura multifacetada, por evidente, não pode ser tomada - ou confundida - com apenas uma das suas faces. Por isto, sem que se fira o princípio da não-contradição (ARISTÓTELES. Metafísica. trad. de Leonel Vallano, Porto Alegre : Globo, 1969, Livro IV, p. 86 e ss; Livro X, p. 206 e ss: “o mesmo atributo não pode, ao mesmo tempo, pertencer e não pertencer ao mesmo sujeito com relação à mesma coisa” [p. 92]), é plenamente possível afirmar que a parte-face é e não-é ao mesmo tempo. Naquilo em que não-é (na percepção quando da recognição da instrução processual, por exemplo), marca a falta da verdade, à qual, para chegar-se, “é necessário conhecer não somente aquilo que a rosa é, mas também aquilo que ela não é”.
Não se trata, aqui, de desdizer, por vias transversas, o pai da Metafísica, Parmênides, quando afirmava: o ser é; o não-ser não é. O problema continua sendo o mesmo de sempre, ou seja, a identificação do próprio ser. E aqui, para nós, Dussel continua imbatível, embora insistam em denegá-lo, em não o reconhecer: “O ser é o próprio fundamento do sistema ou a totalidade de sentido da cultura e do mundo do homem do centro. (...) A ontologia, o pensamento que exprime o ser - do sistema vigente e central -, é a ideologia das ideologias, é o fundamento das ideologias do império, do centro. A filosofia clássica de todos os tempos é o acabamento e a realização teórica da opressão prática das periferias. (...) Identidade do poder e da dominação, o centro, sobre as colônias de outras culturas, sobre os escravos de outras raças. O centro é; a periferia não é. Onde reina o ser, reinam e controlam os exércitos de César, do Imperador. O ser é; é o que se vê e se controla. (...) Os filósofos modernos europeus pensam a realidade que se lhes apresenta: a partir do centro interpretam a periferia. Mas os filósofos coloniais da periferia repetem uma visão que lhes é estranha, que não lhes é própria: vêem-se a partir do centro como não-ser, nada, e ensinam a seus discípulos, que ainda são algo (visto que são analfabetos dos alfabetos que se lhes quer impor), que na verdade nada são; que são como nadas ambulantes da história. Quando terminaram seus estudos (como alunos que ainda eram algo, porque eram incultos da filosofia européia), terminam como seus mestres coloniais por desaparecer no mapa (geopoliticamente não existem, e muito menos filosoficamente). Esta triste ideologia com o nome de filosofia é a que ainda se ensinava na maioria dos centros filosóficos da periferia pela maioria dos professores”. (DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação. trad. de Luiz João Gaio, São Paulo-Piracicaba : Loyola-Unimep, s/d, pp. 11-12-18-19).
Daqui por diante, a questão é de método, porque só através dele é possível dizer sobre o ser. Neste campo, reinou e reina a analítica aristotélica, porque por excelência diz com o método da ciência. Para um direito órfão da vera e própria cientificidade, nada mais superficial que se engajar em algo do gênero (embora tenha sido exatamente isto que foi feito), tendo-se por pano de fundo, por sintomático e mais uma vez, a aparente segurança jurídica: ou alguém seria capaz de duvidar que a “precisão” da premissa seduziu os incautos?; ou seria melhor dizer ingênuos?; ou, melhor ainda, inseguros?; não fossem muitos catedr’áulicos, como diria Lyra Filho, que servem à dominação por safadeza. (LYRA FILHO, Roberto. Por que estudar direito, hoje?. Brasília : Nair, 1984, p. 23): sabem do que se trata; que é necessário mudar; mas querem que tudo fique como está, ou que mude para ficar como está, qual Tancredi, de Lampedusa, em Il gattopardo, explicando-se ao tio. Pense-se, nesta esteira, por exemplo, em como estuda-se - e ensina-se - a sentença e o ato de sentenciar; o requerimento-petição e o ato de requerer, e assim por diante. Tudo, enfim, resume-se a silogismos, muitas vezes sem qualquer sentido; ou, o que é muito pior, que dão, categoricamente, “o” sentido. De qualquer forma, o vício parece estar no próprio método; e mais uma vez Carnelutti, ainda que sem o saber (ou já sabia?), proporcionou-nos um passo adiante. Afinal, quando afirma que “o todo é demais para nós“, antecipa aquilo que veio a ser um dos pilares do neoliberalismo de Friedrich August von Hayek (Derecho, legislación y liberdad. México : Unión Editorial, 1985), mas abre um grande leque de discussão e investigação. Sem embargo, para o que agora interessa-nos, isto é, o espaço de questionamento do valor da analítica enquanto “o método” do direito, assim como o nosso autor, Dussel também vai afirmar, sobre ela, que “Antes de de-monstrar algo há que mostrar o princípio ‘a partir’ do qual se pretende ‘de’-monstrar. O que se mostra é o ponto de partida da de-monstração e não se o pode por sua vez de-monstrar – porque se iria ao infinito, jamais podendo demonstrar algo. O ponto de partida é indemonstrável. Ou a ciência parte de princípios evidentes ou não há ciência. (...) A ciência parte do conhecido por evidência: a evidência, porém, funda-se na cotidianidade dentro da qual o princípio é considerado (às vezes por mera convicção histórico-cultural) evidente. (...) A ciência não parte de duas possibilidades, mas de um princípio ou axioma. A ciência não se interroga acerca de seus axiomas. Considera-os evidentes; do contrário não haveria ciência. (...) A ciência capta com evidência seus princípios: estes princípios são postos-debaixo: sub-postos”. (DUSSEL, E.. Método para uma filosofia da libertação. trad. de Jandir João Zanotelli, São Paulo : Loyola, 1986, pp. 24-25-29). Resta evidente, por óbvio, que estamos diante de uma impossibilidade, de uma insegurança enquanto pretende-se exatamente o oposto, isto é, aquilo que proporciona a segurança; assim, estamos diante de uma verdade aceita, corroborada, quando efetivamente o é porque, de seguro mesmo, só a certeza de que se pode manipular o axioma. E não há de se duvidar ser a prerrogativa usada por aqueles com poderes para tanto... sempre em nome da “verdade”, da “fé”, da “maioria”, do “povo”, da “segurança nacional”, “da falta”, ou seja, do argumento retórico mais apropriado para o momento. Sem embargo, isto é possível porque se mantém vivo - e mantém-se mesmo! -, no imaginário coletivo, a ameaça do inimigo, do contrário, do invasor, ou quem se prestar a tanto; sem embargo, no limite, cria-se um “bode expiatório” (em sociedades autoritárias), ou desenvolve-se o racismo, naquelas tidas como mais democráticas, como se fez na Europa ocidental com os imigrantes, mormente após a queda do muro de Berlim: “Assim os grupos sociais mantêm sua coesão em uma oscilação pouco divertida entre ditadura e democracia, duas formas de organização cujos efeitos são avaliados ou pela exclusão de um bode expiatório, ou por um racismo mais ou menos larvado”. (POMMIER, Gérard. Freud apolítico?. trad. de Patrícia Chitonni Ramos, Porto Alegre : Artes Médicas, 1989, p. 35).
Desmitificada a analítica, restaria a dialética e o saber que propicia, “mais perfeito que o científico”. (DUSSEL, E. ob. cit., Método, p. 25). Eis a força do livro dos Tópicos, de ARISTÓTELES (trad. de Leonel Vallandro e Gerd Bernheim, 4ª ed., São Paulo : Nova Cultural, 1991, coleção Os Pensadores), banido porque o ponto de partida já não devia ser uma “premissa exata” - e fonte de toda a aparente segurança -, mas de mera “opinião cotidiana”, julgada desprezível pelos adeptos de Platão (e a Igreja não se construiria - e consolidar-se-ia - se não fosse assim: veja-se O Nome da Rosa, de Umberto Eco), razão por que se caminhou ao outro extremo, isto é, o de se pensar “que a ciência era o supremo”. (DUSSEL, E. ob. cit, Método, p. 25).
No lugar de ambas (analítica e dialética), faz-se mister referir - embora não se tenha muito espaço neste despretensioso ensaio -, que Dussel vai apontar da direção da analética, a qual mereceria uma mais profunda observação, dada a riqueza com que se apresenta. (DUSSEL, E. ob. cit, Método, p. 196-7 e 199).
Carnelutti mostrou-nos, ao colocar em crise - e destruir - a noção de verdade processual, a corda bamba pela qual temos que passar para sobreviver. Resta-nos, porém, uma ética na qual o outro conte - e deve contar - alguma coisa; a ética da alteridade. Já não somos, por outro lado, os mesmos dos tempos dos nossos avós, onde a palavra valia acima de qualquer lei (ou com ela se confundia), quiçá porque estamos perdendo o registro do simbólico, em troca de um crescente deslizar no imaginário. As aparências, como diz o ditado popular, enganam; e enganam mesmo! Diagnosticada a falta da verdade, no lugar dela Carnelutti propõe que no processo passe-se a buscar e investigar a certeza. No fundo, é bom que se diga desde logo, não vai mudar muito; mas vai, definitivamente, colocar o espelho diante daqueles que nele devem enxergar-se.”.
Apesar do exposto, a grande maioria da doutrina brasileira insiste em dizer que o processo penal é regido pelo princípio da verdade material. Contudo, não se dá conta que esta idéia vem legitimar o sistema inquisitório e toda a barbárie que o acompanha, na medida em que tem o processo como meio capaz de dar conta “da verdade”; e não de “uma verdade”, não poucas vezes completamente diferente daquela que ali estar-se-ia a buscar.
Assim, é preciso admitir que no processo penal jamais se vai apreender a verdade como um todo - porque ela é inalcançável - e, portanto, como se viu, o que se pode - e deve - buscar nos julgamentos é um juízo de certeza, pautado nos princípios e regras que asseguram o Estado Democrático de Direito.
5.3. Princípio do Livre Convencimento
Como se sabe, a produção da prova no processo penal tem por objetivo formar a convicção do juiz a respeito da existência ou inexistência dos fatos e situações relevantes para a sentença. É, em verdade, o que possibilita o desenvolvimento do processo, enquanto reconstrução de um fato pretérito, conforme restou demonstrado.
Nesse momento, reconstituídos os fatos, surge a questão referente à apreciação da prova. Como é primário, há, historicamente, três princípios que orientam a regência da dita apreciação, em que pese não necessariamente em tal ordem cronológica: (i) o valor das provas é dado pelo juiz que, livremente, empresta a ela a sua subjetividade: trata-se do princípio da convicção íntima ou certeza moral; (ii) o valor das provas é atribuído taxativamente pela lei: trata-se do princípio da certeza legal ou tarifamento legal; (iii) o valor das provas é atribuído livremente pelo juiz, a partir de sua convicção pessoal, porque não há como ser diferente, na estrutura atual do processo, mas todas as decisões devem ser fundamentadas: trata-se do princípio do livre convencimento ou da convicção racional.
Daquilo que serve de base ao pensamento hodierno sobre a matéria e, de conseqüência, influencia o nosso, há de se ver que muitas legislações aceitaram a previsão da possibilidade do juiz incorrer em erro, no momento de valoração dos meios de prova utilizados, razão pela qual fixou-se, na lei, uma hierarquia de valores referentes a tais meios. Veja-se, neste sentido, o sistema processual inquisitório medieval, no qual a confissão, no topo da estrutura, era considerada prova plena, a rainha das provas (regina probationum), tudo como fruto do tarifamento previamente estabelecido. Transferia-se o valor do julgador à lei, para evitar-se manipulações; e isso funcionava, retoricamente, como mecanismo de garantia do argüido, que estaria protegido contra os abusos decorrentes da subjetividade. Sem embargo, a história demonstrou, ao revés, como foram os fatos retorcidos, por exemplo, pela adoção irrestrita da tortura.
Todavia, após a Revolução Francesa, passou-se a sustentar que o valor e a força dos meios de prova não podem ser aferidos a priori, com base em critérios legais, mas tão-só a partir da análise do caso concreto. Assim, passou-se a substituir, paulatinamente, o princípio da valoração legal das provas pelo princípio da livre apreciação delas pelo juiz, com a devida fundamentação: teríamos chegado, com o livre convencimento, à fase científica.
No Brasil adotou-se o princípio do livre convencimento, conforme dispõe o art. 157, do CPP (“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova), que deve ser conjugado com art. 93, IX, da CF: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;”.
Vale salientar que, por evidente, tal princípio do livre convencimento não deve implicar numa valoração arbitrária da prova por parte do juiz. Ora, “se a apreciação da prova é na verdade, discricionária, tem evidentemente esta discricionariedade (como já dissemos que a tem toda a discricionariedade jurídica) os seus limites que não podem ser licitamente ultrapassados: a liberdade de apreciação da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever - o dever de perseguir a chamada <> -, de tal sorte que a apreciação há de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação e de controlo (possa embora a lei renunciar à motivação e ao controlo efectivos)”[57].
Sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover assevera, ainda, que “Com a liberdade da valoração não se pode confundir princípio diverso, que é o da liberdade da produção da prova, o qual resulta no poder inquisitivo do juiz de buscar e introduzir no processo ex officio elementos probatórios, além do material produzido pelas partes.”[58].
Por fim, faz-se imprescindível reconhecer que o princípio do livre convencimento pode ser manipulado pelo julgador, razão por que a consciência de tanto é necessário a fim de controlar-se, dando efetividade à garantia constitucional. Neste sentido, Nilo Bairros de Brum afirma que, “Geralmente, chegado o momento de prolatar a sentença penal, o juiz já decidiu se condenará ou absolverá o réu. Chegou a essa decisão (ou tendência a decidir) por vários motivos, nem sempre lógicos ou derivados da lei. Muitas vezes, a tendência de condenar está fortemente influenciada pela extensão da folha de antecedentes do réu ou, ainda, pela repugnância que determinado delito (em si) provoca no espírito do juiz. Por outro lado, o fiel da balança pode ter pendido para a absolvição em razão da grande prole do réu ou em virtude do fato de estar ele perfeitamente integrado na comunidade ou, ainda, pelo fato de que o delito cometido nenhuma repugnância causa ao juiz, o que o faz visualizar tal figura penal como excrescência legislativa ou um anacronismo jurídico. Sabe o julgador, entretanto, que essas motivações não seriam aceitas pela comunidade jurídica sem uma roupagem racional e tecnicamente legítima. Se declarar francamente que condena o réu em razão de seus péssimos antecedentes ou que o absolve porque é trabalhador e tem muitos filhos, sua sentença fatalmente será reformada por falta de base jurídica. (…) Buscará, então, o julgador outro caminho que pode ser através da avaliação da prova ou por meio da interpretação da norma. Geralmente, pelo menos entre nós, os juízes preferem o primeiro caminho, já que a prova é produzida longe dos tribunais e a possibilidade de controle é mais difícil. (…) Mas o julgador tem de justificar sua escolha: tem de convencer que elegeu a melhor prova. Surge aqui o primeiro requisito retórico da sentença, que não é outro senão o da verossimilhança fática. Trata-se de um efeito de verdade.”[59]
O importante, enfim, neste tema, é ter-se um julgador consciente das suas próprias limitações (ou tentações?), de modo a resguardar-se contra seus eventuais prejulgamentos, que os tem não porque é juiz, mas em função da sua ineliminável humanidade.
--------------------------------------------------------------------------------
*. Texto preparado e inicialmente apresentado no âmbito da Comissão de Estudos criada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Instituto Max Planck, de Freiburg, Alemanha, no Projeto “A Justiça como garantia dos direitos humanos na América Latina”, maio de 1998, a partir das aulas de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da UFPR.
[25]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Sobre o estado actual da doutrina do crime. In Revista portuguesa de ciência criminal, Lisboa : Aequitas Editora, 1991, jan-mar, fasc. 1, p. 14: "Assim se erige a autonomia da valoração - pelo menos uma autonomia relativa, dentro das 'possibilidades' que lhe são oferecidas pela pré-determinação não jurídica do substrato - em momento essencial do pensamento jurídico-penal. Quando porém, em seguida, se afronta a questão do critério ou critérios da valoração, não parece suficiente dizer que o legislador os escolhe em inteira liberdade e que o intérprete só terá de os ir buscar à lei. A solução terá antes de alcançar-se por uma via apontada para a 'descoberta' (ou 'criação') de uma solução justa do caso concreto e simultaneamente adequada ao (ou comportável pelo) sistema jurídico-penal. Isto supõe o que tenho chamado de 'penetração axiológica' do problema jurídico concreto e que, no âmbito do direito penal, tem de ser feita por apelo ou com referência a finalidades valorativas e ordenadoras de natureza político-criminal". Contra: ROXIN, Claus. Täterschaft und Tatherrschaft, Hamburg: de Gruyter, 1963, p. 20; BETTIOL, Giuseppe. Gli ultimi scritti e la lezione di congedo, Padova : Cedam, 1984, p.116, em texto apresentado por Luciano Pettoello Mantovani, de um discurso inacabado que o professor de Padova faria aos jovens magistrados reunidos no Consiglio Superiore della Magistratura, sob o título "Garanzie fondamentali della persona nella costituzione, nei codici penali, nella legislazione dell'emergenza e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo": "Voi dovete conoscere ed applicare leggi che non sempre sono perfette perché anche il legislatore può sbagliare in quanto uomo, ed è solo dell'uomo poter errare. Ma la vostra coscienza aperta al senso della verità, della giustizia e della libertà, tale deve essere da poter indicare eventuale errori legislativi e quindi sollecitare il legislatore a rivedere quello che ha fatto."-gn-. Mas o juiz, aqui, continua servo do legislador; e o discurso é meramente retórico enquanto, nos casos que interessa, decide contra os erros da lei; e tudo volta ao ponto de partida, ou seja, um problema de fundamentação da decisão. Que o magistrado seja insensível e tão-só se limite a pedir ao legislador a correção do erro é compreensível, mas inaceitável, mesmo porque não poucas vezes a emenda não acontece.
[26]. MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. Introdução... Op. cit., p. 154.
[27] COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel... Op. cit., p. 42-43. O conceito de transdisciplinariedade vem de MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. 2ª ed., Lisboa : Estampa, 1989.
[28]. PORTANOVA, Rui. Motivações... Op. cit., p. 41: "A dificuldade na concretização de elementos conceituais deve-se, por certo, à grande extensão de fatores, inclusive inconscientes, que afastam as condições psicológicas de julgar com isenção. Desses fatores não está a salvo o juiz honesto, probo e honrado, o qual deve ser o primeiro a suspeitar, não de sua integridade moral, mas de seu estado d'alma. (...) p.42: Em suma, há sempre uma ampla possibilidade de questionar-se a imparcialidade, pois a '... neutralidade do juiz é importantíssima para que se possa garantir a toda sociedade sua independência' (Rezek, 1990, p. 9) e às partes tratamento igualitário (Theodoro Jr., 1985, p. 181)."
[29]. CORDERO, Franco. Procedura penale. 8ª ed., Milano : Giuffrè, 1985, p. 254; _____ Procedura penale. Milano : Giuffrè, 1991, 109 e ss.
[30]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit. p. 328.
[31]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit. p. 328-329.
[32]. Por imprescindível, há de se ver o tríplice significado que empresta ao princípio: "a) Ele põe em evidência, em primeiro lugar, o plano da fonte: só a lei pode instituir o juiz e fixar-lhe a competência.// b) Em segundo lugar, procura ele explicitar um ponto de referência temporal, através deste afirmando um princípio de irretroactividade: a fixação do juiz e da sua competência tem de ser feita por uma lei vigente já ao tempo em que foi praticado o facto criminoso que será objecto do processo.// c) Em terceiro lugar, pretende o princípio vincular a uma ordem legal taxativa de competência, que exclua qualquer alternativa a decidir arbitrária ou mesmo discricionariamente." (DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit., p. 322-323).
[33]. CARNELUTTI, Francesco. Verdade, dúvida e certeza. Trad. Eduardo Cambi. Folha Acadêmica nº 116/1997, Curitiba. Centro Acadêmico Hugo Simas. Composição Gráfica Linarth. Originalmente publicado na Rivista di Diritto Processuale, Padova : Cedam, 1965, vol. XX (II Série), pp. 4-9, com o título Verità, dubbio e certezza.
[34]. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas ao “verdade, dúvida e certeza”, de Francesco Carnelutti, para os operadores do direito. No prelo. O presente trabalho foi especialmente preparado para o painel “Direito e Psicanálise”, do Seminário Nacional “O Direito no III Milênio: Novos Direitos e Direitos Emergentes”, realizado na Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, em Canoas, Rio Grande do Sul, de 12 a 15 de novembro de 1997, no prelo.
[35]. CORDERO, Franco. ... Op. cit., p. 51.
[36]. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel... Op. cit. p. 39.
[37]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit. p. 136.
[38]. Contra: DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit. p. 148.
[39]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit.. p. 116.
[40]. DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito... Op. cit.. p. 117.
[41]. MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. 2ª ed., Rio de Janeiro - São Paulo : Forense, 1965, p. 146-147; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 18ª ed., São Paulo : Saraiva, 1997, p. 196-198.
[42]. Art. 29, do CPP: “Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal”.
[43]. Art. 5º, LIX, da CF: “Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”.
[44]. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo... Op. cit. p. 313-315.
[45]. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Princípios gerais do processo penal. In: Revista da Faculdade de Direito da UFPR, nº 22, ano 22, 1985, p. 216-217. Por evidente, depois da CF/88 já não se ocupa cargo de confiança, mas mandato (art. 128, § 3º), mas é coerente manter-se o texto original pelo seu conjunto.
[46]. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito... Op. cit.. p. 131.
[47]. PISAPIA, Gian Domenico. Compendio di procedura penale. 4ª ed., Padova : Cedam, 1985, p. 11: “O meio através do qual atua-se a jurisdição é o processo.// O processo (processus de procedere) é o complexo dos atos jurídicos dirigidos ao exercício da jurisdição.”
[48]. ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios fundamentais do processo penal. São Paulo : RT, 1973, p. 6.
[49]. FAZZALARI, Elio. L’esperienza del processo nella cultura contemporanea. In Rivista di diritto processuale, Padova : Cedam, 1965, vol. XX, p. 27.
[50]. A noção, perfeita para caracterizar o que sucede, é de PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de direito privado. 3ª ed., Rio de Janeiro : Borsoi, 1970, p. 412 e ss.
[51]. ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. Princípios..., Op. cit. p. 82.
[52]. BELLAVISTA, Girolamo & TRANCHINA, Giovani. Lezione di diritto processuale penale. 7ª ed., Milano : Giuffrè, 1982, p. 181: "onde não existe contestação, não existe relação jurídica processual; onde não existe contraditório, não existe processo."
[53]. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito..., Op. cit.. p. 150.
[54]. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Princípios... Op. cit. p. 214
[55]. TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São Paulo : Saraiva, 1993, p. 47 e ss.
[56]. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Glosas..., Op. cit.
[57]. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito... Op. cit.. p. 202.
[58]. GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades públicas e processo penal: as interceptações telefônicas. Rio de Janeiro : Saraiva, 1976, p. 132.
[59]. BRUM, Nilo de Bairros. Requisitos retóricos da sentença penal. São Paulo : RT, 1980, p. 72-73.

 Brasília, 27/08/2010 - Ter direitos, mas não saber quais são nem como exercê-los. Como explicar isso às crianças e adolescentes? Foi essa a missão que levou, nesta sexta-feira, uma equipe da Defensoria Pública da União (DPU) a uma escola do Guará, cidade-satélite de Brasília (DF).
Brasília, 27/08/2010 - Ter direitos, mas não saber quais são nem como exercê-los. Como explicar isso às crianças e adolescentes? Foi essa a missão que levou, nesta sexta-feira, uma equipe da Defensoria Pública da União (DPU) a uma escola do Guará, cidade-satélite de Brasília (DF).