Artigos
6 agosto 2012
Conceito de autoria
O mensalão e o "domínio do fato - tipo ponderação"
O Direito e sua operacionalidade nos prega peças cotidianamente. Por isso temos que ter muito cuidado. A relação “teoria-prática” é absolutamente ficcional (mormente em terrae brasilis). Basta ver a cultura manualesca que impera no ensino jurídico, em parte da doutrina e em parcela considerável da jurisprudência. “Ensinamos” aos alunos a “teoria do delito”, falando do finalismo, causalismo etc. Só que quase tudo de “segunda ou terceira mão”. Os autores que fundaram as diversas teorias são lidos por apud. Ou por transcrições sem contexto. Se, por exemplo, perguntarem para (muitos) juristas que escrevem sobre “o finalismo” acerca dos fundamentos filosóficos de tal teoria, podem apostar que a resposta será também de segunda mão. E assim por diante.
Nesse momento, no assim denominado “processo do mensalão” (embora os advogados do PT queiram impedir o uso dessa palavra, no estilo da “novilíngua” da obra 1984, de Orwell, em que o Ministério da Fome era chamado pelo establishment de “Ministério da Fartura”!!!), estamos diante de uma tese que corre o risco de não ser bem entendida. Para o “bem” e para o “mal”.
Como um mantra, repete-se a teoria do “domínio do fato”. Já não se fala de outra coisa. Aliás, o mensalão –perdão, devo ser multado por nominar o “inominável” – é a causa mais badalada dos últimos anos. O jornal Folha de S.Paulo diz que um dos advogados de um dos réus respondeu ao procurador-geral da República cantando músicas de Chico Buarque em bar de sua (dele, não do Chico) propriedade. É o que se chama “extensão do espaço de defesa”. Deve ser algo ligado “ao domínio da tese ou domínio das teses”... Nesse caso, o advogado, ao cantar (afinada ou desafinadamente) junto ao pianista, é autor imediato ou mediato do sacrifício musical? Quem saberá? Há também o lado “esportivo” do julgamento: um advogado de outro réu, ao ouvir a acusação, disse que "o atacante é ruim de bola!". Já sobre sua estratégia, referiu: "se tiver que dar canelada, vamos dar! Futebol é assim". Perfeito (no futebol). Já no campo jurídico...
Voltando. Não se fala de outra coisa na República. O que me preocupa nisso tudo é a possibilidade de vulgarização de algumas teses. Mais: talvez o mais importante nesse julgamento não seja “o caso” do “inominável”, mas o modo como serão julgadas, no futuro, causas semelhantes no restante do Brasil. Sim, porque o Brasil, ao que consta, não acaba com o mensalão (embora a recíproca – tendo ele, de fato, ocorrido – pudesse ser verdadeira... Um sarcasmo é necessário às vezes, pois não?!). Não acredito em teses do tipo “Brasil AM-DM” – antes do mensalão e depois do mensalão. Do mesmo modo, não estamos “jogando uma Copa do Mundo” jurídico-processual, algo como “ou medalha de ouro ou nada”. Um exemplo interessante desse “espírito” é a declaração da ilustre procuradora da República Janice Ascari, ao dizer que “não há hierarquia entre prova testemunhal, pericial e documental”, ao comentar o processo do “inominável”. Mais ainda, em outra entrevista – esta de 2005, aqui na ConJur –, disse que, em face do interesse público, é menos danoso um inocente preso sem culpa do que um culpado solto (sic).
Tenho receio desse tipo de dicotomização. Embora eu seja, como diria Norberto Bobbio, um (baita) “pessimista metodológico”, penso que temos gordura jurídico-democrática para queimar em terrae brasilis. Não acredito em “enunciados performativos” e tampouco em “significantes primordiais-fundantes” (que contenham, antecipadamente, todas as respostas, que é, ao que parece, ser a pretensão dos comentários). Claro que indícios valem. E é possível dizer que provas testemunhas podem condenar (pensemos na famosa frase: “A palavra da vítima nos crimes de estupro é de fulcral importância). Também parece evidente que não é hora, agora, de desqualificar provas que não tenham o manto da técnica (lembro-me da “era da técnica”, tão bem critica em Der Mann ohne Eigenschaften – O Homem sem Atributos, de Robert Musil). Indícios também podem ser importantes, quando ligados por teias que capilarizam a prova. Mas isso não quer dizer que devemos jogar fora a bacia, com a água e a criança dentro (falo da teoria da prova – repito: não há AM-DM). Há, sim, hierarquia entre provas, cada uma analisada no seu contexto e na relação com as demais. Citemos, como exemplos, fotografias, cartas, exame de DNA, extratos bancários, filmagens... Evidentemente que haverá casos em que a prova testemunhal será relevante. Mas, ela mesma, diante de uma filmagem idônea, cai por terra. E assim por diante. E nem precisamos – e nem quero – pegar o “inominável mensalão” (ups, fui multado de novo) como “pomo de ouro” para discutir essa problemática. Isso pode ser feito em qualquer processo. Uma coisa me intriga (ainda) em tudo isso: por que seria menos danoso um inocente ser preso do que soltar um culpado? O que a democracia ou a civilização ganharia com isso? Millôr tinha uma frase genial: não dá para estuprar em nome da continuidade da raça. Esse Millôr...
Mas fixemo-nos no exemplo da tese do Domínio do Fato. Trata-se de uma tese complexa. O seu risco é que ela seja transformada em uma nova “ponderação” ou em uma espécie de “argumento de proporcionalidade ou de razoabilidade”, como se fosse uma cláusula aberta, volátil, dúctil. Quantas vezes já a aplicamos em terrae brasilis? No plano da cotidianidade das práticas jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. Parece que nossos juristas estão mais preocupados em discutir o “feijão com arroz do Direito Penal”. Não há muitas decisões nos tribunais adotando a tese (se é bom ou ruim, não importa, agora, falar disso). E as que adotam, não aprofundam. Nos cursos de preparação para concurso – de onde sairão os futuros juízes e promotores, por exemplo, explica-se a tese do seguinte modo, verbis:
“Domínio do Fato. (...) O que é esta teoria do domínio do fato? Ela amplia um pouco o conceito de autoria; ela complementa a teoria restritiva, ampliando um pouco o conceito de autor. Eu acho que todo mundo já está ligado no que é a teoria do domínio do fato: também é autor quem tem o controle da ação criminosa. Então, para essa teoria (do domínio do fato), aí o mandante seria considerado autor. É o cara que tem o poder de fazer e acontecer, de mandar abortar a operação: “aborte a operação!”“; “vá!”; “prossiga!”; “vamos!”. E isso o Fernandinho Beira Mar, lá, que está só no celular, só dando uns telefonemas, é estranho se ele for considerado apenas partícipe (...): ele é o mandante; ele é considerado autor. Então, pela teoria do domínio do fato, ele pode ser considerado autor; pela teoria restritiva, ele é considerado partícipe. Certo? Como eu disse, essa nomenclatura, na verdade, não tem grande importância, porque o juiz não fica vinculado a ela. O juiz só tem uma obrigação: dosar a pena na medida da culpabilidade. Então, se ele entender que aquela pessoa era importantíssima, um peça chave, era o cabeça da operação, nada impede de ele jogar a pena lá em cima, mesmo chamando de partícipe. Não tem uma vinculação direta. Mas eu acho que fica mais coerente chama-lo de autor – fica menos esquisito.”[1]
Bueno. Compreendem por que a minha preocupação e o que me levou a escrever este artigo? Se for assim como explicado pela professora, a tese do Domínio do Fato nem tem importância. Se seguirmos a dica da professora, o juiz levará em conta a tese do Domínio do Fato se quiser... (afinal, se ele pode chamar o autor de partícipe ou vice-versa...). E pior: por “pura discricionariedade” (que é a doença contemporânea do autoritarismo no Direito). Ora, desse modo, a tese do Domínio do Fato acaba sendo um álibi teórico. Parece evidente que a tese não pode ser algo tão singelo assim. Claro que, no julgamento do “inominável”, a tese não deverá ser entendida desse modo. E não será. A professora buscava apenas explicar para os concurseiros, de um modo bem simples, a aludida tese...
Insistindo: essa tese deve ser tratada dessa maneira? Não vou aprofundá-la, até porque não é essa a intenção deste reduzido artigo. Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens pode ajudar na elucidação e na tomada de um cuidado na sua aplicação. Portanto, a pretensão destas reflexões é auxiliar na compreensão da tese. Nada mais do que isso. Vamos lá: sua origem está em Welzel, mas foi Claus Roxin quem deu a ela uma efetiva direção/especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando as posições de cada um (Welzel e Roxin), devendo ser levado em conta, ainda, a distância temporal.
Então, avancemos. A Theorie der Tatsache und Theorie Domäne der objektiv-subjektiv tem como pressuposto determinar a possibilidade de se “pegar” “Der Mann hinter”, ou seja, o homem que está por trás do crime ou da organização criminosa. É o sujeito que não está presente diretamente na cena do crime, mas dele partiu a ordem para a consecução do delito. Sem ele, o crime não se configura(ria). Ele “domina a vontade da ação”. Algo como “os autores sempre têm o domínio do fato; já os partícipes não, porque sua ação é acessória”. Sendo mais claro: segundo Roxin, em uma organização delitiva, os homens de trás, que ordenam fatos puníveis com poder de mando autônomo, também podem ser responsabilizados como autores mediatos, se os executores diretos igualmente forem punidos como autores plenamente responsáveis. Destes, dos homens que estão por trás, diz-se que são Schreibtischtäter (os que ficam nas suas mesas escrevendo).
Pois bem. A tese é do longínquo ano de 1963, quando Claus Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate (que quer dizer Crimes como parte das estruturas de poder organizadas) na Revista Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, pp. 193 e segs. (há farto material sobre isso, v.g., Festschrift für Claus Roxin zu 70. Geburstag am 15 mai 2001, Verlag de Gruyter. Berlin, 2001 – Bernd Schünemann e Cristian Jager – editores). Veja-se, por exemplo, a aplicação da tese pelo Supremo Tribunal Federal (Bundesgerichthof) alemão em 1994, tratando de crimes relacionados à ex-República Democrática Alemã (foram condenados os autores mediatos — por exemplo, o ministro do Interior – e os soldados atiradores).[2] Trata-se de entender, nesse contexto, a importância da determinação da autoria dos mandantes (autoridades políticas) que, por exemplo, determinavam, embora não diretamente, que se atirassem nas pessoas que tentassem fugir da DDR, no famoso caso Der Mauerschützen-Prozesse – o processo dos atiradores do muro (sobre esse assunto, orientei uma dissertação de mestrado na Unisinos, de autoria de Roberta Magalhães Guber). O ex-ditador Alberto Fujimori também foi condenado com a utilização da tese do Domínio do Fato. Também o julgamento da Junta Militar Argentina albergou a tese.
A tese tem, digamos assim, no seu nascedouro, uma forte especificidade “política”, porque mais destinada – o que não quer dizer exclusivamente – a acusar os mandantes de crimes políticos ou de violadores de direitos humanos. Explico melhor isso: Roxin mesmo diz que escreveu a tese em virtude do “caso Eichmann” (seria uma tese de exceção, portanto, datada?). Mas qual é o problema da tese? Em primeiro lugar, a julgar pelas decisões mais contemporâneas nos tribunais alemães, não se sabe bem se, com a tese, abandona-se a teoria subjetiva e se aceita de vez a teoria objetiva do Domínio do Fato (essa é uma preocupação de um penalista do quilate de Kai Ambos, para referir apenas esse). Só isso já dá para fazer uma bela discussão, mormente se trouxermos para dentro boas pitadas de filosofia. Em segundo lugar, parece haver uma excessiva abertura. Ela não revoga, e nem substitui, a questão fulcral da teoria do delito, que é a necessidade de se apurar efetivamente os pressupostos que a engendra(ra)m historicamente. Vejam: o que quero dizer é que a teoria (ou tese) não é aberta “em si”. Ela não foi engendrada para ser uma espécie de “cláusula aberta do Direito Penal”. Tampouco foi construída para ser um “mantra jurídico”. O problema, pois, é que a dogmática jurídica pode vir a transformá-la em uma “tese indeterminada”, algo como uma “teoria que sofre de anemia significativa”. Já bastam as cláusulas gerais do Código Civil e os conceitos alargados de dignidade da pessoa humana, em que “cabe qualquer coisa”. Sei que não é a mesma coisa. Mas, por acaso não foi por aqui que se escreveu que “a culpabilidade era pressuposto da pena”, cindindo (sic) o conceito de delito (crime seria apenas um fato típico e antijurídico)? Nessa mesma linha, não esqueçamos que as teses sobre imputação objetiva estão no nosso horizonte.
Por isso, a responsabilidade da comunidade jurídica com teorias, teses ou posturas. Nosso passado não recomenda muito. Por exemplo, a ponderação (Abwägung) foi idealizada por Philipp Heck, com a sua Interessenjurisprudenz. A partir dela, o juiz verificaria os interesses que estão por detrás da lei. Mais tarde, foi retrabalhada por Robert Alexy, como uma forma de resolver colisão de princípios. Casos simples se resolvem por subsunção e casos difíceis por ponderação, diz Alexy. A Abwägung é, assim, uma regra, construída de uma complexa maneira. No final, ela, a regra da ponderação, é aplicada por subsunção também. E deve ser aplicada a casos futuros similares, igualmente por subsunção. A colisão entre princípios/direitos fundamentais — e consequentemente a aplicação da fórmula da ponderação — só se dá em casos, por assim dizer, “inéditos” ou de atesta singularidade frente aos demais. Mas o que os juristas brasileiros (principalmente eles) fizeram? Transformaram a ponderação em um álibi para dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Pegam um princípio em cada mão e fazem um sopesamento. Bingo: aí está a solução... Ledo engano. O resultado disso? Todos sabemos. O establishment deu uma resposta dura a essa fragmentação: súmulas vinculantes e repercussão geral. Ou seja, a vulgarização do uso da “ponderação” custou caro.
Por que falo isso? E o que isso tem a ver com a tese do Domínio do Fato? Bom, depois da fala da professora que está no YouTube, fiquei assustado. Palavras e coisas não podem ficar assim tão cindidas... E depois que li algumas explicações em alguns livros de Direito Penal, igualmente coloquei as barbas de molho. Há que se ter cuidado. Espero, ainda, uma explicação (bem) mais convincente sobre a tese roxiniana e o contexto para ser aplicada no varejo (ou no atacado). Não a descarto. Nem poderia. Mas também não a aplicaria conforme parcela da dogmática jurídico-penal a tem apresentado por aí, ou seja, algo do tipo “tanto faz o nome que se dê à autoria ou ao autor...” Ela, a tese do Domínio do Fato, parece-me bem mais complexa, pois não? Aliás, para aplicar uma tese, há que, primeiro, entendê-la, certo? Com Heidegger, podemos dizer que “só compreendemos uma coisa quando sabemos o que fazer com ela”. Penso que os leitores compreendem a minha preocupação. Como na Macondo de Gabriel Garcia Marquez (Cem Anos de Solidão), por aqui (também) as coisas ainda são tão recentes que, para nos dirigirmos a elas, ainda temos que apontar com o dedo... Porque elas ainda não têm nome.
[1] A explicação – aqui criticada no plano especificamente acadêmico - consta de um vídeo na Internet, destinado a estudantes de curso de preparação para concurso. Permiti-me retirar o tom coloquial da fala da autora. Clique aqui para ver.
[2] A decisão foi confirmada pelo Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Alemão).
Nesse momento, no assim denominado “processo do mensalão” (embora os advogados do PT queiram impedir o uso dessa palavra, no estilo da “novilíngua” da obra 1984, de Orwell, em que o Ministério da Fome era chamado pelo establishment de “Ministério da Fartura”!!!), estamos diante de uma tese que corre o risco de não ser bem entendida. Para o “bem” e para o “mal”.
Como um mantra, repete-se a teoria do “domínio do fato”. Já não se fala de outra coisa. Aliás, o mensalão –perdão, devo ser multado por nominar o “inominável” – é a causa mais badalada dos últimos anos. O jornal Folha de S.Paulo diz que um dos advogados de um dos réus respondeu ao procurador-geral da República cantando músicas de Chico Buarque em bar de sua (dele, não do Chico) propriedade. É o que se chama “extensão do espaço de defesa”. Deve ser algo ligado “ao domínio da tese ou domínio das teses”... Nesse caso, o advogado, ao cantar (afinada ou desafinadamente) junto ao pianista, é autor imediato ou mediato do sacrifício musical? Quem saberá? Há também o lado “esportivo” do julgamento: um advogado de outro réu, ao ouvir a acusação, disse que "o atacante é ruim de bola!". Já sobre sua estratégia, referiu: "se tiver que dar canelada, vamos dar! Futebol é assim". Perfeito (no futebol). Já no campo jurídico...
Voltando. Não se fala de outra coisa na República. O que me preocupa nisso tudo é a possibilidade de vulgarização de algumas teses. Mais: talvez o mais importante nesse julgamento não seja “o caso” do “inominável”, mas o modo como serão julgadas, no futuro, causas semelhantes no restante do Brasil. Sim, porque o Brasil, ao que consta, não acaba com o mensalão (embora a recíproca – tendo ele, de fato, ocorrido – pudesse ser verdadeira... Um sarcasmo é necessário às vezes, pois não?!). Não acredito em teses do tipo “Brasil AM-DM” – antes do mensalão e depois do mensalão. Do mesmo modo, não estamos “jogando uma Copa do Mundo” jurídico-processual, algo como “ou medalha de ouro ou nada”. Um exemplo interessante desse “espírito” é a declaração da ilustre procuradora da República Janice Ascari, ao dizer que “não há hierarquia entre prova testemunhal, pericial e documental”, ao comentar o processo do “inominável”. Mais ainda, em outra entrevista – esta de 2005, aqui na ConJur –, disse que, em face do interesse público, é menos danoso um inocente preso sem culpa do que um culpado solto (sic).
Tenho receio desse tipo de dicotomização. Embora eu seja, como diria Norberto Bobbio, um (baita) “pessimista metodológico”, penso que temos gordura jurídico-democrática para queimar em terrae brasilis. Não acredito em “enunciados performativos” e tampouco em “significantes primordiais-fundantes” (que contenham, antecipadamente, todas as respostas, que é, ao que parece, ser a pretensão dos comentários). Claro que indícios valem. E é possível dizer que provas testemunhas podem condenar (pensemos na famosa frase: “A palavra da vítima nos crimes de estupro é de fulcral importância). Também parece evidente que não é hora, agora, de desqualificar provas que não tenham o manto da técnica (lembro-me da “era da técnica”, tão bem critica em Der Mann ohne Eigenschaften – O Homem sem Atributos, de Robert Musil). Indícios também podem ser importantes, quando ligados por teias que capilarizam a prova. Mas isso não quer dizer que devemos jogar fora a bacia, com a água e a criança dentro (falo da teoria da prova – repito: não há AM-DM). Há, sim, hierarquia entre provas, cada uma analisada no seu contexto e na relação com as demais. Citemos, como exemplos, fotografias, cartas, exame de DNA, extratos bancários, filmagens... Evidentemente que haverá casos em que a prova testemunhal será relevante. Mas, ela mesma, diante de uma filmagem idônea, cai por terra. E assim por diante. E nem precisamos – e nem quero – pegar o “inominável mensalão” (ups, fui multado de novo) como “pomo de ouro” para discutir essa problemática. Isso pode ser feito em qualquer processo. Uma coisa me intriga (ainda) em tudo isso: por que seria menos danoso um inocente ser preso do que soltar um culpado? O que a democracia ou a civilização ganharia com isso? Millôr tinha uma frase genial: não dá para estuprar em nome da continuidade da raça. Esse Millôr...
Mas fixemo-nos no exemplo da tese do Domínio do Fato. Trata-se de uma tese complexa. O seu risco é que ela seja transformada em uma nova “ponderação” ou em uma espécie de “argumento de proporcionalidade ou de razoabilidade”, como se fosse uma cláusula aberta, volátil, dúctil. Quantas vezes já a aplicamos em terrae brasilis? No plano da cotidianidade das práticas jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. Parece que nossos juristas estão mais preocupados em discutir o “feijão com arroz do Direito Penal”. Não há muitas decisões nos tribunais adotando a tese (se é bom ou ruim, não importa, agora, falar disso). E as que adotam, não aprofundam. Nos cursos de preparação para concurso – de onde sairão os futuros juízes e promotores, por exemplo, explica-se a tese do seguinte modo, verbis:
“Domínio do Fato. (...) O que é esta teoria do domínio do fato? Ela amplia um pouco o conceito de autoria; ela complementa a teoria restritiva, ampliando um pouco o conceito de autor. Eu acho que todo mundo já está ligado no que é a teoria do domínio do fato: também é autor quem tem o controle da ação criminosa. Então, para essa teoria (do domínio do fato), aí o mandante seria considerado autor. É o cara que tem o poder de fazer e acontecer, de mandar abortar a operação: “aborte a operação!”“; “vá!”; “prossiga!”; “vamos!”. E isso o Fernandinho Beira Mar, lá, que está só no celular, só dando uns telefonemas, é estranho se ele for considerado apenas partícipe (...): ele é o mandante; ele é considerado autor. Então, pela teoria do domínio do fato, ele pode ser considerado autor; pela teoria restritiva, ele é considerado partícipe. Certo? Como eu disse, essa nomenclatura, na verdade, não tem grande importância, porque o juiz não fica vinculado a ela. O juiz só tem uma obrigação: dosar a pena na medida da culpabilidade. Então, se ele entender que aquela pessoa era importantíssima, um peça chave, era o cabeça da operação, nada impede de ele jogar a pena lá em cima, mesmo chamando de partícipe. Não tem uma vinculação direta. Mas eu acho que fica mais coerente chama-lo de autor – fica menos esquisito.”[1]
Bueno. Compreendem por que a minha preocupação e o que me levou a escrever este artigo? Se for assim como explicado pela professora, a tese do Domínio do Fato nem tem importância. Se seguirmos a dica da professora, o juiz levará em conta a tese do Domínio do Fato se quiser... (afinal, se ele pode chamar o autor de partícipe ou vice-versa...). E pior: por “pura discricionariedade” (que é a doença contemporânea do autoritarismo no Direito). Ora, desse modo, a tese do Domínio do Fato acaba sendo um álibi teórico. Parece evidente que a tese não pode ser algo tão singelo assim. Claro que, no julgamento do “inominável”, a tese não deverá ser entendida desse modo. E não será. A professora buscava apenas explicar para os concurseiros, de um modo bem simples, a aludida tese...
Insistindo: essa tese deve ser tratada dessa maneira? Não vou aprofundá-la, até porque não é essa a intenção deste reduzido artigo. Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens pode ajudar na elucidação e na tomada de um cuidado na sua aplicação. Portanto, a pretensão destas reflexões é auxiliar na compreensão da tese. Nada mais do que isso. Vamos lá: sua origem está em Welzel, mas foi Claus Roxin quem deu a ela uma efetiva direção/especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando as posições de cada um (Welzel e Roxin), devendo ser levado em conta, ainda, a distância temporal.
Então, avancemos. A Theorie der Tatsache und Theorie Domäne der objektiv-subjektiv tem como pressuposto determinar a possibilidade de se “pegar” “Der Mann hinter”, ou seja, o homem que está por trás do crime ou da organização criminosa. É o sujeito que não está presente diretamente na cena do crime, mas dele partiu a ordem para a consecução do delito. Sem ele, o crime não se configura(ria). Ele “domina a vontade da ação”. Algo como “os autores sempre têm o domínio do fato; já os partícipes não, porque sua ação é acessória”. Sendo mais claro: segundo Roxin, em uma organização delitiva, os homens de trás, que ordenam fatos puníveis com poder de mando autônomo, também podem ser responsabilizados como autores mediatos, se os executores diretos igualmente forem punidos como autores plenamente responsáveis. Destes, dos homens que estão por trás, diz-se que são Schreibtischtäter (os que ficam nas suas mesas escrevendo).
Pois bem. A tese é do longínquo ano de 1963, quando Claus Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate (que quer dizer Crimes como parte das estruturas de poder organizadas) na Revista Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, pp. 193 e segs. (há farto material sobre isso, v.g., Festschrift für Claus Roxin zu 70. Geburstag am 15 mai 2001, Verlag de Gruyter. Berlin, 2001 – Bernd Schünemann e Cristian Jager – editores). Veja-se, por exemplo, a aplicação da tese pelo Supremo Tribunal Federal (Bundesgerichthof) alemão em 1994, tratando de crimes relacionados à ex-República Democrática Alemã (foram condenados os autores mediatos — por exemplo, o ministro do Interior – e os soldados atiradores).[2] Trata-se de entender, nesse contexto, a importância da determinação da autoria dos mandantes (autoridades políticas) que, por exemplo, determinavam, embora não diretamente, que se atirassem nas pessoas que tentassem fugir da DDR, no famoso caso Der Mauerschützen-Prozesse – o processo dos atiradores do muro (sobre esse assunto, orientei uma dissertação de mestrado na Unisinos, de autoria de Roberta Magalhães Guber). O ex-ditador Alberto Fujimori também foi condenado com a utilização da tese do Domínio do Fato. Também o julgamento da Junta Militar Argentina albergou a tese.
A tese tem, digamos assim, no seu nascedouro, uma forte especificidade “política”, porque mais destinada – o que não quer dizer exclusivamente – a acusar os mandantes de crimes políticos ou de violadores de direitos humanos. Explico melhor isso: Roxin mesmo diz que escreveu a tese em virtude do “caso Eichmann” (seria uma tese de exceção, portanto, datada?). Mas qual é o problema da tese? Em primeiro lugar, a julgar pelas decisões mais contemporâneas nos tribunais alemães, não se sabe bem se, com a tese, abandona-se a teoria subjetiva e se aceita de vez a teoria objetiva do Domínio do Fato (essa é uma preocupação de um penalista do quilate de Kai Ambos, para referir apenas esse). Só isso já dá para fazer uma bela discussão, mormente se trouxermos para dentro boas pitadas de filosofia. Em segundo lugar, parece haver uma excessiva abertura. Ela não revoga, e nem substitui, a questão fulcral da teoria do delito, que é a necessidade de se apurar efetivamente os pressupostos que a engendra(ra)m historicamente. Vejam: o que quero dizer é que a teoria (ou tese) não é aberta “em si”. Ela não foi engendrada para ser uma espécie de “cláusula aberta do Direito Penal”. Tampouco foi construída para ser um “mantra jurídico”. O problema, pois, é que a dogmática jurídica pode vir a transformá-la em uma “tese indeterminada”, algo como uma “teoria que sofre de anemia significativa”. Já bastam as cláusulas gerais do Código Civil e os conceitos alargados de dignidade da pessoa humana, em que “cabe qualquer coisa”. Sei que não é a mesma coisa. Mas, por acaso não foi por aqui que se escreveu que “a culpabilidade era pressuposto da pena”, cindindo (sic) o conceito de delito (crime seria apenas um fato típico e antijurídico)? Nessa mesma linha, não esqueçamos que as teses sobre imputação objetiva estão no nosso horizonte.
Por isso, a responsabilidade da comunidade jurídica com teorias, teses ou posturas. Nosso passado não recomenda muito. Por exemplo, a ponderação (Abwägung) foi idealizada por Philipp Heck, com a sua Interessenjurisprudenz. A partir dela, o juiz verificaria os interesses que estão por detrás da lei. Mais tarde, foi retrabalhada por Robert Alexy, como uma forma de resolver colisão de princípios. Casos simples se resolvem por subsunção e casos difíceis por ponderação, diz Alexy. A Abwägung é, assim, uma regra, construída de uma complexa maneira. No final, ela, a regra da ponderação, é aplicada por subsunção também. E deve ser aplicada a casos futuros similares, igualmente por subsunção. A colisão entre princípios/direitos fundamentais — e consequentemente a aplicação da fórmula da ponderação — só se dá em casos, por assim dizer, “inéditos” ou de atesta singularidade frente aos demais. Mas o que os juristas brasileiros (principalmente eles) fizeram? Transformaram a ponderação em um álibi para dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Pegam um princípio em cada mão e fazem um sopesamento. Bingo: aí está a solução... Ledo engano. O resultado disso? Todos sabemos. O establishment deu uma resposta dura a essa fragmentação: súmulas vinculantes e repercussão geral. Ou seja, a vulgarização do uso da “ponderação” custou caro.
Por que falo isso? E o que isso tem a ver com a tese do Domínio do Fato? Bom, depois da fala da professora que está no YouTube, fiquei assustado. Palavras e coisas não podem ficar assim tão cindidas... E depois que li algumas explicações em alguns livros de Direito Penal, igualmente coloquei as barbas de molho. Há que se ter cuidado. Espero, ainda, uma explicação (bem) mais convincente sobre a tese roxiniana e o contexto para ser aplicada no varejo (ou no atacado). Não a descarto. Nem poderia. Mas também não a aplicaria conforme parcela da dogmática jurídico-penal a tem apresentado por aí, ou seja, algo do tipo “tanto faz o nome que se dê à autoria ou ao autor...” Ela, a tese do Domínio do Fato, parece-me bem mais complexa, pois não? Aliás, para aplicar uma tese, há que, primeiro, entendê-la, certo? Com Heidegger, podemos dizer que “só compreendemos uma coisa quando sabemos o que fazer com ela”. Penso que os leitores compreendem a minha preocupação. Como na Macondo de Gabriel Garcia Marquez (Cem Anos de Solidão), por aqui (também) as coisas ainda são tão recentes que, para nos dirigirmos a elas, ainda temos que apontar com o dedo... Porque elas ainda não têm nome.
[1] A explicação – aqui criticada no plano especificamente acadêmico - consta de um vídeo na Internet, destinado a estudantes de curso de preparação para concurso. Permiti-me retirar o tom coloquial da fala da autora. Clique aqui para ver.
[2] A decisão foi confirmada pelo Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Alemão).
Lenio Luiz Streck é procurador de Justiça no Rio Grande do Sul, doutor e pós-Doutor em Direito. Assine o Facebook.
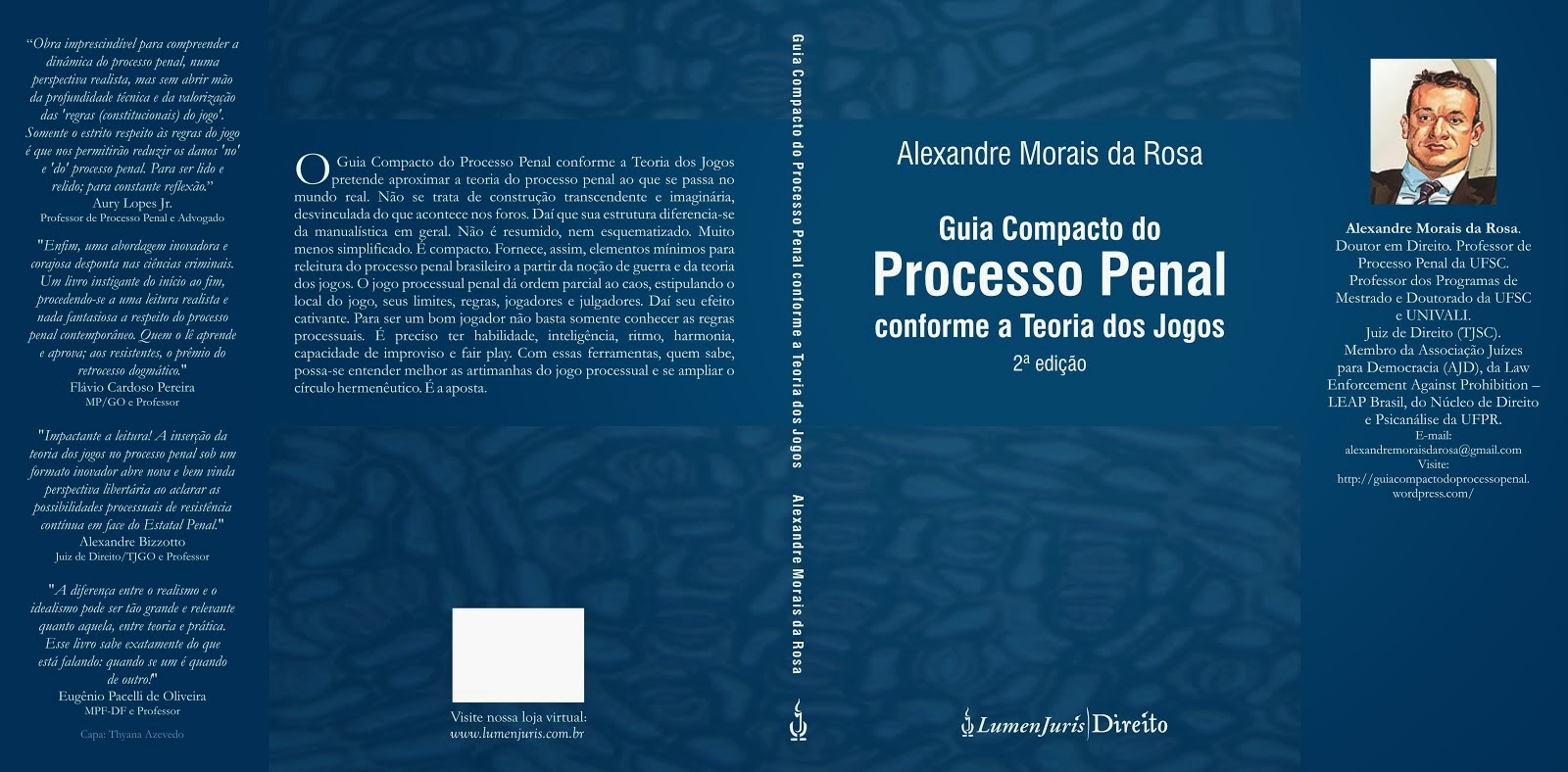

Nenhum comentário:
Postar um comentário