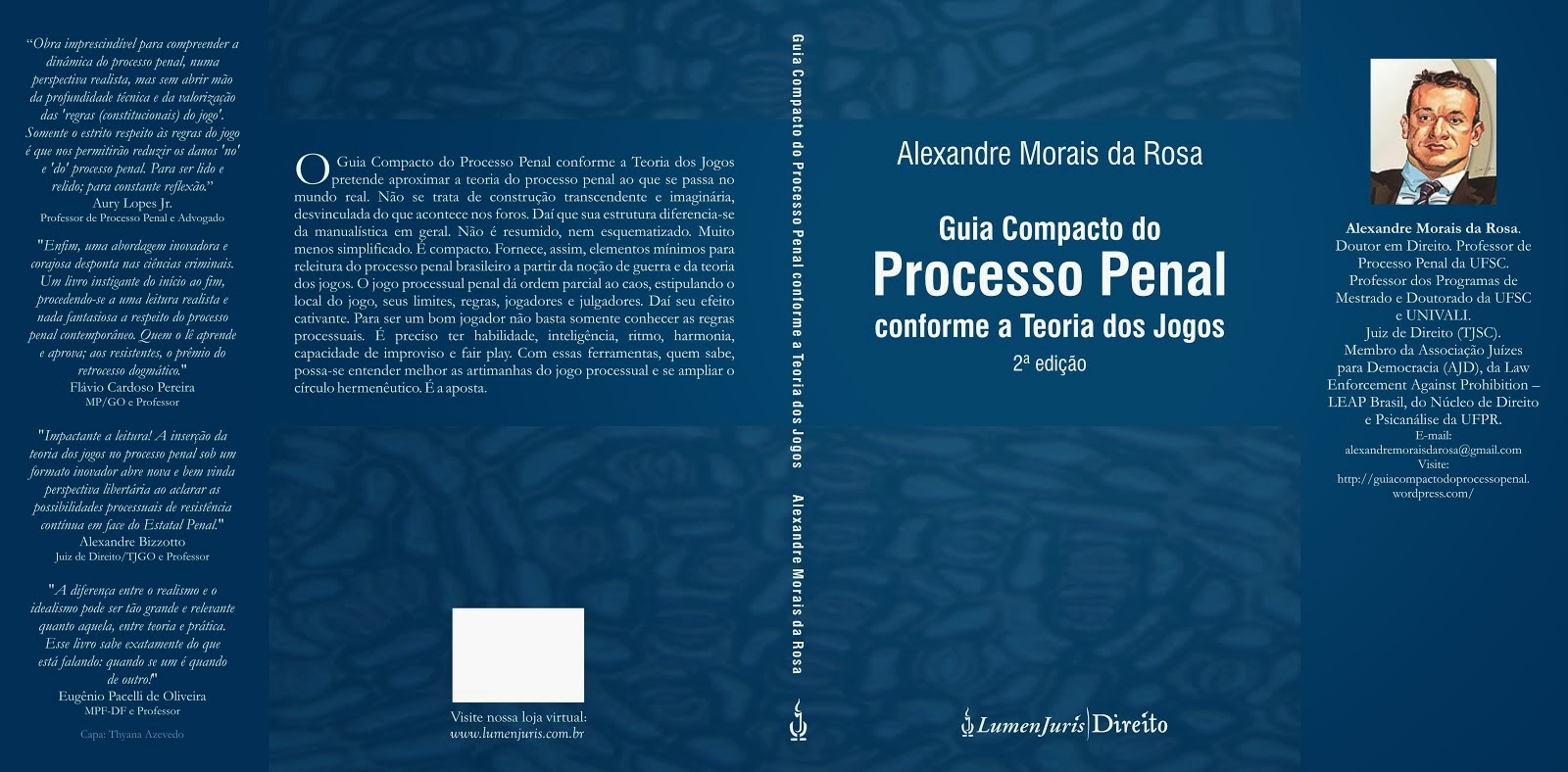Lançamento do livro do Juliano Keller do Valle
Tentativa de pensar o Direito em Paralaxe (Zizek) alexandremoraisdarosa@gmail.com Aviso: quem não tiver coragem de assinar os comentários aos posts, nem precisa mandar, pois não publico nada anônimo. Recomendo ligar para o Disk Denúncia...
Kindle - Meu livro novo
O meu livro Jurisdição do Real x Controle Penal: Direito & Psicanálise, via Literatura foi publicado pela http://www.kindlebook.com.br/ na Amazon.Não precisa ter o Kindle. Pode-se baixar o programa e ler o livro. CLIQUE AQUIAGORA O LIVRO PODE SER COMPRADO NA LIVRARIA CULTURA - CLIQUE AQUITambém pode ser comprado na LIVRARIA SARAIVA - CLIQUE AQUILIVROS LUMEN JURIS - CLIQUE AQUI
29/11/2011
27/11/2011
Evento Direito e Literatura UFSC - 28.11
Artigo Cyro Marcos da Silva - Direito e Psicanálise
PASSO A DECIDIR
Este texto remonta seu nascedouro a um trabalho já com um certo percurso numa instituição analítica, o Núcleo de Leitura em Psicanálise e ainda numa instituição legitimada pelo discurso universitário, o Núcleo de Pesquisa em Direito e Psicanálise de Curitiba. Engaja-se, assim, tanto num lugar como no outro, no meu comprometimento como aquele que exerceu função de advogado, promotor de justiça e juiz e que agora é um praticante da psicanálise. Situa-se portanto, neste desejo em explorar esta articulação entre direito e psicanálise, em trabalhar nestas brechas.
Consideradas assim as vinculações deste trabalho, vamos então começar a fazer algumas aberturas por aí. Desde Roma, fonte jurídica sempre presente, direito- jus - é abordado e orientado com três princípios: não lesar o outro, viver honestamente e dar a cada um o que é seu. Todos estes princípios se articulam, pois não sendo o outro lesado, vive-se assim honestamente, tentando dar a cada um o que é seu.
Porém... atribuir a cada um o que é seu...o que vem a ser este “seu” de cada um? Quando Lacan falou algo do direito, assim se expressou: “o direito reparte, organiza, distribui o gozo.”Orientados por esta indicação, poderemos ter uma idéia do que seria este “seu de cada um”. Parece ser a quota e campo de usufruição possível, a quota de gozo civilizado que o direito permite a cada um, mesmo que saibamos que algo sempre escapa ao cerco desta quota.
Se então, o direito reparte, organiza e distribui gozo, como faz para positivar regras neste sentido? Como direciona o exercício desta função?
Aí Kant fez uma entrada. Para que toda esta regulação aconteça, Kant pretende colocar em exercício, uma regra da forma mais pura possível. Uma razão pura. Pureza que não ficaria só no campo da razão, iria além, iria para a prática. Portanto com elevado e pretendido total grau de pureza, para uma boa obediência à regra, ficaria rechaçado e jamais seria aceito qualquer coisa que afete o agente da lei, conforme pretende Kant. Salvo a dor decorrente da própria obediência. E se uma determinada norma é valida para um, ela deve se alçar como válida para todos, como norma geral.
O que Lacan nos mostra e nos surpreende nesta colocação kantiana é que ela não é nada diferente daquilo que está na exortação de qualquer daqueles heróis sadeanos, que Sade coloca como protagonistas da Filosofia da Alcova. Estes heróis, apregoando também o uso e abuso, da forma mais pura possível, isenta da possibilidade de serem afetados por qualquer pathos, tentam exaustivamente não se deixarem afetar por aquelas incursões em múltiplas formas de gozar. Repudiam, assim como Kant o fez na sua filosofia, esta não da alcova, qualquer fator que, afetando o agente, impeça sua finalidade de um pretendido puro gozo de uma faculdade. Com isto chegam a comprometer até mesmo a existência ou a preservação da coisa em gozo.
E cabe aqui a pergunta: é possível exercer algum trabalho sem por ele ser fortemente afetado?
Mas o que isto tem a ver com o direito que hoje se pratica, com o juiz que hoje pratica o direito? Nos dias de hoje, o Direito parece um pouco esquecido daquilo que nunca tolerou, ou seja, que a regulação que legitimamente faz do uso e gozo de uma coisa, esteja sempre condicionada a que fique preservada a rerum substantia. A partir deste princípio, não pode, portanto, nem extinguir, nem transformar, nem modificar substancialmente a coisa, ainda que fosse para aumentar seu valor. Qualquer desvio neste alvo, mesmo positivado em norma, já estaria a degradar o princípio jurídico.
Isto já nos provoca uma questão e que, nesta visada, coloca-se como questão ética, não como questão moral, mesmo porque não é uma questão muito bem comportada.
Quando um Tribunal, hoje, regulando qualquer aspecto de algumas relações jurídicas, supervaloriza o que se usufrui nestas relações, não estaria degradando o princípio, na medida em que, então, superestima a coisa em gozo, incitando assim uma escalada de voracidade de gozo?
Mais claro: quando se pede, por exemplo, a um Tribunal de instância suprema, que regule, como tem acontecido, uma questão sucessória entre homossexuais, e este Tribunal, dando um ou mais de um imprudente passo a mais, indo mais além, acene para a possibilidade de que ali se pode ter mais do que se pede, não está supervalorizando a coisa?
O grande cineasta italiano Pasolini coloca uma lupa nisto. Quando ele tratou da encenação da Filosofia na Alcova, levada a cabo pelo filme Salò, ou 120 dias de Sodoma, ele evidenciou que o direito enquanto norma positivada, quando passa a empostar a voz com razões puras ou práticas, como a história nos mostra já ter ocorrido, pode se prestar até mesmo ao que há de mais degradante. Como vimos, pode chegar até a servir, muito mais do que se pede. Pode mandar vir de bandeja, aquilo que o detentor do poder determinará seja servido. No filme referido, o poder, levado à máxima potência, impõe, literalmente, seja servido merda.
Isto custou à Pasolini a própria vida, pois até hoje perduram mistérios sob a forma em que foi assassinado logo após a exibição deste filme.
Nisto que aponto de uma degradação, fica mais visível uma suspeita intimidade entre a norma e uma impostura. E o que é mais notável: neste filme tudo se faz com pompas e circunstâncias que não faltam. A língua italiana ali é a clássica e o dialeto toscano consagrado por Dante Alighieri, é falado e silabado com esmero. A música também é erudita, executada o tempo todo por uma pianista. Finalmente, lá pelas tantas, esta não mais suportando o tranco, se joga pela janela.
É lamentável ter que reconhecer que nos dias atuais, alguns pontos de degradação do direito se revestem dos mesmos vernizes. Alguns de nossos juízes, desavisados, acreditam-se libertos. Libertos, como aponta a linguagem do Direito Romano, são os ingênuos. Não deixam de ser ingênuos mesmo, pois ninguém jamais estará liberto da castração que nos concerne, ou seja jamais teremos o domínio do sexo ou da morte, por mais que se venha tentando, tanto em um campo quanto no outro. E mais: nunca estaremos libertos de nos defrontarmos com a partilha e com a diferença dos sexos. A gravidade mais se demonstra, quando algo desta ignorância – falo da ignorância da castração, - se legitima de forma espúria em decisões judiciais para fazer boa imagem de politicamente correto, boa imagem satisfatória de apetites da mídia. Aí, cabe perguntar: por que, apenas em nome disto estão abdicando da função do direito, de regular o gozo, para fazerem exatamente o oposto, ou seja, aumentar o apetite?
E o fazem, imperceptivelmente, seja por frases de efeito, seja por preciosismos ou por gestos que vão desviando o direito da sua importante função: fazer valer, pela isonomia, o que é paradoxal, a diferença.
Estas imperceptíveis contribuições que degradam o direito, têm sido as recentes pegadas que temos deparado, deixadas por passos a decidir. Estes desvios afetam perigosamente a função do direito de colocar ponto de basta, uma vez que desnorteiam a aferição do que seria o seu de cada um
Mas como encontrar esta medida? Esta questão é muito difícil, já que a posição do operador do direito vai ter uma importância muito mais decisiva do que o próprio ordenamento jurídico, do que o próprio direito.
Todos os juízes sabem que, na sua função, numa determinada fase, chega o momento de concluir. É quando não dá mais para protelar, para esperar o Messias, não dá mais para esperar a prova das provas, para ficar aguardando a verdade, tão somente a verdade, nada mais que a verdade, mesmo porque, a verdade quando surge é sempre não toda, sempre nas entrelinhas, no piscar de olhos das formações do Inconsciente. Não há como jurar produzí-la, pois diga-se o que se disser, com as maiores inclinações de decantadas honestidades, com os ideais das melhores intenções, nunca ela será totalmente dita, pois isto é de estrutura. E mais: estará sempre permeada pela fantasia de quem a proferir. A função de juiz impõe que num determinado momento, algo se conclua, algo caia, algo faça um passo, que não deixa de ser um salto, mas que também é uma passagem. O passo a decidir.
O passo a decidir, passará por um caminho fazendo valer aquilo do qual o direito não pode abrir mão: a chancela da validade da palavra que, pela sentença, é tornada ato decisório.
Isto está para além das normas positivadas, isto está para além da estética formal do direito, para além das suas finalidades, embora entrelaçado com isto tudo. Isto diz respeito às entranhas do direito, à própria ética do direito e acha-se intimamente vinculada á posição ética do juiz, à posição que este juiz tem, diante do real que lhe pede regulação.
Neste momento em que se está para dar o salto, o passo a decidir, todo juiz se depara com algo que interroga o que vai decidir o seu passo. Ao proferir uma sentença, um longo exercício é feito, exercício de posteriori, pois o juiz quando vai escrever sua sentença, já está sentenciado por ela. No seu relatório, vai narrar como se deu a sua escuta, como o seu envolvimento se teceu, como se enredou ou não na trama em que sua função lhe impõe intervir: se comeu corda na novela ou se ficou hipnotizado pela canto da sereia. O seu relatório, na aparência, fica revestido das fundamentações racionais. Mas algo já se decidiu por outras razões, ligadas à toda uma história ou uma trama significante que rege este juiz. E lá no texto da sua sentença, quando ele anuncia “ passo a decidir “, mais uma vez desfilarão todas aquelas orientações oferecidas pelas normas positivadas que dão plantão para o caso, embora já até saiba que decidiu o passo. O que se decide, decidido já estava.
Para decidir é preciso que, no caminho, algo caia, algo se perca, como por exemplo até mesmo a alternativa de seguir outro caminho. Sem esta assunção de perda, juiz algum decide coisa alguma. É nesta solidão de uma perda que algo se que algo opera, que o juiz se submete ao que se lhe impõe, que ele assina sua forçada escolha. Este passo a decidir, é a escolha de tomar um recorte, de tomar um fragmento do tamanho de um passo com dois ss, dentro de um campo largo, tamanho de um paço com ç. O juiz deverá seguir o passo e deixar para trás o paço, caso contrário, como um Orfeu desavisado, jamais conduzirá do inferno da lide, a Eurídice da sua solitária decisão.
Assumida a decisão, ele a fará valer, certa ou errada, recorrida ou não recorrida, justa ou injusta, acertada ou equivocada, boa ou ruim. O que decidido está precisa operar de forma precisa, tal como a sentença do primeiro juiz que os escritos nomeiam. Salomão decidiu de uma forma despida dos mencionados atributos ideais nos quais o imaginário de uma performance de um juiz ideal se perde. Se Antígona é o horizonte do desejo puro, onde se vislumbra a morte, Salomão é o norte da decisão pura, que também tem a radicalidade da morte.
Mas, como somos húmus, humanos, ou mais rigorosamente falando falasseres, seria inútil nos exigirmos seja o desejo de Antígona, seja uma cortante decisão de Salomão, embora seria importante não esquecê-los como referências para a solidão do nosso cotidiano e conturbado desejo e de nossas difíceis e cortantes decisões.
Afinal, seria pensável uma decisão operante, que nos desemperre da covardia nossa de cada dia, fora de um engajamento desejante?
Natal, 10 de novembro de 2011
Cyro Marcos da Silva
cyromarcos@terra
Este texto remonta seu nascedouro a um trabalho já com um certo percurso numa instituição analítica, o Núcleo de Leitura em Psicanálise e ainda numa instituição legitimada pelo discurso universitário, o Núcleo de Pesquisa em Direito e Psicanálise de Curitiba. Engaja-se, assim, tanto num lugar como no outro, no meu comprometimento como aquele que exerceu função de advogado, promotor de justiça e juiz e que agora é um praticante da psicanálise. Situa-se portanto, neste desejo em explorar esta articulação entre direito e psicanálise, em trabalhar nestas brechas.
Consideradas assim as vinculações deste trabalho, vamos então começar a fazer algumas aberturas por aí. Desde Roma, fonte jurídica sempre presente, direito- jus - é abordado e orientado com três princípios: não lesar o outro, viver honestamente e dar a cada um o que é seu. Todos estes princípios se articulam, pois não sendo o outro lesado, vive-se assim honestamente, tentando dar a cada um o que é seu.
Porém... atribuir a cada um o que é seu...o que vem a ser este “seu” de cada um? Quando Lacan falou algo do direito, assim se expressou: “o direito reparte, organiza, distribui o gozo.”Orientados por esta indicação, poderemos ter uma idéia do que seria este “seu de cada um”. Parece ser a quota e campo de usufruição possível, a quota de gozo civilizado que o direito permite a cada um, mesmo que saibamos que algo sempre escapa ao cerco desta quota.
Se então, o direito reparte, organiza e distribui gozo, como faz para positivar regras neste sentido? Como direciona o exercício desta função?
Aí Kant fez uma entrada. Para que toda esta regulação aconteça, Kant pretende colocar em exercício, uma regra da forma mais pura possível. Uma razão pura. Pureza que não ficaria só no campo da razão, iria além, iria para a prática. Portanto com elevado e pretendido total grau de pureza, para uma boa obediência à regra, ficaria rechaçado e jamais seria aceito qualquer coisa que afete o agente da lei, conforme pretende Kant. Salvo a dor decorrente da própria obediência. E se uma determinada norma é valida para um, ela deve se alçar como válida para todos, como norma geral.
O que Lacan nos mostra e nos surpreende nesta colocação kantiana é que ela não é nada diferente daquilo que está na exortação de qualquer daqueles heróis sadeanos, que Sade coloca como protagonistas da Filosofia da Alcova. Estes heróis, apregoando também o uso e abuso, da forma mais pura possível, isenta da possibilidade de serem afetados por qualquer pathos, tentam exaustivamente não se deixarem afetar por aquelas incursões em múltiplas formas de gozar. Repudiam, assim como Kant o fez na sua filosofia, esta não da alcova, qualquer fator que, afetando o agente, impeça sua finalidade de um pretendido puro gozo de uma faculdade. Com isto chegam a comprometer até mesmo a existência ou a preservação da coisa em gozo.
E cabe aqui a pergunta: é possível exercer algum trabalho sem por ele ser fortemente afetado?
Mas o que isto tem a ver com o direito que hoje se pratica, com o juiz que hoje pratica o direito? Nos dias de hoje, o Direito parece um pouco esquecido daquilo que nunca tolerou, ou seja, que a regulação que legitimamente faz do uso e gozo de uma coisa, esteja sempre condicionada a que fique preservada a rerum substantia. A partir deste princípio, não pode, portanto, nem extinguir, nem transformar, nem modificar substancialmente a coisa, ainda que fosse para aumentar seu valor. Qualquer desvio neste alvo, mesmo positivado em norma, já estaria a degradar o princípio jurídico.
Isto já nos provoca uma questão e que, nesta visada, coloca-se como questão ética, não como questão moral, mesmo porque não é uma questão muito bem comportada.
Quando um Tribunal, hoje, regulando qualquer aspecto de algumas relações jurídicas, supervaloriza o que se usufrui nestas relações, não estaria degradando o princípio, na medida em que, então, superestima a coisa em gozo, incitando assim uma escalada de voracidade de gozo?
Mais claro: quando se pede, por exemplo, a um Tribunal de instância suprema, que regule, como tem acontecido, uma questão sucessória entre homossexuais, e este Tribunal, dando um ou mais de um imprudente passo a mais, indo mais além, acene para a possibilidade de que ali se pode ter mais do que se pede, não está supervalorizando a coisa?
O grande cineasta italiano Pasolini coloca uma lupa nisto. Quando ele tratou da encenação da Filosofia na Alcova, levada a cabo pelo filme Salò, ou 120 dias de Sodoma, ele evidenciou que o direito enquanto norma positivada, quando passa a empostar a voz com razões puras ou práticas, como a história nos mostra já ter ocorrido, pode se prestar até mesmo ao que há de mais degradante. Como vimos, pode chegar até a servir, muito mais do que se pede. Pode mandar vir de bandeja, aquilo que o detentor do poder determinará seja servido. No filme referido, o poder, levado à máxima potência, impõe, literalmente, seja servido merda.
Isto custou à Pasolini a própria vida, pois até hoje perduram mistérios sob a forma em que foi assassinado logo após a exibição deste filme.
Nisto que aponto de uma degradação, fica mais visível uma suspeita intimidade entre a norma e uma impostura. E o que é mais notável: neste filme tudo se faz com pompas e circunstâncias que não faltam. A língua italiana ali é a clássica e o dialeto toscano consagrado por Dante Alighieri, é falado e silabado com esmero. A música também é erudita, executada o tempo todo por uma pianista. Finalmente, lá pelas tantas, esta não mais suportando o tranco, se joga pela janela.
É lamentável ter que reconhecer que nos dias atuais, alguns pontos de degradação do direito se revestem dos mesmos vernizes. Alguns de nossos juízes, desavisados, acreditam-se libertos. Libertos, como aponta a linguagem do Direito Romano, são os ingênuos. Não deixam de ser ingênuos mesmo, pois ninguém jamais estará liberto da castração que nos concerne, ou seja jamais teremos o domínio do sexo ou da morte, por mais que se venha tentando, tanto em um campo quanto no outro. E mais: nunca estaremos libertos de nos defrontarmos com a partilha e com a diferença dos sexos. A gravidade mais se demonstra, quando algo desta ignorância – falo da ignorância da castração, - se legitima de forma espúria em decisões judiciais para fazer boa imagem de politicamente correto, boa imagem satisfatória de apetites da mídia. Aí, cabe perguntar: por que, apenas em nome disto estão abdicando da função do direito, de regular o gozo, para fazerem exatamente o oposto, ou seja, aumentar o apetite?
E o fazem, imperceptivelmente, seja por frases de efeito, seja por preciosismos ou por gestos que vão desviando o direito da sua importante função: fazer valer, pela isonomia, o que é paradoxal, a diferença.
Estas imperceptíveis contribuições que degradam o direito, têm sido as recentes pegadas que temos deparado, deixadas por passos a decidir. Estes desvios afetam perigosamente a função do direito de colocar ponto de basta, uma vez que desnorteiam a aferição do que seria o seu de cada um
Mas como encontrar esta medida? Esta questão é muito difícil, já que a posição do operador do direito vai ter uma importância muito mais decisiva do que o próprio ordenamento jurídico, do que o próprio direito.
Todos os juízes sabem que, na sua função, numa determinada fase, chega o momento de concluir. É quando não dá mais para protelar, para esperar o Messias, não dá mais para esperar a prova das provas, para ficar aguardando a verdade, tão somente a verdade, nada mais que a verdade, mesmo porque, a verdade quando surge é sempre não toda, sempre nas entrelinhas, no piscar de olhos das formações do Inconsciente. Não há como jurar produzí-la, pois diga-se o que se disser, com as maiores inclinações de decantadas honestidades, com os ideais das melhores intenções, nunca ela será totalmente dita, pois isto é de estrutura. E mais: estará sempre permeada pela fantasia de quem a proferir. A função de juiz impõe que num determinado momento, algo se conclua, algo caia, algo faça um passo, que não deixa de ser um salto, mas que também é uma passagem. O passo a decidir.
O passo a decidir, passará por um caminho fazendo valer aquilo do qual o direito não pode abrir mão: a chancela da validade da palavra que, pela sentença, é tornada ato decisório.
Isto está para além das normas positivadas, isto está para além da estética formal do direito, para além das suas finalidades, embora entrelaçado com isto tudo. Isto diz respeito às entranhas do direito, à própria ética do direito e acha-se intimamente vinculada á posição ética do juiz, à posição que este juiz tem, diante do real que lhe pede regulação.
Neste momento em que se está para dar o salto, o passo a decidir, todo juiz se depara com algo que interroga o que vai decidir o seu passo. Ao proferir uma sentença, um longo exercício é feito, exercício de posteriori, pois o juiz quando vai escrever sua sentença, já está sentenciado por ela. No seu relatório, vai narrar como se deu a sua escuta, como o seu envolvimento se teceu, como se enredou ou não na trama em que sua função lhe impõe intervir: se comeu corda na novela ou se ficou hipnotizado pela canto da sereia. O seu relatório, na aparência, fica revestido das fundamentações racionais. Mas algo já se decidiu por outras razões, ligadas à toda uma história ou uma trama significante que rege este juiz. E lá no texto da sua sentença, quando ele anuncia “ passo a decidir “, mais uma vez desfilarão todas aquelas orientações oferecidas pelas normas positivadas que dão plantão para o caso, embora já até saiba que decidiu o passo. O que se decide, decidido já estava.
Para decidir é preciso que, no caminho, algo caia, algo se perca, como por exemplo até mesmo a alternativa de seguir outro caminho. Sem esta assunção de perda, juiz algum decide coisa alguma. É nesta solidão de uma perda que algo se que algo opera, que o juiz se submete ao que se lhe impõe, que ele assina sua forçada escolha. Este passo a decidir, é a escolha de tomar um recorte, de tomar um fragmento do tamanho de um passo com dois ss, dentro de um campo largo, tamanho de um paço com ç. O juiz deverá seguir o passo e deixar para trás o paço, caso contrário, como um Orfeu desavisado, jamais conduzirá do inferno da lide, a Eurídice da sua solitária decisão.
Assumida a decisão, ele a fará valer, certa ou errada, recorrida ou não recorrida, justa ou injusta, acertada ou equivocada, boa ou ruim. O que decidido está precisa operar de forma precisa, tal como a sentença do primeiro juiz que os escritos nomeiam. Salomão decidiu de uma forma despida dos mencionados atributos ideais nos quais o imaginário de uma performance de um juiz ideal se perde. Se Antígona é o horizonte do desejo puro, onde se vislumbra a morte, Salomão é o norte da decisão pura, que também tem a radicalidade da morte.
Mas, como somos húmus, humanos, ou mais rigorosamente falando falasseres, seria inútil nos exigirmos seja o desejo de Antígona, seja uma cortante decisão de Salomão, embora seria importante não esquecê-los como referências para a solidão do nosso cotidiano e conturbado desejo e de nossas difíceis e cortantes decisões.
Afinal, seria pensável uma decisão operante, que nos desemperre da covardia nossa de cada dia, fora de um engajamento desejante?
Natal, 10 de novembro de 2011
Cyro Marcos da Silva
cyromarcos@terra
Jogos - O Laércio Becker escreveu textos fantásticos sobre o tema
Direito e críquete
"A estrutura dos jogos e a do Direito são as mesmas"
Por Marília Scriboni
De uma conferência em Valparaíso, no Chile, nasceu o livro As Regras do Direito e as Regras dos Jogos (Editora Noeses), que trata o Direito como um fen�?meno de comunicação. Engana-se quem pensa que a teoria analítica de Gregorio Robles, catedrático de Filosofia do Direito na Universidade das Ilhas Baleares e também professor de Direito da União Europeia na Fundación Mapfre-Estudios, em Madrid, guarde relação com a teoria dos jogos aplicada na economia. "Meu livro não tem nada a ver com isso. Não é preciso saber matemática", frisa.
Aqui, vale um adendo. A teoria dos jogos é uma teoria matemática para fazer, por exemplo, cálculo de risco nas decisões. A princípio, ela foi formulada para explicar o comportamento econ�?mico. De acordo com Robles, "a Teoria Comunicacional tenta dar uma resposta global aos problemas teóricos que afetam os juristas. Não aos problemas que afetam os sociólogos ou antropólogos. É uma filosofia jurídica para juristas. Se ela é lida por alguém que não tenha formação jurídica, provavelmente a pessoa não vai entender muito", pondera.
A Teoria Comunicacional do Direito, que tem em Robles seu maior expoente, procura entender o Direito como um fen�?meno de comunicação — e não apenas como uma ordem coativa da conduta humana, um meio de controle social ou um ideal de justiça.
Lançado no último mês de outubro em língua portuguesa, As Regras do Direito é uma tradução fiel, como faz questão de salientar o estudioso, que arranha no português. "Não houve nenhuma alteração." Robles conta que um de seus primeiros interesses foi a Filosofia, área na qual doutorou-se. Ele também dedicou parte de sua vida acadêmica a outros temas. "Publiquei um livro de Sociologia Jurídica, um livro sobre Direitos Humanos e de Direito da União Europeia. Também tenho um livro de Direito de marcas e patentes."
Robles esteve pela terceira vez no país, em virtude do lançamento deste livro e de outro, o Teoria Comunicacional do Direito: Diálogo entre Brasil e Espanha, também editado pela Noeses e organizado por ele e pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Com agenda cheia, o jusfilósofo aproveitou para dar aulas na Universidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, além de palestrar no Congresso Brasileiro de Direito Tributário. Nesse meio tempo, conversou com a Consultor Jurídico sobre o alcance de sua teoria, sobre as cortes constitucionais e sobre o peso da sociedade nos atos da magistratura.
Leia a entrevista:
ConJur — O senhor pode falar um pouco sobre o livro As regras do Direito e as regras dos jogos? Por que resolveu abordar esse tema?
Gregorio Robles — O livro se originou de uma conferência que eu participei na Faculdade de Direito de Valparaíso em 1982, no Chile. O título da palestra é precisamente o título do livro, Las reglas del Derecho y las reglas de los juegos. Por que eu decidi abordar esse tema? Porque eu tinha lido em alguns clássicos — principalmente em Thomas Hobbes — a comparação entre as normas jurídicas e as regras do críquete, que é um jogo inglês. Isso me chamou a atenção. Também encontrei algumas referências nos filósofos analíticos ingleses. O que não havia era um tratamento extenso da comparação. Havia apenas referências passageiras e muito pontuais. É como se disséssemos: "Temos que respeitar as regras do Direito da mesma forma que respeitamo s as regras do críquete quando jogamos este jogo." Eram passagens breves. Então me ocorreu fazer uma reflexão sobre esta analogia entre Direito e jogo, e assim comecei a pensar sobre este assunto. Fiz simplesmente um resumo para a conferência e, depois, o professor que havia me convidado para ir a Valparaíso, Agustín Squella, me pediu que eu escrevesse um artigo para a revista chilena. Comecei a escrever e surgiu o livro.
ConJur — O livro aplica a conhecida teoria dos jogos ao Direito?
Gregorio Robles — Não. A teoria dos jogos é uma teoria matemática para fazer, por exemplo, cálculo de risco nas decisões. Isso se aplica muito na economia. É uma disciplina matemática para quando se tem que tomar uma decisão. Existem várias alternativas, como qual a probabilidade de que nossa decisão seja acertada de acordo com os nossos propósitos. Meu livro não tem nada a ver com isso. Não é preciso saber matemática. Ele compara o jogo a um ordenamento jurídico.
ConJur — Qual é o ponto de partida?
Gregorio Robles — Analisar quais são os elementos essenciais de todos os jogos. Todos os jogos são jogados em um espaço durante um tempo por alguns sujeitos que são chamados jogadores, que têm suas competências, usam procedimentos e precisam que cumprir determinados deveres. Basicamente, jogar limpo. No Direito é a mesma coisa. Há um espaço no qual há vigência de um ordenamento, um tempo em que há a vigência e todos os elementos internos do ordenamento também têm seu tempo. Há os sujeitos, que são as pessoas e os órgãos do Estado, há procedimentos, uma competição entre os sujeitos e deveres. Os elementos são os mesmos do ponto de vista estrutural.
ConJur — E como esses elementos são criados?
Gregorio Robles — Por meio das normas. Elas geram, criam e constituem esses elementos. Assim, o que o livro faz é analisar os elementos necessários em qualquer jogo e também no ordenamento jurídico e depois analisar os diversos tipos de normas utilizando dois critérios combinados: o critério da função dos diversos tipos de normas e o critério da analise linguística. Por isso, o livro é uma aplicação da Filosofia da Linguagem no Direito no aspecto puramente formal. Não entramos na discussão se o Direito é justo, se é injusto. Simplesmente analiso como ele é estruturalmente. Ou dizendo com outras palavras: Qual é a anatomia do Direito? Qual é a estrutura interna? Depois, eu publiquei, há pouco tempo, a ideia de justiça nos jogos, que seria um complemento disso.
ConJur — Qual a semelhança desse livro com o outro?
Gregorio Robles — Há outros elementos neste livro, como, por exemplo, tipos de jogos: jogos que dependem de sorte, jogos que não dependem de sorte. Por exemplo, no xadrez não se depende de sorte. Por quê? Porque o tabuleiro não permite elementos de sorte. Por outro lado, nos jogos de baralhos os jogadores dependem de sorte. E há outros que são jogos puramente de sorte, como, por exemplo, a loteria. Nesse livro eu não me coloquei a questão da justiça da sorte. A sorte é justa? Mas, por exemplo, eu fiz isso no último ensaio sobre a justiça nos jogos. O Direito, assim como a vida, tem a ver com a sorte das pessoas. O jogo na realidade é um parênteses na vida real das pessoas. Nesse sentido, o Direito não é um jogo, porque pertence à vida real. Ele faz parte da vida social, da vida real. Estruturalmente, a comparação é pertinente. A analogia tem um limite: tudo que se refere ao aspecto antropológico ou sociológico e ao aspecto dos valores não é absolutamente comparável ao Direito e aos jogos, mas é comparável em aspectos formais e estruturais.
ConJur — Podemos falar em nomes que marcaram a sua formação acadêmica?
Gregorio Robles — Os autores que mais me influenciaram são, entre os espanhóis, José Ortega Gasset, Luis Recaséns Siches y Luis Legaz Lacambra. Além deles, Hans Kelsen. Fui muito influenciado por Max Weber, o sociólogo. No aspecto da Filosofia Analítica, não apenas a moderna Filosofia Analítica, a partir de Thomas Hobbes, David Hume e mais recentemente Wittgenstein. Há alguns autores menos conhecidos que também me influenciaram como Karl Mannheim, que escreveu um livro fantástico chamado Ideologia e Utopia. Sou um fanático em ler os clássicos continuamente. Muitas vezes, não sabemos muito bem por quem fomos influenciados.
ConJur — O senhor falou em Hans Kelsen. Como o senhor avalia a relação da Sociologia, da Antropologia e da Filosofia com a Teoria Pura do Direito dele?
Gregorio Robles — A Teoria Pura do Direito não contempla o Direito como algo isolado — não é o Direito Puro, mas, sim, a teoria pura. Isso não significa que a Teoria Pura do Direito esteja tentando dizer que o Direito é puro, no sentido de que está desligado da realidade social. A ideia básica de Kelsen é que o fen�?meno jurídico é complexo, mas o que define o Direito é a norma. Então tudo o que não seja norma, ou seja, o que é extranormativo, para ele é extrajurídico. Pode ser sociológico, psicológico, econ�?mico. Mas é extrajurídico. E, portanto, diz ele, a Ciência do Direito conhece somente as normas porque as normas são o objeto da Ciência do Direito. O que não quer dizer que a realidade do Direito não tenha nada a ver com a economia e com a ideolog ia, por exemplo. Ele é perfeitamente consciente de que a Teoria Pura do Direito é uma teoria desligada dos elementos que ele considera extrajurídicos. É uma teoria que se autolimita. Quer dizer, se aceitam os seus postulados. Alguém poderá dizer "eu sou kelseniano" quando aceita os seus postulados. Se seus postulados não são aceitos, então a Teoria Pura é criticada. Normalmente, seus postulados não são aceitos.
ConJur — Por quê?
Gregorio Robles — Porque há uma resistência a entender que os fen�?menos jurídicos são apenas fen�?menos normativos, entendidos como fen�?menos formais. Kelsen diz: a Teoria Pura do Direito é uma geometria do fen�?meno jurídico. O que ele está nos dizendo com essa expressão? Não me interessam os conteúdos. Me interessam os conceitos. A meu ver, o problema da Teoria Pura do Direito é um instrumento escasso demais para os juristas, porque eles precisam de uma teoria de interpretação e de uma teoria da ciência do Direito que trate de conteúdos. Isso a Teoria Pura não proporciona. A Teoria Pura, para mim, seria a sintaxe jurídica, os elementos puramente formais. Mas é necessário uma teoria da semântica que seria a ciência do Direito e uma teoria pragmática. Ele utiliza um conceito de ciência muito estreito. É o conceito de positivismo. Eu poderia dizer que a teórica comunicacional surge em mim como uma réelica a Kelsen. Ele é, na minha opinião, o grande autor do século XX e eu penso o Direito dialogando com ele. O que acontece é que há certos assuntos sobre os quais Kelsen não disse nada, porque não entrava no seu escopo. Quando ele não disse nada, eu me pergunto: Por que não disse nada? Então, eu tento descobrir porque não disse. E, a partir dessas perguntas, é como, em grande parte, tenho construído a teoria comunicacional.
ConJur — Qual a consequência de ele não ter feito essa análise da linguagem?
Gregorio Robles — Por exemplo, toda a teoria das normas em Kelsen, para mim, está dentro de um marco superável, justamente porque ele não faz análise da linguagem. Ele é um positivista e neokantiano que estabelece uma separação muito clara entre o mundo do ser e do dever ser. As normas são todas dever. Ainda que logo se contradiz, porque na segunda edição da Teoria Pura do Direito ele aceita formas diferentes de normas, onde aparecem as normas autorizativas, por exemplo. Mas não elabora essa teorização de uma forma coerente. Um trabalho meu publicado no México, chamado Las Limitaciones de la Teoria Pura del Derecho, analisa a Teoria Pura internamente. Podemos dizer que são as contradições.
ConJur — As contradições param por aí?
Gregorio Robles — Outra contradição em Kelsen é que ele introduz a eficácia como condição de validade, mas a eficácia, como faz referência aos fatos sociais, é um conceito sociológico. Na Teoria Pura ele introduz o problema dos fatos. Na Espanha tem gente que simplifica e diz que sou kelseniano. Sim e não. Sou kelseniano no sentido de que minha obra se preocupa muito com Kelsen, mas não sou no sentido de que Kelsen não aceitaria as minhas teses. No fundo, ele é um ontologista. Ele acredita que o Direito tem uma entidade que não se reduz a linguagem, mas é o mundo do dever ser. É uma expressão que ele utiliza para o mundo das normas. As normas são expressões linguísticas. Vocês podem ver no conceito de Direito há uma análise linguística das regras. Não é correto, porque não há uma análise linguística em Herbert Hart. Tem uma ideia pouco clara de que as normas são expressões da linguagem, mas não há uma análise mais profunda. O Conceito de Direito é um livro breve para os temas abordados. As normas vêm definitivamente dizer que as regras primárias estabelecem deveres e as secundárias estabelecem poderes, e pronto. A explicação é muito escassa. Posteriormente a Hart, e aí já entra no debate atual, tudo o que é anterior às normas. E nisso se encaixa perfeitamente esse livro. É bom ter em mente que esse livro foi escrito em 1982, 1983 e publicado em 1984. São quase 30 anos. Quando se tem uma perspectiva sobre as discussões na teoria ou na Filosofia do Direito, é necessário ver a data em que o livro foi publicado, qual é o significado do livro para aquele momento.
ConJur — Como o senhor, na posição de filósofo do Direito, avalia a produção atual acadêmica? Há uma escassez?
Gregorio Robles — A Filosofia do Direito atualmente se caracteriza pela dispersão. Quer dizer, os professores tendem a se especializar. Há especialistas em argumentação, há especialistas em interpretar as normas, há especialistas em neoconstitucionalismo, há especialistas em Direitos Humanos. É o que predomina. Qual é a razão disso? Provavelmente porque de alguma maneira os acadêmicos tendem a fazer carreira e, para isso, é necessário escrever. Então você se familiariza. Eu conheço professores mais velhos que sempre estiveram sempre em determinada problemática e que praticamente não têm saído daí. O que caracteriza a Filosofia Jurídica atual é a dispersão e a falta de concepções globais.
ConJur — Mudando de assunto e falando sobre o Judiciário. Como o senhor vê o ativismo judicial no Brasil?
Gregorio Robles — Agora existe um movimento, que é um movimento do neoconstitucionalismo. Isso é menosprezar o trabalho do legislador, porque dá maior protagonismo aos juízes. E, de alguma forma, guardadas as devidas proporções, lembra o chamado movimento do Direito Livre.
ConJur — O senhor pode falar um pouco mais sobre esse movimento?
Gregorio Robles — O movimento do Direito Livre é uma tendência que aconteceu na Europa Central nos anos 1920 e a ideia básica era a mesma: que a lei é imperfeita, então o juiz deve ter uma margem maior de decisão. Inclusive, o Código Civil suíço acolheu essa tese: ao juiz, na presença de alguma lacuna, é permitido aplicar a norma que ele tivesse criado caso fosse legislador. Eu acho que o movimento do Direito Livre nunca teve êxito especial. Foi uma doutrina de professores que não transcendeu a vida real. No caso do neoconstitucionalismo, parece que está transcendendo pela via dos tribunais constitucionais. Porque os tribunais constitucionais, em sua maior parte, são fortes. Ou seja, se por um lado é um paradoxo, é preciso dar muito protagonismo ao juízes, mas os membros quase nunca são juízes. São professores, advogados, alguns juízes, mas não é um corpo oficial, porque, pelo menos na Espanha, o Tribunal Constitucional não faz parte do Poder Judiciário. Na verdade, não é um tribunal de juízes. Ele tem esse nome do mesmo modo de um Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas para nós não é um tribunal, no sentido estrito da palavra. A nossa experiência é que o Tribunal Constitucional frequentemente corrige o Tribunal Supremo. Tribunal Supremo diz A, o Tribunal Constitucional diz não A. Diz B ou C. Na Espanha, as pessoas que não têm formação jurídica, pensam que o Direito tem que ser uniforme. A imagem que existe é que os dois tribunais superiores não concordam em aspectos aparentemente importantes para a vida do país, para a vida política, para a vida institucional. Em que resulta isso? Em um desprestigio das instituições. Talvez se todos fossem juízes de carreira, não escolhidos dessa forma, mas escolhidos de outra maneira, digamos, de forma mais profissional, talvez isso diminuísse. Mas a minha opinião é que seria melhor que o Tribunal Supremo tivesse uma sala destinada a resolver problemas de inconstitucionalidade de leis, mandado de segurança. Diz-se que na Espanha a Justiça está muito politizada. Deve ser verdade quando isso é tão repetido. Nesse sentido isso não é bom. O neoconstitucionalismo vem abalando esta maneira de ver as coisas. Os juízes precisam das mãos mais livres. Se a lei é imperfeita, os juízes também podem ser imperfeitos. E na concepção de estado de Direito, os juízes devem obedecer a lei e aplicar a lei. Quando há uma lacuna, é permitida uma certa liberdade.
ConJur — No Brasil o Superior Tribunal de Justiça se encarrega da legalidade e o Supremo Tribunal Federal, da constitucionalidade. Apesar de termos o Supremo como parte do Poder Judiciário, não é necessário que todos sejam juízes de carreira. Pode-se escolher advogados, por exemplo.
Gregorio Robles — Não me parece correto. Eu acredito que o melhor para um país é que os juízes sejam juízes e que os professores sejam professores. Ou seja, que cada um cumpra a sua função estritamente, e quando isso não ocorre, sempre há intervenção do poder político, há pactos, há compromissos. É um tema que está sempre na imprensa, nos jornais, na televisão, na rádio, um tema que tem que mudar. A independência do Poder Judiciário é o mais importante para que o Estado de Direito funcione. Porque entre governo e Parlamento não vai haver separação, já que o governo sai do Parlamento. Mas que os juízes também saiam do Pa rlamento, aí já é demais. No final das contas todos saem do governo, que é quem domina o Parlamento. Mas sempre tem pactos, sobretudo na Espanha, com os nacionalistas, complica bastante. A judicatura tem que ser independente e é preciso um mecanismo de eleição próprios típicos dos juízes.
ConJur — O senhor falou agora da relação entre a magistratura e a política, que os juízes devem estar isentos na hora de decidir. Com a crise atual no mundo, o Direito tem um papel na reconstrução da ordem econ�?mica na Europa ou não?
Gregorio Robles — Sim. Todas as medidas tomadas para a recuperação têm uma forma jurídica. O Direito, como dizia Stambles, é a forma da economia. Não é economia, mas é a forma. E a única maneira de endereçar uma economia com problemas é tomar as medidas adequadas, e essas medidas, que são medidas economicamente adequadas, em qualquer caso precisam da forma jurídica, por meio das leis, das decisões do governo etc. Como se criou a União Europeia? Com o Direito. Não surgiu por geração espontânea. Foi criada por tratados. O Euro se criou porque se decide, por meio de normas, a criação de uma nova moeda. Ou seja, o Direito tem uma função muito importante sobre a economia, sem sombra de dúvida. O problema não é o Direito, o problema é adotar as medidas necessárias em tempo. O Direito cumpre uma função estritamente necessária. Ou seja, o governo não pode mudar as coisas por decreto. Não se pode enganar, porque como dizem os alemães, uma lei err�?nea é como um tiro na escuridão. Uma lei err�?nea, uma lei equivocada é como alguém faz um disparo na escuridão. Ninguém sabe para onde o disparo vai. O que isso quer dizer? Que o conteúdo das decisões tem que ser econ�?mico. Nós, juristas, não temos conhecimento para dizer que medidas devem ser tomadas. Isso cabe aos economistas. Na Espanha os economistas estão dizendo o mesmo. E o governo não deu importância até agora. Há uns três meses tem começado um pouco as reformas, mas timidamente. Apenas com medidas jurídicas, não. Medidas jurídicas com conteúdo econ�?mico. Em nível global, mundial, não saberia dizer. A crise é muito importante. Eu vejo que no Brasil vocês conti nuam crescendo.
ConJur — Sim.
Gregorio Robles — Nós tivemos uma recessão, ou seja, crescimento negativo, durante alguns meses e agora temos 0,1 ou 0,15. A economia em estado catat�?nico. Quer dizer, se aqui no Brasil tem 3 %... Com 3% empregos são criados. Com 0,15 não são criados empregos. A Espanha tem, segundo cifras oficiais, 21% de desemprego. São 5 milhões de pessoas sem trabalho. Eu estou convencido de que vai mudar o governo e vai haver manifestações, com certeza. Porque vão haver cortes. O mercado se ativa, como os economistas dizem, quando os empresários têm possibilidades reais de gerar e de criar empresas. Menos impostos, flexibilidade de contratação. Isso tem um lado difícil? Sim. Em alguns aspectos é difícil, mas é a única forma. Porque o gasto público cria parcialmente empregos aos funcionários, mas em um estado não podem ser todos funcionários. Na Espanha, quando Franco morreu, havia 600 mil funcionários e agora são três milhões de funcionários. Foi multiplicado por cinco, graças às comunidades aut�?nomas. É um estado semi-federal. Um gasto enorme. Então vão haver cortes, vai ser difícil. Mas o que se diz, não sei se aqui se usa a mesma expressão, apertar o cinto. Temos experiência, porque já passamos por períodos difíceis. Globalmente eu acho que nem Obama sabe. Se soubesse. O que todos estão assustados é com os chineses. Continuam crescendo.
ConJur — Continuam crescendo.
Gregorio Robles — Continuam crescendo. O mistério é que é uma sociedade em que os salários são muito baixos, consequentemente os preços são muito competitivos e uma tecnificação progressiva, não digo de toda a China, a China é muito grande, mas há zonas de um nível tecnológico elevado. É preciso saber como são os chineses: trabalhadores, duros diante da adversidades, pacientes. Isso não se pode esquecer: o componente cultural, antropológico. A sociedade ocidental virou uma sociedade acomodada, onde o esforço continua sendo um valor, mas não é um valor com uma aceitação absoluta, em todas as esferas da população.
ConJur — Existem limites entre as garantias individuais e coletivas. Quais são esses limites?
Gregorio Robles — Por exemplo, nas garantias de direitos fundamentais dos indivíduos e as coletivas, por exemplo, de sindicatos. Direitos fundamentais são direitos dos indivíduos. Um dos direitos é de se associar. Isso implica que o ordenamento jurídico garante também a vida das associações de diversos tipos: sindicatos e partidos políticos, desde que sejam democráticos. Um sistema democrático não pode aceitar um partido político antidemocrático. Quando um partido político é antidemocrático? Quando desrespeita o jogo da democracia. Por exemplo, os partido políticos na Espanha com representantes do ETA, por mais que digam, não são democráticos. Enquanto não demonstrem que não têm nada a ver com uma organização terrorista, isso acabou. Digamos que existem dois baralhos: de manhã jogam com terrorismo e a tarde jog am a política. Um partido que utilize a violência para conseguir poder não é democrático e, consequentemente, deve ser considerado ilegal. Por exemplos, os nazistas chegaram ao poder pelas urnas, e logo em seguida suprimem a democracia. É antidemocrático. O sistema democrático não pode permitir a existência de partidos que querem se encarregar do sistema. O mesmo acontecia antes com os partidos comunistas. Na Europa eram tolerado, menos na Alemanha. Na Espanha, com a democracia, o Partido Comunista foi aceito e de fato funciona como um partido democrático. Mas os que estão vinculados a ETA, temos sérias dúvidas. Então devem haver garantias, sim, se cumprem as condições do sistema da democracia liberal, claro que sim. Direitos são apenas dos indivíduos. Direito dos povos, o que é isso? Dentro de um estado já organizado com séculos de existência, os direitos são os direitos dos indivíduos.
ConJur — Há uma proposta da lei passar antes pelo Supremo Tribunal Federal. É o chamado controle prévio de constitucionalidade. O que o senhor acha disso? Na Espanha tem isso?
Gregorio Robles — Hoje não há controle prévio de constitucionalidade. Dizem que o novo governo vai impor. O que há é controle posterior de constitucionalidade. Qual é o problema disso? Desde que a lei se promulga e que entra em vigor até que tem lugar a sentença do tribunal constitucional pode passar muito tempo. Isso gera situações que são difíceis de resolver. Que haja um controle prévio é mais racional. Hoje há o projeto de lei. É como nos tratados. Parece-me mais racional.
Marília Scriboni é repórter da revista Consultor Jurídico.
Revista Consultor Jurídico, 13 de novembro de 2011
Drops - Migalhas
Territorialidade
A Corte Especial do STJ entendeu que as decisões tomadas em ações civis públicas devem ter validade nacional, não tendo mais suas execuções limitadas aos municípios onde foram proferidas. O caso específico era de um poupador de Londrina/PR, cliente do antigo Banestado, que tentava receber a diferença na correção dos planos econômicos. O direito à correção foi reconhecido na comarca de Curitiba, em uma ação civil pública, e o poupador queria promover a execução individual em Londrina. O banco, por seu turno, argumentava que a execução só poderia ser feita em Curitiba. Resolvendo a pendenga, o ministro Luís Felipe Salomão, relator do processo no STJ, aceitou o argumento do poupador, entendendo que a ação individual de execução pode ser proposta no domicílio do autor ou no local onde foi emitida a decisão principal. Durante o julgamento, o ministro Teori Zavascki sugeriu que a Corte rediscutisse outra questão : a abrangência territorial da sentença nas ações civis públicas. Para ter a real ideia do alcance do decisum, aguardemos a publicação dos votos. (REsp 1.243.887 - clique aqui)
A Corte Especial do STJ entendeu que as decisões tomadas em ações civis públicas devem ter validade nacional, não tendo mais suas execuções limitadas aos municípios onde foram proferidas. O caso específico era de um poupador de Londrina/PR, cliente do antigo Banestado, que tentava receber a diferença na correção dos planos econômicos. O direito à correção foi reconhecido na comarca de Curitiba, em uma ação civil pública, e o poupador queria promover a execução individual em Londrina. O banco, por seu turno, argumentava que a execução só poderia ser feita em Curitiba. Resolvendo a pendenga, o ministro Luís Felipe Salomão, relator do processo no STJ, aceitou o argumento do poupador, entendendo que a ação individual de execução pode ser proposta no domicílio do autor ou no local onde foi emitida a decisão principal. Durante o julgamento, o ministro Teori Zavascki sugeriu que a Corte rediscutisse outra questão : a abrangência territorial da sentença nas ações civis públicas. Para ter a real ideia do alcance do decisum, aguardemos a publicação dos votos. (REsp 1.243.887 - clique aqui)
armas - vale conferir
Presidente do MVB participa de audiência pública sobre porte de armas
No último dia 8, Bene Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil fez mais uma importante participação em audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. O assunto em discussão era o projeto de lei que prevê o porte de armas para agentes de trânsito.
Os desarmamentistas estavam representados pelo Coronel da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul chamado Luiz Antônio Brenner Guimarães, que se colocou a ler um confuso texto durante mais de 15 minutos.
Em apenas 8 minutos, o representante do Movimento Viva Brasil, rechaçou veementemente a posição do coronel e foi muito aplaudido pelos presentes que lotaram o auditório (http://youtu.be/iPhRxB7WfzQ). Tivemos ainda a oportunidade de fecharmos a audiência pública com duras críticas ao desarmamento (http://youtu.be/4r0r-dhg_3o).
Outro fato que merece destaque foi a fala do Deputado federal Dr. Carlos Alberto que mudou seu posicionamento sobre o desarmamento (http://youtu.be/AQLUIhyE81g).
Para quem desejar é possível assistir a íntegra da audiência no link: http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=00019870
Agradecemos aos deputados Mendonça Prado e Fernando Francischini pela inclusão do Movimento viva Brasil, dando mais uma excelente oportunidade de desmascararmos a farsa do desarmamento.
Campanha MVB contra Projeto de Lei que proíbe menores de 18 anos em Clubes de Tiro repercute
A campanha do MVB contra o absurdo Projeto de Lei que proíbe menores de idade em Clubes de Tiro (http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1559) continua repercutindo.
O próprio deputado federal Dr. Rosinha emitiu uma nota sobre o caso, mostrando a importância da participação de todos que escreveram ao mesmo. Infelizmente uma pequena parcela se mostrou agressiva e ofensiva, fato que o MVB repudia veementemente. Vejam a íntegra da resposta do deputado:
http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1564
A coluna do jornalista Claudio Humberto também publicou o fato e as duras críticas feitas pela Federação de Tiro Esportivo do Paraná. Até o momento não tivemos a notícia de que qualquer outra federação ou confederação tenha se posicionado contra o PL.
http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1563
Um dos mais importantes portais jurídicos do país, o Consultor Jurídico, publicou importante artigo de nosso Coordenador Fabrício Rebelo, apontando a inconstitucionalidade do projeto.
http://www.conjur.com.br/2011-nov-13/legitima-necessidade-pratica-controle-previo-constitucionalidade
Carta enviada ao Grupo Bandeirantes sobre as falsas afirmações do depuatado Marcelo Freixo
Em recente entrevista para a Rádio Band o deputado Marcelo Freixo fez uma série de acusações contra Atiradores e Colecionadores, colocando em dúvida a própria fiscalização realizada pelo Exército. Não é a primeira vez que o deputado faz isso, já tendo inclusive repetido tais inverdades na CPI das armas que ocorre na Assembleia do Rio de janeiro.
Imediatamente o Movimento Viva Brasil saiu em defesa dos CACs e desmentiu o deputado em carta enviada para o Grupo Bandeirantes de Jornalismo. Leiam a íntegra:
http://www.mvb.org.br/noticias/index.php?&action=showClip&clip12_cod=1565
Mensagem LADA - Livro pessoas com deficiência!
Prezados amigos,
Estou lançando um novo livro. Chama-se "Barrados". Ele procura apresentar as várias formas de exercício da cidadania diante da
falta de acessibilidade das pessoas com deficiência (ação de indenização, ação popular, representação, etc.). O livro é dirigido às pessoas com deficiência, com conceitos práticos e caminhos simples para o exercício de tal direito. Da mesma forma, pode também ser usado por advogados para a tutela desses direitos e para todos aqueles que quiserem exercer cidadania. São modelos que procuram ser claros e objetivos, facilitando a vida do advogado que vai ingressar em juízo, da própria pessoa com deficiência ou de quem quiser participar do processo de inclusão. O livro tem versão em e-book e impressa.
Procuramos, junto com a Editora KBR, estabelecer um preço chamado “social”, para poder dar divulgação ao trabalho. Para o e-book, o preço é de R$12,00. Como a maioria sabe, não há necessidade de tablet para baixar. Basta um computador comum. O livro está à venda na Livraria Cultura. O endereço direto para a aquisição do livro no formato e-book na Livraria Cultura é:
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.asp?nitem=29026061
O livro também pode ser encontrado nos sites da Saraiva, Gato Sabido e da Amazon (o preço lá é de sete dólares).
Já a versão impressa, que é um pouco mais cara, pode ser encontrada na Livraria Cultura, Saraiva e nas livrarias da PUC-SP (térreo, terceiro e quarto andar do prédio novo) e na Secretaria da Pós-Graduação da ITE – Instituição Toledo de Ensino, em Bauru.
Espero que gostem. Abraço a todos.
Luiz Alberto David Araujo
lada10@terra.com.br
STF e acesso aos dados... garantir o básico!
24 novembro 2011
Hora da revanche
STF garante acesso às provas da operação satiagraha
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira (24/11), por unanimidade, dar provimento à Reclamação 9.324. Com isso, a defesa do empresário Daniel Dantas e do banco Opportunity terá acesso à íntegra das provas coletadas durante a operação satiagraha, da Polícia Federal.
Em discussão estão as intenções do então delegado Protógenes Queiroz na investigação. Os advogados de Dantas sustentam que a operação fora encomendada pela iniciativa privada para tirá-lo do controle da Brasil Telecom, num intrincado jogo acionário da privatização da operadora de telefonia.
Segundo os advogados, há indícios dessa conexão em uma agenda, coletada pela PF durante a diligência na sede do banco de investimentos Angra Partners. As anotações relacionam advogados, empresários, juízes e um ministro do Superior Tribunal de Justiça a valores. Não há, no entanto, nenhuma conexão concreta.
A mesma diligência, no entanto, coletou CDs, DVDs, pen drives e HDs do Angra. Mídias às quais a defesa ainda não teve acesso — existe liminar, proferida pelo ministro Eros Grau, hoje aposentado do STF, garantindo acesso, mas os advogados ainda não conseguiram ver o material. A suposição é que nas mídias digitais há as conexões não feitas na agenda.
A operação, comandada pelo delegado Protógenes Queiroz, investigou acusações anônimas de crimes financeiros cometidos por Daniel Dantas e por seu banco de investimentos, o Opportunity, nas operações de privatização da operadora de telefonia Brasil Telecom. Resultou numa Ação Penal proposta pelo Ministério Público, mas cujas provas foram consideradas ilegais e anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Entre os desvios constatados pelo STJ estavam o uso indiscriminado de interceptações telefônicas, a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e de empresas particulares nas investigações.
No julgamento, os ministros deixaram claro que a Súmula Vinculante 14 garante a todas as partes o acesso à integra das provas. A subprocuradora-geral da República, Deborah Duprat, afirmou que as provas não existem porque estão danificadas ou foram apagadas. Segundo ela, nem mesmo o Ministério Público Federal teve acesso aos dados. "Não há falta de acesso, porque a mídia estava corrompida. Não teve acesso a defesa e tampouco o Ministério Público", afirmou, atribuindo a informação a departamento técnico da PF.
Com a vitória, os advogados de Dantas e do Opportunity pretendem relacionar o caso a outro que corre na Justiça da Itália. Lá, a procuradoria da República em Milão apura acusações de intervenção da iniciativa privada (Telecom Itália) na operação chacal, também da Polícia Federal. Diz a acusação que a operadora de telecomunicações encomendou ofensiva ardilosa para imputar crimes a Daniel Dantas e tirá-lo do controle acionário da BrT. Na Itália, Dantas é vítima.
Na saída do julgamento, o advogado Andrei Zenkner, que representa Dantas, afirmou que pretende juntar o conteúdo das mídias digitais da satiagraha ao que foi apurado pela Justiça italiana. Com isso, pretende compor a tese de que a operação de Protógenes foi orquestrada e direcionada pela iniciativa privada.
O primeiro
Este é o primeiro de uma lista de processos em que Daniel Dantas e outros integrantes do banco Opportunity querem mostrar que foram vítimas de uma conspiração de seus adversários para afastá-lo do mercado brasileiro de telefonia. Os outros casos estão nas mãos dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Ayres Britto.
O empresário Luís Roberto Demarco é acusado de corrupção ativa; os ex-delegados Protógenes Queiroz e Paulo Lacerda são investigados pela prática de prevaricação, corrupção passiva e interceptação ilegal de telefones; Protógenes é investigado por falso testemunho, por dizer que não conhecia Demarco e depois ter-se apurado que ao longo da chamada operação satiagraha eles trocaram mais de uma centena de telefonemas. O ministro Ayres Britto é relator da Ação Penal 563 que apura fraude processual praticada por Protógenes. Sobra também para o juiz Fausto De Sanctis que sistematicamente negou a acusados acesso às provas contra os acusados, em desobediência a ordens do Tribunal Regional Federal e do STF.
O próximo processo da fila é o Inquérito 3.152, que está sob os cuidados do ministro Dias Toffoli. O ministro vai ter que decidir se os documentos que mostram a interferência privada na satiagraha são válidos ou não. Eles foram colhidos no momento em que a Polícia Federal passou a investigar a atuação de Protógenes e descobriram-se intersecções ilegais com investigadores privados, com a Agência Brasileira de Inteligência e com o grupo de Demarco. O Ministério Público, como parte, sustenta que as provas devem ser descartadas, uma vez que não foram solicitadas por seus integrantes — uma formalidade contra a qual a própria instituição investiu, quando dispensada pelo juiz Fausto De Sanctis e que geralmente o MPF rejeita quando levantada por advogados, segundo os defensores do Opportunity.
Com Luiz Fux, a Petição 4.927 se dá por incitação ao crime, baseada na declaração do então delegado de que “ocupar terra de Dantas é dever do povo brasileiro”. Na primeira tentativa, o pedido foi examinado pelo ministro Ayres Britto, que o considerou prescrito. O novo pedido, também feito em nome da Fazenda Santa Bárbara, do banqueiro, baseia-se no mesmo fato, mas com enquadramento por “instigação”.
Reclamação 9.324
Texto alterado às 8h50 de 25/11 para distinguir as práticas de Protógenes da práxis da Polícia Federal — que repudiou e repudia os malfeitos do ex-delegado.
Em discussão estão as intenções do então delegado Protógenes Queiroz na investigação. Os advogados de Dantas sustentam que a operação fora encomendada pela iniciativa privada para tirá-lo do controle da Brasil Telecom, num intrincado jogo acionário da privatização da operadora de telefonia.
Segundo os advogados, há indícios dessa conexão em uma agenda, coletada pela PF durante a diligência na sede do banco de investimentos Angra Partners. As anotações relacionam advogados, empresários, juízes e um ministro do Superior Tribunal de Justiça a valores. Não há, no entanto, nenhuma conexão concreta.
A mesma diligência, no entanto, coletou CDs, DVDs, pen drives e HDs do Angra. Mídias às quais a defesa ainda não teve acesso — existe liminar, proferida pelo ministro Eros Grau, hoje aposentado do STF, garantindo acesso, mas os advogados ainda não conseguiram ver o material. A suposição é que nas mídias digitais há as conexões não feitas na agenda.
A operação, comandada pelo delegado Protógenes Queiroz, investigou acusações anônimas de crimes financeiros cometidos por Daniel Dantas e por seu banco de investimentos, o Opportunity, nas operações de privatização da operadora de telefonia Brasil Telecom. Resultou numa Ação Penal proposta pelo Ministério Público, mas cujas provas foram consideradas ilegais e anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Entre os desvios constatados pelo STJ estavam o uso indiscriminado de interceptações telefônicas, a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e de empresas particulares nas investigações.
No julgamento, os ministros deixaram claro que a Súmula Vinculante 14 garante a todas as partes o acesso à integra das provas. A subprocuradora-geral da República, Deborah Duprat, afirmou que as provas não existem porque estão danificadas ou foram apagadas. Segundo ela, nem mesmo o Ministério Público Federal teve acesso aos dados. "Não há falta de acesso, porque a mídia estava corrompida. Não teve acesso a defesa e tampouco o Ministério Público", afirmou, atribuindo a informação a departamento técnico da PF.
Com a vitória, os advogados de Dantas e do Opportunity pretendem relacionar o caso a outro que corre na Justiça da Itália. Lá, a procuradoria da República em Milão apura acusações de intervenção da iniciativa privada (Telecom Itália) na operação chacal, também da Polícia Federal. Diz a acusação que a operadora de telecomunicações encomendou ofensiva ardilosa para imputar crimes a Daniel Dantas e tirá-lo do controle acionário da BrT. Na Itália, Dantas é vítima.
Na saída do julgamento, o advogado Andrei Zenkner, que representa Dantas, afirmou que pretende juntar o conteúdo das mídias digitais da satiagraha ao que foi apurado pela Justiça italiana. Com isso, pretende compor a tese de que a operação de Protógenes foi orquestrada e direcionada pela iniciativa privada.
O primeiro
Este é o primeiro de uma lista de processos em que Daniel Dantas e outros integrantes do banco Opportunity querem mostrar que foram vítimas de uma conspiração de seus adversários para afastá-lo do mercado brasileiro de telefonia. Os outros casos estão nas mãos dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Ayres Britto.
O empresário Luís Roberto Demarco é acusado de corrupção ativa; os ex-delegados Protógenes Queiroz e Paulo Lacerda são investigados pela prática de prevaricação, corrupção passiva e interceptação ilegal de telefones; Protógenes é investigado por falso testemunho, por dizer que não conhecia Demarco e depois ter-se apurado que ao longo da chamada operação satiagraha eles trocaram mais de uma centena de telefonemas. O ministro Ayres Britto é relator da Ação Penal 563 que apura fraude processual praticada por Protógenes. Sobra também para o juiz Fausto De Sanctis que sistematicamente negou a acusados acesso às provas contra os acusados, em desobediência a ordens do Tribunal Regional Federal e do STF.
O próximo processo da fila é o Inquérito 3.152, que está sob os cuidados do ministro Dias Toffoli. O ministro vai ter que decidir se os documentos que mostram a interferência privada na satiagraha são válidos ou não. Eles foram colhidos no momento em que a Polícia Federal passou a investigar a atuação de Protógenes e descobriram-se intersecções ilegais com investigadores privados, com a Agência Brasileira de Inteligência e com o grupo de Demarco. O Ministério Público, como parte, sustenta que as provas devem ser descartadas, uma vez que não foram solicitadas por seus integrantes — uma formalidade contra a qual a própria instituição investiu, quando dispensada pelo juiz Fausto De Sanctis e que geralmente o MPF rejeita quando levantada por advogados, segundo os defensores do Opportunity.
Com Luiz Fux, a Petição 4.927 se dá por incitação ao crime, baseada na declaração do então delegado de que “ocupar terra de Dantas é dever do povo brasileiro”. Na primeira tentativa, o pedido foi examinado pelo ministro Ayres Britto, que o considerou prescrito. O novo pedido, também feito em nome da Fazenda Santa Bárbara, do banqueiro, baseia-se no mesmo fato, mas com enquadramento por “instigação”.
Reclamação 9.324
Texto alterado às 8h50 de 25/11 para distinguir as práticas de Protógenes da práxis da Polícia Federal — que repudiou e repudia os malfeitos do ex-delegado.
Pedro Canário é repórter da revista Consultor Jurídico.
Monitoramento Eletrônico - Decreto
DECRETO No- 7.627, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011
Regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 319 no Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e nos arts. 146-B, 146-C e 146-D da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal,
D E C R E T A :
Art. 1o Este Decreto regulamenta a monitoração eletrônica de pessoas prevista no inciso IX do art. 319 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e nos arts. 146-B, 146-C e 146-D da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.
Art. 2o Considera-se monitoração eletrônica a vigilância telemática posicional à distância de pessoas presas sob medida cautelar ou condenadas por sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos que permitam indicar a sua localização.
Art. 3o A pessoa monitorada deverá receber documento noqual constem, de forma clara e expressa, seus direitos e os deveres a que estará sujeita, o período de vigilância e os procedimentos a serem observados durante a monitoração.
Art. 4o A responsabilidade pela administração, execução econtrole da monitoração eletrônica caberá aos órgãos de gestão penitenciária, cabendo-lhes ainda:
I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das condições especificadas na decisão judicial que autorizar a monitoração eletrônica;
II - encaminhar relatório circunstanciado sobre a pessoa monitorada ao juiz competente na periodicidade estabelecida ou, a qualquer momento, quando por este determinado ou quando as circunstâncias assim o exigirem;
III - adequar e manter programas e equipes multiprofissionais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada condenada;
IV - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de suas obrigações e auxiliá-la na reintegração social, se for o caso; e
V - comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre fato que possa dar causa à revogação da medida ou modificação de suas condições.
Parágrafo único. A elaboração e o envio de relatório circunstanciado poderão ser feitos por meio eletrônico certificado digitalmente pelo órgão competente.
Art. 5o O equipamento de monitoração eletrônica deverá ser utilizado de modo a respeitar a integridade física, moral e social da pessoa monitorada.
Art. 6o O sistema de monitoramento será estruturado de modo a preservar o sigilo dos dados e das informações da pessoa monitorada.
Art. 7o O acesso aos dados e informações da pessoa monitorada ficará restrito aos servidores expressamente autorizados que tenham necessidade de conhecê-los em virtude de suas atribuições.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guitar Concert at Carnegie Hall - RECOMENDO
Guitar Concert at Carnegie Hall
Monday, November 28, 2011, 8pm
Weill Recital Hall at Carnegie Hall
Dear friends,
This is just a quick note to remind you of my Carnegie Hall concert Brazilian Guitar: Tradition and Tendencies, this Monday, November 28, 8pm, at Weill Recital Hall, featuring an all-Brazilian program. The concert will also feature world premier performances of works by Raimundo Penaforte and Ricardo Calderoni and I’ll receive international guest artists Paulo Martelli (Brazil, guitar), Welson Tremura (Brazil, guitar), Marta Kukularova (Bulgary, soprano) and Kathryn Farenish (USA, flute) to perform part of the repertoire. Tickets on sale at Carnegie Hall box office (57th & Seventh Av.), by phone at 212-247-7800 or online at carnegiehall.org.
More information: http://joaokouyoumdjian.com/news/read/carnegie-hall-concert
I hope to see you there!
Best,
João Kouyoumdjian
24/11/2011
Lenio Streck - Para entender o que se insiste em não se entender!
Artigos
17 novembro 2011
Regra ou princípio
Ministro equivoca-se ao definir presunção da inocência
Por Lenio Luiz Streck
Exercer a crítica no direito é uma tarefa difícil. Principalmente em terrae brasilis. Por aqui, normalmente é magister dixti. Mormente se quem disse é Ministro de Corte Superior. Não conseguimos construir ainda uma cultura em que as decisões judiciais – em especial as do Supremo Tribunal Federal – sofram aquilo que venho denominando de “constrangimentos epistemológicos”. O que é “constrangimento epistemológico”? Trata-se de uma forma de, criticamente, colocarmos em xeque decisões que se mostram equivocadas, algo que já chamei, em outro momento, de “fator Julia Roberts”, em alusão à personagem por ela interpretada no filme Dossiê Pelicano, que, surpreendendo o seu Professor em Harvard, afirma que a Suprema Corte norte-americana errou no julgamento do famoso caso Bowers v. Hardwick. No fundo, é um modo de dizermos que a “doutrina deve voltar a doutrinar” e não se colocar, simplesmente, na condição de caudatária das decisões tribunalícias. Lembro da decisão do então Ministro Humberto Gomes de Barros (AgrReg em ERESP 279.889), do Superior Tribunal de Justiça, na qual ele dizia: “Não me importam o que pensam os doutrinadores”, importando, para ele, apenas o que dizem os Tribunais...! Imediatamente divulguei contundente artigo [1]dizendo a Sua Excelência que “importa, sim, o que a doutrina pensa”. Lançava, então, um repto à comunidade jurídica: a doutrina tem a função de doutrinar. Criticava, também, a cultura de repetição de decisões (ementários, etc) que se formou no Brasil.
Temos de construir as bases para um pensamento crítico que denuncie equívocos como o voto que abordarei na sequência, da lavra do Ministro Luiz Fux. A crítica que exporei não tem a pretensão de ser algo do tipo J’accuse, de Emile Zola, em que este fazia contundente manifesto contra a injustiça cometida contra o cap. Dreyfus. Posso, no máximo, estar indignado como Zola.
Por isso, permito-me trazer a lume o meu protesto contra o voto do Min. Luiz Fux, a quem nutro profundo respeito pessoal, no processo da Lei Ficha Limpa. Nosso Amigo – meu e do Ministro Luiz Fux – James Tubenschlak (de saudosa memória, que morreu prematuramente quando, com sua esposa Tânia, visitava o Rio Grande do Sul) nos uniu há muitos anos, no velho Instituto de Direito, o ID. Ele, Luiz Fux, já um jurista (então membro do Ministério Público) conhecido, e eu, iniciando minha trajetória. James nos prestigiava. E como! Era Amilton Bueno de Carvalho, Lenio Streck, Luiz Fux, Silvio Capanema, Nagib Slaibi, Alexandre Câmara, Afranio Silva Jardim, Juarez Cirino, Jacinto Coutinho, Caio Mário, João Mestieri, Barbosa Moreira, Yussef Cahaly, Calmon de Passos (quem mais arrancava aplausos de pé). Havia muitos outros. O Hotel Glória ficava repleto, tendo que colocar telões. Não havia ainda redes sociais. Nosso espaço era cavado com muito (mais) esforço do que se faz hoje.
Cada um seguiu sua trajetória. Fux foi guindado ao STJ e ao STF. E o que o Ministro Fux vem fazendo? Lançando belos votos, como outra coisa não se poderia esperar de um jurista talentoso. Entretanto, não estamos mais nos palcos do Hotel Glória. Não precisamos mais disputar as palmas daqueles milhares que lá iam. Hoje ele é um Ministro do Supremo Tribunal da República Federativa do Brasil. Duzentos milhões de habitantes. Fux não é mais palestrante. Relembro: é Ministro. Só tem onze na República. E cada um tem responsabilidade política. E que responsabilidade, em um país eivado de judicializações, que, diga-se, não ocorrem por culpa do STF; são, sim, contingenciais...! Cada decisão tem efeitos colaterais. De cada decisão, extrai-se um princípio. Outro dia o meu caríssimo Ministro concedeu Habeas Corpus, invocando algo que não consta no Código Penal: a teoria da actio libera in causa. Ou seja, tivesse o STF coerência nas decisões, portanto, respeitasse o STF a origem do direito fruto de suas decisões, teríamos, a partir de agora, algo inusitado: nunca mais se conseguirá acusar alguém por dolo eventual na hipótese em que o autor dirija embriagado e atropele (e mate). A tese do voto: somente se pode acusar alguém por dolo eventual se ficar demonstrado que o agente “se embriagou com o propósito de cometer um crime”. Prova, pois, diabólica. Impossível de se fazer. Aliás, nunca houve no mundo um processo julgado nesse sentido. A velha actio libera in causa não é um princípio. E tampouco é uma regra. Nem mais se estuda essa tese nas salas de aula. Porém, o Min. Fux proferiu um belo voto. Pergunto: e os efeitos colaterais dessa decisão?
Poderia falar de outros votos. Mas a minha crítica epistêmica é dirigida a um caso bem recente, a não passar desapercebido pela população. Trata-se do caso da “Lei Ficha Limpa” (ou “Ficha Suja”, como queiram). Neste caso, penso que o Ministro – permito-me dizer, com todas as vênias do mundo; afinal trata-se de um Ministro e no Brasil quase ninguém tem coragem para criticar decisões da Suprema Corte – equivocou-se. Tomo, pois, a coragem de “acusá-lo” epistemicamente.
Contextualizarei. De há muito, ocupo-me em minhas pesquisas da questão que envolve a determinação do conceito de princípio. Mais especificamente, minhas preocupações giram em torno do problema da decisão judicial e da existência ou não do chamado “poder discricionário dos juízes” no momento da solução dos chamados “casos difíceis” (em Verdade e Consenso, Saraiva, 4ª ed., demonstro a inadequação hermenêutica desse último conceito).
Na esteira da construção dessa busca pela determinação do conceito de princípio, deparei-me, mormente nos anos mais recentes, com situações inusitadas. Certamente, a mais pitoresca de todas é aquela que nomeei (em diversos textos, e especialmente, em Verdade e Consenso) de panprincipiologismo, uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas jurídicas brasileiras e que leva a um uso desmedido de standards argumentativos que, no mais das vezes, são articulados para driblar aquilo que ficou regrado pela produção democrática do direito, no âmbito da legislação (constitucionalmente adequada). É como se ocorresse uma espécie de “hiperestesia” nos juristas que os levassem a descobrir por meio da sensibilidade (o senso de justiça, no mais das vezes, sempre é um álibi teórico da realização dos “valores” que subjazem o “Direito”), à melhor solução para os casos jurisdicionalizados.
Pois bem. No julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, o STF parece ter inaugurado uma forma nova desse fenômeno se manifestar. Com efeito, ao lado do uso inflacionado do conceito de princípio (por exemplo, o panprincipialismo é, corretamente, denunciado pelo Ministro Tóffoli em vários votos, inclusive fazendo alusão ao meu Verdade e Consenso, op.cit.), o voto que até o momento foi apresentado nesses julgamentos (Lei do “Ficha Limpa) produz uma espécie de retração que, mais do que representar uma contenção ao panprincipiologismo, manifesta-se como um subproduto deste mesmo fenômeno. Trata-se de uma espécie de “uso hipossuficiente” do conceito de princípio. Já não se sabe o que é mais grave: o panprincipialismo ou a hipossuficiência principiológica.
O que seria esse “uso hipossuficiente do conceito de princípio”? Explico: ao invés de nomear qualquer standard argumentativo ou qualquer enunciado performático de princípio, o Judiciário passa a negar densidade normativa de princípio àquilo que é, efetivamente, um princípio, verdadeiramente um princípio, anunciando-o como uma regra. Aliás, nega-se a qualidade de princípio àquilo que está nominado como princípio pela Constituição...!
O que ocorreu, afinal? O julgamento em tela trata da adequação da Lei Complementar 115/2010 (chamada lei da “Ficha Limpa”) à Constituição. Neste momento, não me preocupa tanto o mérito da ação, mas aquilo que é feito com a Teoria do Direito. Qual é a serventia da Teoria do Direito? Não se trata de uma questão cosmética. Pelo contrário, é da Teoria do Direito que se retiram as condições para construir bons argumentos e fundamentar adequadamente as decisões. Quero dizer: tem-se a discutir o que foi feito da Teoria do Direito dos últimos 50 anos, a tanto ocupar a questão do conceito de princípio e que, agora, no voto do Ministro Fux, parece não ter muita serventia. Veja-se as palavras do Ministro:
“A presunção de inocência consagrada no artigo 5º, LVII da Constituição deve ser reconhecida, segundo lição de Humberto Ávila, como uma regra, ou seja, como uma norma de previsão de conduta, em especial de proibir a imposição de penalidade ou de efeitos da condenação penal até que transitada em julgado decisão penal condenatória. Concessa venia, não se vislumbra a existência de um conteúdo principiológico no indigitado enunciado normativo”.
Não se vislumbra no enunciado normativo (presunção da inocência) um conteúdo principiológico? Concessa venia, Ministro Fux. A posição exarada por Vossa Excelência sugere claramente uma passagem ao largo de toda a discussão a travar-se no âmbito teórico para saber o que é, efetivamente, um princípio. E o faz com apelo a um argumento de autoridade, baseado numa concepção isolada, no contexto global da teoria do direito e da filosofia do direito, a qual não pode ser tida como dominante. Aliás, a vingar a tese do ilustre jurista citado pelo Ministro, a igualdade – virtude soberana de qualquer democracia, como aparece em Dworkin e, numa perspectiva mais clássica, no testemunho de Alexis de Tocqueville sobre a democracia americana – não seria uma princípio, mas sim um simples postulado! Na verdade, não sei se o próprio Prof. Ávila concorda com a tese apresentada no aludido voto. Não sei se ele nega(ria) densidade de princípio à presunção da inocência.
A afirmação de que a presunção de inocência seria uma regra (sic) e não um princípio é tão temerária que uniria dois autores completamente antagônicos, como são Robert Alexy e Ronald Dworkin, na mesma trincheira de combate. Ou seja, ambos se uniriam para destruir tal afirmação. Isso porque a grande novidade das teorias contemporâneas sobre os princípios jurídicos foi demonstrar que, mais do que simples fatores de colmatação das lacunas (como ocorria nas posturas metodológicas derivadas do privativismo novecentista), eles são, hoje, normas jurídicas vinculantes, presentes em todo momento no contexto de uma comunidade política. Tanto para Dworkin quanto para Alexy – que, certamente, são os autores que mais representativamente se debruçaram sobre o problema do conceito de princípio – existe uma diferença entre a regra (que, evidentemente, também é norma) e os princípios. Só para lembrar: cada um dos autores (Dworkin e Alexy) construirá sua posição sob pressupostos metodológicos diferentes que os levarão, no mais das vezes, a identificar pontos distintos para realizar essa diferenciação. No caso de Alexy, sua distinção será estrutural, de natureza semântica; ao passo que Dworkin realiza uma distinção de natureza mais fenomenológica.
De todo modo, tanto as posições de Dworkin quanto as de Alexy concordam que um dos fatores a diferenciar os princípios das regras diz respeito ao fato de que sua não-incidência (ou aplicação) em um determinado caso concreto não exclui a possibilidade de sua aplicação em outro, cujo contexto fático-existêncial seja diferente daquele que originou seu afastamento. As regras, por outro lado, se afastadas de um caso, devem, necessariamente, ser afastadas de todos os outros futuros; exigência decorrente de um PRINCÍPIO, que é a igualdade de tratamento. Isso mesmo: a igualdade, que não é uma regra e, sim, um princípio).
Para Dworkin, os princípios representam uma comunidade, vale dizer: uma comunidade política se articula a partir de um conjunto coerente de princípios que justifica e legitima sua ação política. Por isso o direito pós-bélico (Losano) – o que surge depois da Segunda Guerra - é um novo paradigma. Só não entende isso quem deseja retornar ao século XIX, ao tempo do “império das regras”; aliás, ao tempo do positivismo primitivo-exegético-sintático.
Ora, os princípios possuem uma “dimensão de peso” (como aparece em Levando os Direitos a Sério), o que significa dizer que, em determinados casos, um princípio terá uma incidência mais forte do que noutro (ou noutros). Isso não impede que, num outro caso com circunstâncias distintas de aplicação, aquele princípio – afastado anteriormente – volte com maior força, dependendo da construção que se faz, com base na reconstrução da cadeia da integridade do direito. É o que tenho chamado de DNA do direito.
Além de Dworkin, Alexy ressalta essa peculiaridade dos princípios (sequer mencionarei Habermas, radical no sentido de que os princípios são normas, sendo, portanto, deontológicos). Para Alexy, tão citado e tão pouco lido (e menos ainda compreendido) e adepto da distinção semântico-estrutural entre regras e princípios, os princípios valem prima facie de forma ampla (mandados de otimização). Circunstâncias concretas podem fazer com que seu âmbito de aplicação seja restringido. Os princípios – que, em algumas passagens da sua Teoria dos Direitos Fundamentais, Alexy equipara com os próprios direitos fundamentais – encontram-se em rota de colisão, e os critérios de proporcionalidade derivados da ponderação resolvem essa aparente contradição, fazendo com que, em um caso específico, um deles prevaleça. Lembre-se o resultado da ponderação dos princípios colidentes é uma regra que Alexy chama de “norma de direito fundamental adscripta” (que, na prática cotidiana da aplicação do direito, ninguém faz). E lembre-se ainda que, nos termos da teoria alexyana, essa regra deve servir para resolver casos similares àquele que ensejaram a ponderação dos princípios colidentes. Aqui, uma pausa: será que algum juiz ou tribunal no Brasil já se preocupou em determinar a regra de direito fundamental adscripta quando opera com a ponderação? Será que qualquer um deles já aplicou tal regra a outros casos similares? A resposta é óbvia: não há um caso a retratar esse tipo de aplicação. A própria ponderação é uma ficção. É uma máscara para esconder a subjetividade do julgador.
De todo modo – para concluir o raciocínio anterior – é bom lembrar que até Alexy é explicito ao afirmar que os princípios, quando afastados da aplicação em um caso específico, podem voltar com densidade normativa forte em outros casos futuros. As regras a terem como modo de aplicação a subsunção, ou valem ou não valem: se excluídas de um caso DEVEM SER, necessariamente, EXCLUÍDAS de outros futuros.
Desse modo, fica clara a fragilidade do argumento exposto pelo caríssimo Min. Fux, a quem tomo a liberdade de indagar o seguinte, e a partir da breve exposição sobre o melhor da doutrina mundial a respeito de regras e princípios; doutrina recepcionada no Brasil por tantos juristas e tribunais: 1 - se a presunção de inocência é mesmo uma regra, como é possível dizer que ela pode ter sua aplicação restringida no caso de condenações confirmadas pelo Tribunal (e os casos de competência originária, seriam o quê?) e, ao mesmo tempo, valer para aqueles que foram condenados pelo juiz singular apenas? 2- se ela é uma regra, não deveria então também ser afastada nesses casos?
Note-se que o argumento é tão frágil que melhor ficaria se fosse dito que a presunção de inocência é (mesmo) um princípio: se justificada sua restrição no caso de condenações confirmadas pela segunda instância, conservar-se-ia intacta sua aplicação no âmbito do juiz singular! Todavia, nos termos em que foi formulado no voto, como pode uma regra valer num caso e não valer no outro? Haveria ponderação entre regras, como querem – de forma equivocada – alguns de nossos doutrinadores? Rebaixada à condição de regra, a presunção da inocência entraria em um “processo” de ponderação? E disso exsurgiria que tipo de resultado? Uma “regra da regra”?
Mais: afinal, se a ponderação é a forma de realização dos princípios e a subsunção é a forma de realização das regras (isso está em Alexy, com todos os problemas teoréticos que isso acarreta), falar em ponderação de regras não é acabar com a própria distinção entre regras e princípios tornando-os, novamente, indistintos? Parece-me que o imbróglio teórico gerado pelo voto do Ministro Fux bem representa um verdadeiro “leviatã hermenêutico”, isto é, uma guerra constante de todas as correntes de aplicação, estudos, e interpretação do Direito entre si, a gerar uma confusão sem precedentes, onde cada um aplica e interpreta como quer o Direito, desatentos ao fato de que todo problema de constitucionalidade é um problema de poder constituinte. No fundo, mais uma vez venceu o pragmati(ci)smo, derrotando a Teoria do Direito.
Ainda, numa palavra, várias perguntas: a) se a presunção de inocência não é um princípio, o devido processo legal também não o é? b) E a igualdade? Seria ela uma regra? c) Na medida em que o cada juiz deve obedecer a “regra” da coerência em seus julgamentos, isso quer dizer que, daqui para frente, nos julgamentos do Min. Fux, a “regra” (sic) da presunção da inocência pode, em um conflito com um princípio, ou até mesmo com uma regra, soçobrar? d) Uma outra regra pode vir a “derrubar” a presunção da inocência? E) E o que dirão os processualistas-penais de terrae brasilis, quando confrontados com essa “hipossuficientização” do princípio da presunção da inocência, conquista da democracia?
Finalizo repetindo que a questão a se discutir aqui não diz respeito ao mérito do julgamento do “caso Ficha Limpa”. Nem quero discutir as possibilidades de restrição ou não do direito fundamental à presunção de inocência. A questão é simbólica (lembremos de Cornelius Castoriadis). O que representa, no plano do futuro do direito em terrae brasilis, o exposto no voto do Ministro Luiz Fux? Quais são os efeitos simbólicos disso? Lembremos, aqui também, de Bourdieu, quando fala do poder de violência simbólica dos discursos.
Nada se deve objetar a que algumas teses sejam construídas de forma pragmati(ci)sta. Essas teses podem fazer sucesso no mundo jurídico. Mas não hão de subjugar décadas de discussões e avanços produzidos na Teoria do Direito. Talvez a maior conquista nesse (e desse) direito pós-Auschwitz tenha sido, efetivamente, a principiologia constitucional, pela qual ingressa o mundo prático no direito, com a institucionalização da moral no direito (não esqueçamos de Habermas). Por isso, não se pode vir a dizer que a presunção da inocência não seja um princípio. Por mais “valor” pragmático que isso possa vir a ter. O direito não sobrevive de pragmati(ci)smos. Direito não é um conjunto de casos isolados. Portanto, o “problema” não é a decisão de um determinado caso, mas, sim, como se decidirão os próximos. Definitivamente, não há grau zero de sentido!
Portanto, o problema é de ordem teórica: maus argumentos podem construir más decisões. E isso é algo que deve ser evitado. Quem sabe, prestigiemos mais a Teoria do Direito. Ou para que ela serve? Indago: por que existem tantos Programas de Pós-Graduação em Direito no Brasil? Existem mais de mil e quinhentas teses de doutorado – parcela delas pagas com bolsas custeadas pelo povo e orientadas por prestigiosos professores – sustentando que “princípios não são (ou não podem ser) regras”, ou trabalhando essa distinção entre regras e princípios (particularmente, nem concordo com a distinção semântico-estrutural entre regra e princípio, mas isso é assunto para outro momento; para mim, princípios são normas; são, sempre, deontológicos; portanto, não são mandados de otimização!). Deve haver mais de três mil teses de mestrado, feitas no Brasil e no exterior, sustentando o contrário do que diz o Ministro Fux. Aliás, registro, o Min. Fux é um prestigiado Professor Doutor, com brilhante tese defendida em renomada Universidade. Tudo parece conspirar a favor das teses que são contrárias às do Min. Fux.
Assim, senti-me na obrigação de registrar minha contrariedade ao voto de Sua Excelência e da doutrina por ele sufragada. Não tenho o “lugar da fala” de Luiz Fux; o que ele diz repercute em todo o Brasil em fração de segundos. Não tive a felicidade de ser indicado pelo Presidente da República ao digníssimo cargo de Ministro do Supremo Tribunal. Por outro lado, tenho muitos alunos e leitores, a não esperarem menos de mim do que agora faço. Defendendo a Academia. Defendendo a Constituição. Com todas as vênias. Sei que não estamos mais no Hotel Glória e nem James Tubenchlak está na platéia, vigilante, exigindo, com gestos e olhares, que sejamos aplaudidos de pé, como tantas vezes lá fomos ovacionados, mormente os “Meninos do Rio” (assim James anunciava, com extremo carinho que tinha por todos nós, o trio brilhante Fux-Capanema-Nagib, para, na sequência, anunciar Amilton-Lenio-Below ou outro palestrante que “fechava” este painel). Hoje, o “mercado” de palestrantes é tomado por jovens, que muito se assemelham a pastores pentecostais. Mas é pelos velhos tempos que procuro ser crítico. Temos que ser críticos. E dizer as coisas que precisam ser ditas. Aqui, da planície ao Planalto. Com respeito e carinho.
[1] http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/10.pdf
17 novembro 2011
Regra ou princípio
Ministro equivoca-se ao definir presunção da inocência
Por Lenio Luiz Streck
Exercer a crítica no direito é uma tarefa difícil. Principalmente em terrae brasilis. Por aqui, normalmente é magister dixti. Mormente se quem disse é Ministro de Corte Superior. Não conseguimos construir ainda uma cultura em que as decisões judiciais – em especial as do Supremo Tribunal Federal – sofram aquilo que venho denominando de “constrangimentos epistemológicos”. O que é “constrangimento epistemológico”? Trata-se de uma forma de, criticamente, colocarmos em xeque decisões que se mostram equivocadas, algo que já chamei, em outro momento, de “fator Julia Roberts”, em alusão à personagem por ela interpretada no filme Dossiê Pelicano, que, surpreendendo o seu Professor em Harvard, afirma que a Suprema Corte norte-americana errou no julgamento do famoso caso Bowers v. Hardwick. No fundo, é um modo de dizermos que a “doutrina deve voltar a doutrinar” e não se colocar, simplesmente, na condição de caudatária das decisões tribunalícias. Lembro da decisão do então Ministro Humberto Gomes de Barros (AgrReg em ERESP 279.889), do Superior Tribunal de Justiça, na qual ele dizia: “Não me importam o que pensam os doutrinadores”, importando, para ele, apenas o que dizem os Tribunais...! Imediatamente divulguei contundente artigo [1]dizendo a Sua Excelência que “importa, sim, o que a doutrina pensa”. Lançava, então, um repto à comunidade jurídica: a doutrina tem a função de doutrinar. Criticava, também, a cultura de repetição de decisões (ementários, etc) que se formou no Brasil.
Temos de construir as bases para um pensamento crítico que denuncie equívocos como o voto que abordarei na sequência, da lavra do Ministro Luiz Fux. A crítica que exporei não tem a pretensão de ser algo do tipo J’accuse, de Emile Zola, em que este fazia contundente manifesto contra a injustiça cometida contra o cap. Dreyfus. Posso, no máximo, estar indignado como Zola.
Por isso, permito-me trazer a lume o meu protesto contra o voto do Min. Luiz Fux, a quem nutro profundo respeito pessoal, no processo da Lei Ficha Limpa. Nosso Amigo – meu e do Ministro Luiz Fux – James Tubenschlak (de saudosa memória, que morreu prematuramente quando, com sua esposa Tânia, visitava o Rio Grande do Sul) nos uniu há muitos anos, no velho Instituto de Direito, o ID. Ele, Luiz Fux, já um jurista (então membro do Ministério Público) conhecido, e eu, iniciando minha trajetória. James nos prestigiava. E como! Era Amilton Bueno de Carvalho, Lenio Streck, Luiz Fux, Silvio Capanema, Nagib Slaibi, Alexandre Câmara, Afranio Silva Jardim, Juarez Cirino, Jacinto Coutinho, Caio Mário, João Mestieri, Barbosa Moreira, Yussef Cahaly, Calmon de Passos (quem mais arrancava aplausos de pé). Havia muitos outros. O Hotel Glória ficava repleto, tendo que colocar telões. Não havia ainda redes sociais. Nosso espaço era cavado com muito (mais) esforço do que se faz hoje.
Cada um seguiu sua trajetória. Fux foi guindado ao STJ e ao STF. E o que o Ministro Fux vem fazendo? Lançando belos votos, como outra coisa não se poderia esperar de um jurista talentoso. Entretanto, não estamos mais nos palcos do Hotel Glória. Não precisamos mais disputar as palmas daqueles milhares que lá iam. Hoje ele é um Ministro do Supremo Tribunal da República Federativa do Brasil. Duzentos milhões de habitantes. Fux não é mais palestrante. Relembro: é Ministro. Só tem onze na República. E cada um tem responsabilidade política. E que responsabilidade, em um país eivado de judicializações, que, diga-se, não ocorrem por culpa do STF; são, sim, contingenciais...! Cada decisão tem efeitos colaterais. De cada decisão, extrai-se um princípio. Outro dia o meu caríssimo Ministro concedeu Habeas Corpus, invocando algo que não consta no Código Penal: a teoria da actio libera in causa. Ou seja, tivesse o STF coerência nas decisões, portanto, respeitasse o STF a origem do direito fruto de suas decisões, teríamos, a partir de agora, algo inusitado: nunca mais se conseguirá acusar alguém por dolo eventual na hipótese em que o autor dirija embriagado e atropele (e mate). A tese do voto: somente se pode acusar alguém por dolo eventual se ficar demonstrado que o agente “se embriagou com o propósito de cometer um crime”. Prova, pois, diabólica. Impossível de se fazer. Aliás, nunca houve no mundo um processo julgado nesse sentido. A velha actio libera in causa não é um princípio. E tampouco é uma regra. Nem mais se estuda essa tese nas salas de aula. Porém, o Min. Fux proferiu um belo voto. Pergunto: e os efeitos colaterais dessa decisão?
Poderia falar de outros votos. Mas a minha crítica epistêmica é dirigida a um caso bem recente, a não passar desapercebido pela população. Trata-se do caso da “Lei Ficha Limpa” (ou “Ficha Suja”, como queiram). Neste caso, penso que o Ministro – permito-me dizer, com todas as vênias do mundo; afinal trata-se de um Ministro e no Brasil quase ninguém tem coragem para criticar decisões da Suprema Corte – equivocou-se. Tomo, pois, a coragem de “acusá-lo” epistemicamente.
Contextualizarei. De há muito, ocupo-me em minhas pesquisas da questão que envolve a determinação do conceito de princípio. Mais especificamente, minhas preocupações giram em torno do problema da decisão judicial e da existência ou não do chamado “poder discricionário dos juízes” no momento da solução dos chamados “casos difíceis” (em Verdade e Consenso, Saraiva, 4ª ed., demonstro a inadequação hermenêutica desse último conceito).
Na esteira da construção dessa busca pela determinação do conceito de princípio, deparei-me, mormente nos anos mais recentes, com situações inusitadas. Certamente, a mais pitoresca de todas é aquela que nomeei (em diversos textos, e especialmente, em Verdade e Consenso) de panprincipiologismo, uma espécie de patologia especialmente ligada às práticas jurídicas brasileiras e que leva a um uso desmedido de standards argumentativos que, no mais das vezes, são articulados para driblar aquilo que ficou regrado pela produção democrática do direito, no âmbito da legislação (constitucionalmente adequada). É como se ocorresse uma espécie de “hiperestesia” nos juristas que os levassem a descobrir por meio da sensibilidade (o senso de justiça, no mais das vezes, sempre é um álibi teórico da realização dos “valores” que subjazem o “Direito”), à melhor solução para os casos jurisdicionalizados.
Pois bem. No julgamento conjunto das ADCs 29 e 30 e da ADI 4578, o STF parece ter inaugurado uma forma nova desse fenômeno se manifestar. Com efeito, ao lado do uso inflacionado do conceito de princípio (por exemplo, o panprincipialismo é, corretamente, denunciado pelo Ministro Tóffoli em vários votos, inclusive fazendo alusão ao meu Verdade e Consenso, op.cit.), o voto que até o momento foi apresentado nesses julgamentos (Lei do “Ficha Limpa) produz uma espécie de retração que, mais do que representar uma contenção ao panprincipiologismo, manifesta-se como um subproduto deste mesmo fenômeno. Trata-se de uma espécie de “uso hipossuficiente” do conceito de princípio. Já não se sabe o que é mais grave: o panprincipialismo ou a hipossuficiência principiológica.
O que seria esse “uso hipossuficiente do conceito de princípio”? Explico: ao invés de nomear qualquer standard argumentativo ou qualquer enunciado performático de princípio, o Judiciário passa a negar densidade normativa de princípio àquilo que é, efetivamente, um princípio, verdadeiramente um princípio, anunciando-o como uma regra. Aliás, nega-se a qualidade de princípio àquilo que está nominado como princípio pela Constituição...!
O que ocorreu, afinal? O julgamento em tela trata da adequação da Lei Complementar 115/2010 (chamada lei da “Ficha Limpa”) à Constituição. Neste momento, não me preocupa tanto o mérito da ação, mas aquilo que é feito com a Teoria do Direito. Qual é a serventia da Teoria do Direito? Não se trata de uma questão cosmética. Pelo contrário, é da Teoria do Direito que se retiram as condições para construir bons argumentos e fundamentar adequadamente as decisões. Quero dizer: tem-se a discutir o que foi feito da Teoria do Direito dos últimos 50 anos, a tanto ocupar a questão do conceito de princípio e que, agora, no voto do Ministro Fux, parece não ter muita serventia. Veja-se as palavras do Ministro:
“A presunção de inocência consagrada no artigo 5º, LVII da Constituição deve ser reconhecida, segundo lição de Humberto Ávila, como uma regra, ou seja, como uma norma de previsão de conduta, em especial de proibir a imposição de penalidade ou de efeitos da condenação penal até que transitada em julgado decisão penal condenatória. Concessa venia, não se vislumbra a existência de um conteúdo principiológico no indigitado enunciado normativo”.
Não se vislumbra no enunciado normativo (presunção da inocência) um conteúdo principiológico? Concessa venia, Ministro Fux. A posição exarada por Vossa Excelência sugere claramente uma passagem ao largo de toda a discussão a travar-se no âmbito teórico para saber o que é, efetivamente, um princípio. E o faz com apelo a um argumento de autoridade, baseado numa concepção isolada, no contexto global da teoria do direito e da filosofia do direito, a qual não pode ser tida como dominante. Aliás, a vingar a tese do ilustre jurista citado pelo Ministro, a igualdade – virtude soberana de qualquer democracia, como aparece em Dworkin e, numa perspectiva mais clássica, no testemunho de Alexis de Tocqueville sobre a democracia americana – não seria uma princípio, mas sim um simples postulado! Na verdade, não sei se o próprio Prof. Ávila concorda com a tese apresentada no aludido voto. Não sei se ele nega(ria) densidade de princípio à presunção da inocência.
A afirmação de que a presunção de inocência seria uma regra (sic) e não um princípio é tão temerária que uniria dois autores completamente antagônicos, como são Robert Alexy e Ronald Dworkin, na mesma trincheira de combate. Ou seja, ambos se uniriam para destruir tal afirmação. Isso porque a grande novidade das teorias contemporâneas sobre os princípios jurídicos foi demonstrar que, mais do que simples fatores de colmatação das lacunas (como ocorria nas posturas metodológicas derivadas do privativismo novecentista), eles são, hoje, normas jurídicas vinculantes, presentes em todo momento no contexto de uma comunidade política. Tanto para Dworkin quanto para Alexy – que, certamente, são os autores que mais representativamente se debruçaram sobre o problema do conceito de princípio – existe uma diferença entre a regra (que, evidentemente, também é norma) e os princípios. Só para lembrar: cada um dos autores (Dworkin e Alexy) construirá sua posição sob pressupostos metodológicos diferentes que os levarão, no mais das vezes, a identificar pontos distintos para realizar essa diferenciação. No caso de Alexy, sua distinção será estrutural, de natureza semântica; ao passo que Dworkin realiza uma distinção de natureza mais fenomenológica.
De todo modo, tanto as posições de Dworkin quanto as de Alexy concordam que um dos fatores a diferenciar os princípios das regras diz respeito ao fato de que sua não-incidência (ou aplicação) em um determinado caso concreto não exclui a possibilidade de sua aplicação em outro, cujo contexto fático-existêncial seja diferente daquele que originou seu afastamento. As regras, por outro lado, se afastadas de um caso, devem, necessariamente, ser afastadas de todos os outros futuros; exigência decorrente de um PRINCÍPIO, que é a igualdade de tratamento. Isso mesmo: a igualdade, que não é uma regra e, sim, um princípio).
Para Dworkin, os princípios representam uma comunidade, vale dizer: uma comunidade política se articula a partir de um conjunto coerente de princípios que justifica e legitima sua ação política. Por isso o direito pós-bélico (Losano) – o que surge depois da Segunda Guerra - é um novo paradigma. Só não entende isso quem deseja retornar ao século XIX, ao tempo do “império das regras”; aliás, ao tempo do positivismo primitivo-exegético-sintático.
Ora, os princípios possuem uma “dimensão de peso” (como aparece em Levando os Direitos a Sério), o que significa dizer que, em determinados casos, um princípio terá uma incidência mais forte do que noutro (ou noutros). Isso não impede que, num outro caso com circunstâncias distintas de aplicação, aquele princípio – afastado anteriormente – volte com maior força, dependendo da construção que se faz, com base na reconstrução da cadeia da integridade do direito. É o que tenho chamado de DNA do direito.
Além de Dworkin, Alexy ressalta essa peculiaridade dos princípios (sequer mencionarei Habermas, radical no sentido de que os princípios são normas, sendo, portanto, deontológicos). Para Alexy, tão citado e tão pouco lido (e menos ainda compreendido) e adepto da distinção semântico-estrutural entre regras e princípios, os princípios valem prima facie de forma ampla (mandados de otimização). Circunstâncias concretas podem fazer com que seu âmbito de aplicação seja restringido. Os princípios – que, em algumas passagens da sua Teoria dos Direitos Fundamentais, Alexy equipara com os próprios direitos fundamentais – encontram-se em rota de colisão, e os critérios de proporcionalidade derivados da ponderação resolvem essa aparente contradição, fazendo com que, em um caso específico, um deles prevaleça. Lembre-se o resultado da ponderação dos princípios colidentes é uma regra que Alexy chama de “norma de direito fundamental adscripta” (que, na prática cotidiana da aplicação do direito, ninguém faz). E lembre-se ainda que, nos termos da teoria alexyana, essa regra deve servir para resolver casos similares àquele que ensejaram a ponderação dos princípios colidentes. Aqui, uma pausa: será que algum juiz ou tribunal no Brasil já se preocupou em determinar a regra de direito fundamental adscripta quando opera com a ponderação? Será que qualquer um deles já aplicou tal regra a outros casos similares? A resposta é óbvia: não há um caso a retratar esse tipo de aplicação. A própria ponderação é uma ficção. É uma máscara para esconder a subjetividade do julgador.
De todo modo – para concluir o raciocínio anterior – é bom lembrar que até Alexy é explicito ao afirmar que os princípios, quando afastados da aplicação em um caso específico, podem voltar com densidade normativa forte em outros casos futuros. As regras a terem como modo de aplicação a subsunção, ou valem ou não valem: se excluídas de um caso DEVEM SER, necessariamente, EXCLUÍDAS de outros futuros.
Desse modo, fica clara a fragilidade do argumento exposto pelo caríssimo Min. Fux, a quem tomo a liberdade de indagar o seguinte, e a partir da breve exposição sobre o melhor da doutrina mundial a respeito de regras e princípios; doutrina recepcionada no Brasil por tantos juristas e tribunais: 1 - se a presunção de inocência é mesmo uma regra, como é possível dizer que ela pode ter sua aplicação restringida no caso de condenações confirmadas pelo Tribunal (e os casos de competência originária, seriam o quê?) e, ao mesmo tempo, valer para aqueles que foram condenados pelo juiz singular apenas? 2- se ela é uma regra, não deveria então também ser afastada nesses casos?
Note-se que o argumento é tão frágil que melhor ficaria se fosse dito que a presunção de inocência é (mesmo) um princípio: se justificada sua restrição no caso de condenações confirmadas pela segunda instância, conservar-se-ia intacta sua aplicação no âmbito do juiz singular! Todavia, nos termos em que foi formulado no voto, como pode uma regra valer num caso e não valer no outro? Haveria ponderação entre regras, como querem – de forma equivocada – alguns de nossos doutrinadores? Rebaixada à condição de regra, a presunção da inocência entraria em um “processo” de ponderação? E disso exsurgiria que tipo de resultado? Uma “regra da regra”?
Mais: afinal, se a ponderação é a forma de realização dos princípios e a subsunção é a forma de realização das regras (isso está em Alexy, com todos os problemas teoréticos que isso acarreta), falar em ponderação de regras não é acabar com a própria distinção entre regras e princípios tornando-os, novamente, indistintos? Parece-me que o imbróglio teórico gerado pelo voto do Ministro Fux bem representa um verdadeiro “leviatã hermenêutico”, isto é, uma guerra constante de todas as correntes de aplicação, estudos, e interpretação do Direito entre si, a gerar uma confusão sem precedentes, onde cada um aplica e interpreta como quer o Direito, desatentos ao fato de que todo problema de constitucionalidade é um problema de poder constituinte. No fundo, mais uma vez venceu o pragmati(ci)smo, derrotando a Teoria do Direito.
Ainda, numa palavra, várias perguntas: a) se a presunção de inocência não é um princípio, o devido processo legal também não o é? b) E a igualdade? Seria ela uma regra? c) Na medida em que o cada juiz deve obedecer a “regra” da coerência em seus julgamentos, isso quer dizer que, daqui para frente, nos julgamentos do Min. Fux, a “regra” (sic) da presunção da inocência pode, em um conflito com um princípio, ou até mesmo com uma regra, soçobrar? d) Uma outra regra pode vir a “derrubar” a presunção da inocência? E) E o que dirão os processualistas-penais de terrae brasilis, quando confrontados com essa “hipossuficientização” do princípio da presunção da inocência, conquista da democracia?
Finalizo repetindo que a questão a se discutir aqui não diz respeito ao mérito do julgamento do “caso Ficha Limpa”. Nem quero discutir as possibilidades de restrição ou não do direito fundamental à presunção de inocência. A questão é simbólica (lembremos de Cornelius Castoriadis). O que representa, no plano do futuro do direito em terrae brasilis, o exposto no voto do Ministro Luiz Fux? Quais são os efeitos simbólicos disso? Lembremos, aqui também, de Bourdieu, quando fala do poder de violência simbólica dos discursos.
Nada se deve objetar a que algumas teses sejam construídas de forma pragmati(ci)sta. Essas teses podem fazer sucesso no mundo jurídico. Mas não hão de subjugar décadas de discussões e avanços produzidos na Teoria do Direito. Talvez a maior conquista nesse (e desse) direito pós-Auschwitz tenha sido, efetivamente, a principiologia constitucional, pela qual ingressa o mundo prático no direito, com a institucionalização da moral no direito (não esqueçamos de Habermas). Por isso, não se pode vir a dizer que a presunção da inocência não seja um princípio. Por mais “valor” pragmático que isso possa vir a ter. O direito não sobrevive de pragmati(ci)smos. Direito não é um conjunto de casos isolados. Portanto, o “problema” não é a decisão de um determinado caso, mas, sim, como se decidirão os próximos. Definitivamente, não há grau zero de sentido!
Portanto, o problema é de ordem teórica: maus argumentos podem construir más decisões. E isso é algo que deve ser evitado. Quem sabe, prestigiemos mais a Teoria do Direito. Ou para que ela serve? Indago: por que existem tantos Programas de Pós-Graduação em Direito no Brasil? Existem mais de mil e quinhentas teses de doutorado – parcela delas pagas com bolsas custeadas pelo povo e orientadas por prestigiosos professores – sustentando que “princípios não são (ou não podem ser) regras”, ou trabalhando essa distinção entre regras e princípios (particularmente, nem concordo com a distinção semântico-estrutural entre regra e princípio, mas isso é assunto para outro momento; para mim, princípios são normas; são, sempre, deontológicos; portanto, não são mandados de otimização!). Deve haver mais de três mil teses de mestrado, feitas no Brasil e no exterior, sustentando o contrário do que diz o Ministro Fux. Aliás, registro, o Min. Fux é um prestigiado Professor Doutor, com brilhante tese defendida em renomada Universidade. Tudo parece conspirar a favor das teses que são contrárias às do Min. Fux.
Assim, senti-me na obrigação de registrar minha contrariedade ao voto de Sua Excelência e da doutrina por ele sufragada. Não tenho o “lugar da fala” de Luiz Fux; o que ele diz repercute em todo o Brasil em fração de segundos. Não tive a felicidade de ser indicado pelo Presidente da República ao digníssimo cargo de Ministro do Supremo Tribunal. Por outro lado, tenho muitos alunos e leitores, a não esperarem menos de mim do que agora faço. Defendendo a Academia. Defendendo a Constituição. Com todas as vênias. Sei que não estamos mais no Hotel Glória e nem James Tubenchlak está na platéia, vigilante, exigindo, com gestos e olhares, que sejamos aplaudidos de pé, como tantas vezes lá fomos ovacionados, mormente os “Meninos do Rio” (assim James anunciava, com extremo carinho que tinha por todos nós, o trio brilhante Fux-Capanema-Nagib, para, na sequência, anunciar Amilton-Lenio-Below ou outro palestrante que “fechava” este painel). Hoje, o “mercado” de palestrantes é tomado por jovens, que muito se assemelham a pastores pentecostais. Mas é pelos velhos tempos que procuro ser crítico. Temos que ser críticos. E dizer as coisas que precisam ser ditas. Aqui, da planície ao Planalto. Com respeito e carinho.
[1] http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/10.pdf
23/11/2011
O Direito e a Política na USP – e fora dela – depois da irracionalidade.
Jorge Luiz Souto Maior[1]
O prédio da Reitoria da USP foi desocupado! E agora?
Para a desocupação foram utilizados 400 homens, dois helicópteros, cavalaria e diversas viaturas. Um gasto considerável ainda mais para um Estado, como o de São Paulo, que deve cerca de R$20 bilhões em precatórios intermináveis, sendo que dos quais R$15 bilhões referem-se a precatórios alimentares, decorrentes de créditos trabalhistas e previdenciários.
Após a expulsão de cerca de 70 (setenta) estudantes, sendo 25 (vinte e cinco) mulheres, restou a efetividade da posse mansa e tranqüila do prédio da Reitoria por parte da Administração da Universidade.
Foi só isso e acabou?
Nada disso. O fato representa muito mais e cumpre, por exercício da razão, trazer essas análises à tona.
É evidente que a utilização de todo aquele aparato de poder não se destinou apenas ao efeito da mera desocupação, ou mesmo a eliminar de vez, ou ao menos inibir, a prática do uso da maconha na Universidade. A grandiosidade da operação, atendendo, de certo modo, a reclamos advindos de uma comoção social, proporcionada pela ingerência de parte da grande mídia, que também não mediu esforços e custos para difundir a idéia de que o prédio estava invadido (e não ocupado) por “maconheiros”, autênticos marginais, moleques sem limites, mimados etc, gerando uma onda assustadora de irracionalidades generalizantes, demonstra que se pretendia muito mais do que o efeito formal atingido.
Aliás, a própria grandiosidade da manifestação inicial dos estudantes, diante da prisão de três alunos, demonstra, claramente, que havia muito mais em jogo. Estava instalada no local uma forte tensão fruto da falência das vias institucionais para conduzir reivindicações, que fora alimentada pela política de tolerância zero frente aos movimentos estudantis e trabalhistas e que se intensificou com a chegada da Polícia Militar no campus. Sob o mote de aumentar a segurança, a PM, que segue ordens superiores, acabou servindo para incriminar cinco servidores que se envolveram em movimento reivindicatório de natureza sindical e para a realização de sucessivas revistas em alunos, sobretudo daqueles que pudessem possuir orientação política contestatória, como se dá com alunos da FFLCH. Esse conflito latente é o que explica a reação dos alunos, que, por certo, não se mobilizariam do nada, para a defesa de algo que nunca esteve em pauta nos debates estudantis na USP, a liberalização do uso da maconha.
O ponto a destacar neste texto, no entanto, que busca compreender a razão do vulto da operação realizada por ocasião da desocupação do prédio da Reitoria, é outro. Trata-se da dimensão da relação entre o direito e a política, entendida esta como o conjunto de ações que buscam a construção dos valores para o convívio social e aquele como a normatização, com conteúdo obrigacional, dos valores politicamente construídos.
A questão é que embora apoiada em suposta pretensão de natureza jurídica, o ato da Administração da USP, de propor a ação de reintegração de posse, não decorreu da extrema necessidade de resgatar a legalidade, tratou-se, desde o início, de uma forma de judicialização da política, para, com a obtenção da liminar da Justiça, furtar-se ao diálogo para o qual fora chamada pela ação dos estudantes, tanto que se negava a avançar nas negociações políticas, precariamente instauradas, fixando a condição da desocupação, já determinada judicialmente.
Além do mais, a ação policial que se seguiu não se prestou ao estrito cumprimento da ordem judicial, obviamente. Foi muito além disso e seguiu a linha do propósito inicial, qual seja, a da orientação política por parte do poder instituído no sentido de evitar contraposições de ideias.
Ora, não é concebível acreditar que na autorização judicial do uso da força policial para a reintegração de posse estivesse embutida uma permissão para a operação que fora feita, o que a torna ilegítima mesmo na perspectiva do respeito à decisão judicial. E, ainda que estivesse assim amparada, o que se duvida, o fato é que o feito foi muito além do determinado, que seria, meramente, a desocupação do prédio.
No ato policial de terça-feira, dia 8/11, justificado por alguns a partir do princípio da legalidade, foram cometidas diversas ilegalidades muito mais graves, aliás, do que o aludido esbulho possessório. Vários foram os direitos fundamentais desrespeitados. Estudantes, ainda que considerados “invasores” poderiam, no máximo, ser vistos como praticantes de um ilícito civil e jamais terem sua condição humana negada. Mas, não. Após serem ameaçados com armamento pesado, foram conduzidos, arbitrariamente, às Delegacias, onde se viram obrigados a prestar depoimentos a respeito, inclusive, de sua orientação política, para o necessário prosseguimento do caráter da ação, qual seja, a realização futura de uma perseguição política.
Vários estudantes foram mantidos pela Polícia Militar em cárcere privado no prédio do CRUSP.
Muitos estudantes, ainda, foram indiciados por dano ao patrimônio público, mesmo que não se tenha qualquer autoria comprovada do alegado ilícito. E uma Delegada declarou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo: “todos são culpados”. Mas, quais são “todos”? Os que entraram lá nos diversos dias ou os que estavam dormindo lá no dia da desocupação? Não há crime sem lei que o defina e não há crime sem autoria determinada. É o que diz a lei. Mas, afinal, para quê respeitar a lei se o propósito é punir politicamente os estudantes, servindo a lei apenas como pretexto para tanto, não é mesmo?
A força desproporcional utilizada – e esta desproporcionalidade é um fato que ninguém pode negar – pôs-se, assim, com o objetivo de impor o silêncio, de criar medos, de impedir futuras mobilizações políticas adversas, de construir padrões de conduta disciplinados para a não-contestação, de reforçar o império da tolerância zero, deixando claro que o debate político será sempre judicializado para a concreta criminalização daqueles que apresentem ideias contrárias ao comando central, como, aliás, vinha sendo realizado há algum tempo, sendo este um recado necessário para levar adiante, sem resistências, o propósito, já anunciado, de priorizar, no âmbito das políticas de atuação da Universidade, um ensino voltado a atender as expectativas de mercado.
A operação policial, portanto, longe de ter sido feita para cumprimento de uma decisão judicial, prestou-se a aprofundar a política anti-democrática que estava instaurada no âmbito da Universidade no sentido da eliminação das atitudes de contestação, reivindicação e fiscalização feitas por parte dos estudantes e do sindicato dos trabalhadores em face das políticas privatizantes do ensino, anunciadas pela atual Direção da Universidade, e da forma como vem tratando as questões trabalhistas, com aprofundamento do processo de terceirização.
O Judiciário, aliás, precisa começar a perceber que muitos segmentos da sociedade, que ostentam parcela do poder institucionalizado, estatal ou econômico, estão se valendo de uma pretensa defesa da legalidade, que lhes vale uma utilização desvirtuada de mecanismos processuais com o objetivo de fazer calar os seus interlocutores e, assim, frustrarem o diálogo.
Essa percepção, aliás, já chegou de forma recorrente ao Judiciário trabalhista no que se refere aos interditos proibitórios em caso de piquetes de greves e está atingindo o Judiciário Civil, conforme verificado no processo nº 114.01.2011.011948-2, UNICAMP x DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES / DCE – UNICAMP com trâmite na 1ª. Vara da Fazenda Pública de Campinas). Em caso semelhante ao do que ora se trata, o juiz Mauro Iuji Fukumoto, assim se pronunciou: “...de fato, ocupação de prédios públicos é, tradicionalmente, uma forma de protesto político, especialmente para o movimento estudantil, caracterizando-se, pois, como decorrência do direito à livre manifestação do pensamento (artigo 5º, IV, da Constituição Federal) e do direito à reunião e associação (incisos XVI e XVII do artigo 5º). Não se trata propriamente da figura do esbulho do Código Civil, pois não visa à futura aquisição da propriedade, ou à obtenção de qualquer outro proveito econômico. A situação em tela não se amolda à proteção possessória prevista nos artigos 920 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente aos critérios dos artigos 927 e 928 para a concessão da liminar. Inegável, por outro lado, que toda ocupação causa algum transtorno ao serviço público – se assim não fosse, pouca utilidade teria como forma de pressão. Há que se ponderar, dentro de um critério de razoabilidade, a importância do serviço público descontinuado pela ocupação, de um lado, e o resguardo dos direitos constitucionais supra mencionados, de outro.” Referindo-se, ainda, para o indeferimento da liminar requerida, à ausência de prejuízo para a sociedade em geral pela descontinuidade dos serviços realizados pela Administração da Universidade, o que, no caso da USP sequer ocorreu pois os serviços da Reitoria estavam sendo realizados em prédio diverso.
O fato é que uma decisão judicial pode, concretamente, interferir no embate político, sendo, assim, ela própria, a decisão, uma manifestação com conteúdo político, até por ser, concretamente, um ato de escolha. Explica-se. Se o Direito é o conjunto normativo, com força obrigacional, que rege a vida em sociedade, decorrendo da ação política desenvolvida dialeticamente no percurso histórico, e sabendo-se que muitas vezes o transpasse do político para o direito se faz sem a necessária síntese, mas por meio da incorporação de contradições não superadas, o ato de interpretar e aplicar o conjunto normativo ao caso concreto, pois não há uma norma única que solucione, por si, os conflitos sociais, acaba sendo um exercício de escolha, que pressupõe não apenas o conhecimento do conjunto normativo, mas a necessária valoração do fato, compreendido a partir dos fenômenos históricos da construção da racionalidade humana.
Esta avaliação, no entanto, não é completamente livre, pois há um método, um direcionamento principiológico que norteia a análise. A ciência do Direito não está na estipulação de sua organização, na sua consideração como ordenamento ou como sistema, e sim na fixação de um método pelo qual a partir do Direito se possa efetuar uma análise crítica da realidade e estimular práticas emancipatórias da condição humana.
Na linha de favorecer o desenvolvimento de uma racionalidade jurídica de cunho verdadeiramente social, a Declaração Universal de 1948 vincula o uso da razão, que é a conquista maior do homem moderno, ao ato de agir, concretamente, com espírito de fraternidade com relação aos outros (art. 1º.). Além disso, proclama a obrigação do Estado na efetivação dos direitos e a necessidade de se atingir o progresso social e de alcançar a melhoria das condições de vida, garantindo-se a liberdade de opinião e de expressão (art. 19), assim como a liberdade de reunião e associação pacíficas (art. 20), para o efeito de buscar a efetivação dos direitos consagrados.
O pretexto do respeito à legalidade estrita, especialmente, para proteger uma propriedade, que nunca esteve, de fato, ameaçada, não pode impor, portanto, sacrifícios a direitos fundamentais, nos quais se inclui a ação de natureza política, ainda mais quando o meio utilizado para o resgate da posse seja ofensivo ao direito à vida. Lembre-se que em nome da lei já se praticaram os mais variados males à condição humana.
Na perspectiva da ponderação, critério essencial de aplicação do Direito no modelo em que princípios se integram ao conceito de normas jurídicas, é necessário sempre ver os atos a partir de seu maior conteúdo, avaliando a finalidade, o resultado, a motivação, o efeito lesivo e o sentido ético do comportamento. Uma manifestação política, como foi a dos estudantes, não pretendeu, em nenhum momento, como se sabe, afrontar a autoridade constitucional, nem defender qualquer interesse que fosse desprestigiado pela ordem jurídica. Uma ação política reivindicatória, como foi, visa, exatamente, conferir eficácia concreta ao preceito democrático, ainda que com sacrifício parcial e provisório de outros valores.
No aspecto teórico do tema pertinente ao dano ao patrimônio público, se é que houve, pois os estudantes não o reconhecem, não se pode deixar de considerar os valores envolvidos. Não fosse assim, todos aqueles que picharam muros reivindicando as “Diretas Já” teriam que ser presos e pagar pelo prejuízo material causado e a ditadura ainda estaria por aí. E seria o caso, também, de levar à prisão, fichar e processar, os ardorosos torcedores brasileiros que pintam as ruas durante os jogos da Copa do Mundo de futebol.
De todo modo, concordando-se, ou não, com o método adotado (e, pessoalmente, nunca concordei, como bem sabem os estudantes), ou mesmo rechaçando, no mérito, as suas demandas, o ato por eles cometido não se insere, de modo algum, na esfera do ilícito penal por se tratar de um ato, evidentemente, político, como, ademais, fora a própria reação contrária da Reitoria.
Além disso, se a defesa da posse pode ser legal, nada justifica que a satisfação dessa legalidade conduza à supressão de vários outros direitos, sobretudo daqueles, considerados pela ordem jurídica, nacional e internacional, como fundamentais, como o direito à vida, à integridade moral, à liberdade de expressão etc., até porque se é a política que constrói o direito, o direito, uma vez construído, não pode se constituir em obstáculo à evolução da racionalidade humana proporcionada pela ação política, até porque a democracia está abarcada no próprio direito como preceito constitucional fundante.
O princípio de que ninguém está acima da lei, ademais, serve para que o poder não se ponha sobre a lei em atos opressores da expressão político-democrática, pois como também consignado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, cumpre ao Estado de Direito respeitar o exercício da ação política de natureza reivindicatória, “para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão”.
A demonstrar, ainda, a natureza política da conduta adotada no evento da USP, que se apresentou, gravemente, como repressora das aspirações democráticas, é o fato, sabido por todos, de que a defesa da legalidade não é o guia condutor de boa parte de sociedade, incluindo as instituições envolvidas.
A mídia tem deixado claro o descalabro da corrupção que assola o país (um fato, aliás, que não vem de hoje), situação esta, aliás, que decorre da ilegalidade – no sentido mais amplo de contrariedade aos preceitos constitucionais – de “convênios” do Estado com ONGs. Mas, nenhuma força policial foi mobilizada, com batalhões e helicópteros, sobre a Esplanada dos Ministérios para resgatar o dinheiro público desviado e efetuar a prisão dos culpados. E, é claro, que muito mais grave do que a ocupação da Reitoria da USP é o furto do dinheiro público. Mas, é provável que se a população ocupasse um daqueles prédios para exigir a imediata devolução do dinheiro público, que faz falta para construções de hospitais e escolas, fosse reprimida por decisão judicial de reintegração de posse, criminalizada e presa. Então, todo mundo fica indignado, mas não luta. E, assim, o crime compensa.
Não se viu, também, força policial alguma na USP para fazer valer os direitos dos trabalhadores terceirizados, que foram “furtados” em suas verbas rescisórias de natureza alimentar. Ninguém sabe. Ninguém viu. E esses trabalhadores estão, até hoje, enfrentando a via crucis de processos judiciais intermináveis, para conseguirem, ainda sem sucesso, a satisfação de seus direitos...
Não se verificou, igualmente, mesma eficiência e idêntica comoção social a respeito da trágica situação de 270 (duzentos e setenta) servidores aposentados da USP que, no final de 2010, foram dispensados do emprego por comunicação virtual, embora estivessem prestando serviços relevantes à Universidade há vários e longos anos.
Há incontáveis casos de desrespeito reiterado, reincidente, da legislação trabalhista, que se pratica, sobretudo, pelas próprias instituições estatais (o Estado, nas suas mais variadas formas de Administração, é um dos maiores acionados em toda estrutura judiciária brasileira) e não há, como fácil perceber, uma reação social organizada e indignada contra isso e mesmo forças do próprio poder direcionadas para assegurar a efetividade plena dos direitos sociais.
A exploração do trabalho infantil, em profusão, não é novidade para ninguém, e as formas de correção desse crime contra a humanidade, quando se põem, são amenas e ineficazes. Os casos de exploração do trabalho em condições análogas às de escravos se repetem ao ponto de se conhecerem escravagistas reincidentes e ninguém nunca foi preso por esse crime ou pagou indenizações vultosas pelo seu cometimento. A empresa Zara, que se utilizava do trabalho de pessoas em condições análogas às de escravo, não foi punida. Não houve ação policial exemplar nas lojas da Zara para apreender os produtos do crime. Muito ao contrário, boa parte da população continua mantendo cheias as lojas da referida empresa.
Nas usinas de Jirau e Santo Antônio, no Estado de Rondônia, enquanto 80.000 trabalhadores eram agredidos em seus direitos humanos, sobretudo por adoção da prática da terceirização, o poder estatal não apareceu por lá, mas diante do ato de revolta praticados pelos trabalhadores logo o governo federal se fez presente, enviando ao local 600 homens da Força Nacional de Segurança e policiais federais, tendo havido, segundo o meio sindical, vôos rasantes de aviões e helicópteros sobre os canteiros de obras para intimidar os trabalhadores, invasões de soldados nos acampamentos durante a madrugada, seguidas de agressões aos trabalhadores, tendo havido até disparos de armas de fogo, resultando na prisão de mais de 33 trabalhadores na hidrelétrica de Jirau e mais de 80 na de São Domingos (http://www.ligaoperaria.org.br/1/?p=737).
Não é alvo, ainda, de reações indignadas, o sucateamento das instituições públicas (postos de saúde, hospitais, escolas e creches), para o favorecimento da mercantilização desses serviços, que são ligados, no entanto, a direitos fundamentais, constituindo, portanto, responsabilidades essenciais do Estado, numa concepção de Direito Social. Some-se a isso a ausência de políticas públicas de emprego, que conduz à falta de oportunidades para milhares de jovens, que se vêem conduzidos à delinqüência ou às drogas.
O fato, portanto, é que o “caso USP” envolveu questões muito mais intrigadas que o mero resgate da legalidade. As estruturas de poder do Estado e da Universidade valeram-se de aparente pretensão judicial para suprimir a liberdade de expressão, para aniquilar a democracia, para coibir práticas políticas reivindicatórias futuras, numa perspectiva tal que acabou indo muito além dos limites físicos da Universidade.
Não se pode esquecer que o mundo vive, no momento presente, uma onda de manifestações populares: nos Estados Unidos (em New York, Washington, Chicago e Wisconsin), na Europa (Roma, Berlim, Paris, Bruxelas, Madri, Londres e Atenas), no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão.
Em Madison, no Estado de Wisconsin, EUA, a sede do governo, o Capitólio, foi ocupada, em março deste ano. Após movimento popular espontâneo, sem deliberação prévia, em assembléia, por óbvio, milhares de pessoas ocuparam o local durante 17 dias, para reivindicar a retirada de um projeto de lei que pretendia reduzir impostos, visando a instalação de empresas no Estado, ao ponto de eliminar o superávit, e que buscava diminuir o poder dos sindicatos do setor público, de modo a praticamente eliminá-los.
No evento, segundo Erik Olin Wright e João Alexandre Peschanski[2], “os manifestantes organizaram uma área aberta para pessoas virem e expressarem topo tipo de reivindicação ou revolta que quisessem, indo de análises de conjuntura sofisticadas aos desafios do dia-a-dia da vida compartilhada no Capitólio”. Informam, ainda, que “A ‘abertura’ do Capitólio significou que qualquer um podia entrar no edifício e dormir lá dentro. Estudantes, pessoas em situação de rua, professores, bombeiros, militantes do movimento ecológico e outras pessoas compartilharam o espaço, construindo um sentido único de comunidade”, tendo os ocupantes criado o “seu próprio coletivo de segurança”, buscando resolver questões com a Polícia e cuidando para que “o prédio estivesse na medida do possível limpo”. A comunidade em geral chegava a enviar comida para os ocupantes, pois ao longo dos dias as reivindicações se ampliaram e o tema da democracia tornou-se importante, reconhecendo-se que “o que estava em jogo no conflito não eram apenas os direitos dos trabalhadores nos sindicatos, mas o vigor dos processos democráticos”, além do incentivo a uma efetiva postura de solidariedade. Dentre as atividades, também lúdicas, que se desenvolveram no local, os participantes cantavam músicas como “Solidarity Foverer”, de Pete Seeger, para recobrar as inúmeras lutas operárias travadas naquele país. O evento, que terminou com uma desocupação negociada, sem violência, mobilizou um protesto, ainda em março, de mais de 100 mil pessoas em frente ao Capitólio, que “barrou”, temporariamente, a publicação da lei e repercutiu em outras mobilizações em Ohio, Michigan, Indiana e Maine...
É evidente, portanto, que se tinha pleno conhecimento do caráter político do movimento que se iniciara na ocupação da Reitoria da USP e da sua potencialidade mobilizadora. Tinham, por óbvio, também essa noção os manifestantes. Não era, e nunca foi, um problema apenas de legalidade e de retomada da posse de um prédio invadido. A atenção dada pela mídia ao fato, igualmente, atesta essa relevância, para induzir que as forças repressivas considerassem a necessidade de uma forte e rápida ação. A operação realizada serviu, assim, ao propósito de amedrontar os movimentos sociais, valendo-se até mesmo do permissivo que lhe fora concedido pela opinião pública e da fragilidade do poder de resistência dos estudantes. Explica-se, assim, também, o fato de que após realizada a desocupação, helicópteros ficaram sobrevoando a cidade de São Paulo por algum tempo.
Resta clara, pois, a natureza política da ação feita na USP, o que deve fazer toda a sociedade refletir sobre os possíveis efeitos a que todos estão submetidos pela repressão que se anuncia às formas políticas de manifestação da liberdade de expressão. Em certo sentido, o método utilizado para a desocupação do prédio teve a função de fazer uma ocupação em todas as mentes.
Na perspectiva da relação entre o direito e a política, o que se deve perceber é a inaptidão do direito, visto na perspectiva liberal que prioriza a proteção da propriedade, para a solução de problemas estritamente políticos que envolvem reivindicações sociais e o equívoco da opção da Reitoria em judicializar o debate. A decisão judicial determinou a desocupação do prédio. O prédio está desocupado. Mas, os problemas que geraram o conflito não apenas ainda estão presentes, como se intensificaram.
O que se viu na seqüência foi a realização de uma assembléia com cerca de 3.000 estudantes, que se uniram em torno das causas defendidas pelos alunos da ocupação e que deliberaram pela deflagração de uma greve geral, ainda que sob o requisito de ser aprovada em assembléias em cada unidade. Além disso, os professores da Universidade, em assembléia, deliberam apoiar os alunos em suas reivindicações, que trazem, no centro das preocupações, a necessidade de democratização da USP, repudiando os atos arbitrários de perseguição políticas que vem se perpetrando no local nos últimos anos. Em nota, a Associação dos Professores da USP pronuncia: “Assim, conclamamos todas as entidades, associações de trabalhadores, organizações de direitos humanos e aqueles que defendem as liberdades democráticas, ameaçadas pela escalada repressiva implantada pela Reitoria, a se manifestarem contra as medidas aqui denunciadas, que tolhem o direito de livre organização e expressão.”
Na própria mídia, as manifestações de mero repúdio cederam lugar a análises mais responsáveis e críticas. Depois das irracionalidades produzidas, apresenta-se o momento da razão, para que se possa fazer a leitura mais ampla de todo o contexto da situação vivenciada na USP, deixando-se para traz as visões simplistas e até preconceituosas que tentam limitar o alcance do episódio à vontade de uns poucos alunos “mimados” de obterem o privilégio de fumar maconha, na universidade, sem serem incomodados pela polícia.
Como concluíram Mauro Paulino e Alessandro Janoni[3], “A manifestação recente de estudantes da USP não é a brincadeira de criança que se tenta desenhar. Não se restringe ao debate sobre legalização das drogas ou estratégias de segurança pública. É um sintoma sério de crise de democracia”, vez que “as instituições tradicionais de representação do modelo hegemônico de democracia se distanciam da população, em especial dos jovens”, sendo que se é assim no “berço da classe média paulistana”, que é a USP, quanto mais o será, e de forma ainda mais preocupante, para o segmento alocado “nas franjas da cidade”.
A realização, na última quinta-feira, de uma manifestação conjunta, organizada por estudantes, professores e servidores, com a presença de 5.000 pessoas em passeata pelo centro de São Paulo, que culminou um com ato na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, onde 2.000 estudantes de pertencentes a praticamente todas as unidades da Universidade deliberaram pela continuidade da greve, também deixa claro a amplitude do problema a que se refere e que há, ainda, muitas lições a extrair da presente situação, para o devido aprimoramento de nossas estruturas democráticas.
É preciso, portanto, tentar compreender os dilemas dos jovens e dos trabalhadores no atual estágio de desenvolvimento da sociedade e a dificuldade que possuem de conduzir suas reivindicações, sobretudo quando se trata de exprimir críticas mais contundentes ao modelo de sociedade, o que, gostem alguns, ou não, democraticamente, deve-se ter o direito de expressar.
A radicalização do ato cometido pelos estudantes é fruto dessa falência e acabou sendo o meio capaz para pôr à mostra a radicalização repressiva, contrária ao diálogo, que está instaurada no seio da Universidade, refletindo, de certo modo, um sentimento intransigente de parte da sociedade em face dos movimentos sociais.
A ira generalizada e preconceituosa que tombou sobre os estudantes foi, evidentemente, desproporcional e só se explica diante do contexto político apresentado, que estava velado, no entanto. E, afinal, para quê tanto ódio? Esses jovens, ademais, quebraram o estigma de uma juventude alienada, para lutar pelos seus interesses e não devem ser alvos de repúdio preconceituoso ou represália política, ainda que venha institucionalizada por vias processuais. Seu exemplo, ao contrário, deve constituir um alimento para vencermos os nossos medos e limites determinados pelas confortáveis posições que ocupamos na esfera social, a fim de que, dentro do princípio que norteia toda a ordem jurídica, o da solidariedade, compreendamos a essencialidade dos movimentos sociais, que só seriam despropositados ou inoportunos se nossa sociedade estivesse na plenitude da justiça social, mas, por certo, como é fácil perceber, não está.
E, de todo modo, o debate apenas iniciou. Todo o ocorrido foi apenas o estopim para eventos mais importantes como difundir uma comoção pública de contrariedade ao desrespeito reiterado, praticado pelo próprio Estado e por alguns segmentos econômicos, aos direitos sociais e discutir os destinos da universidade pública, no sentido de constituir o ambiente apto a incentivar práticas democráticas e a produzir saber não apenas tecnológico, mas também crítico e propositivo, voltado, sobretudo, à melhoria da condição de vida dos diversos segmentos excluídos da população e dos economicamente menos favorecidos.
Cumpre lembrar, a propósito, que se para alguns a manutenção das coisas como estão pode interessar, há incontáveis pessoas por aí, como diria Chico Buarque, que estão lutando contra a existência e cuja dor não sai no jornal.
Agora, passados esses duros momentos advindos da irracionalidade, é hora de avançar nos debates, mantendo-se firme na defesa do direito de manifestação, para que os efeitos de toda essa grave situação não sejam destruidores de nossas possibilidades democráticas. Só isso nos permitirá continuar escrevendo uma trajetória da qual possamos nos orgulhar. Do contrário, para uma parcela considerável da nossa sociedade a história assim restará escrita:
“Acossados pelos conquistadores espanhóis, depois de trezentos anos de luta, os araucanos se retiraram até àquelas regiões frias. Mas os chilenos continuaram o que se chamou “pacificação da Araucaína”, isto é, a continuação de uma guerra a sangue e fogo para desapossar nossos compatriotas de suas terras. Contra os índios todas as armas foram usadas com generosidade: disparos de carabina, incêndio de suas choças, e depois, de forma mais paternal, empregou-se a lei e o álcool. O advogado se tornou especialista também na espoliação de seus campos, o juiz os condenou quando protestaram, o sacerdote os ameaçou com o fogo eterno.” (Pablo Neruda, Confesso que Vivi).
São Paulo, 16 de novembro de 2011.
[1]. Professor livre-docente da Faculdade de Direito da USP.
[2]. Os protestos de Wisconsin. In Revista Lutas Sociais. Vol. 25-26 (dez. 2010/ jun. 2011), do NEILS – Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais, ligado ao Programa de Estudos de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC/SP.
[3]. Conflito na universidade é sintoma de crise democrática. Jornal Folha de S. Paulo, ed. de 13/11/11, p. C-3.
Assinar:
Comentários (Atom)